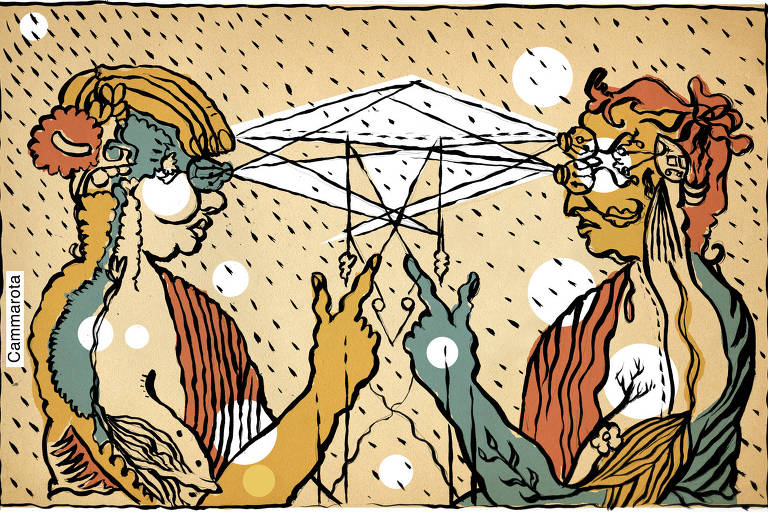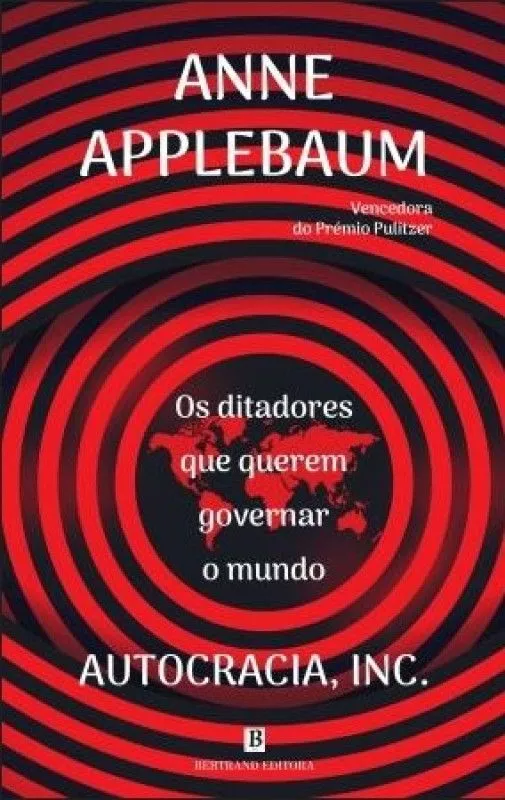A entrevista é de Alice Schwarzer, publicada por ctxt, 26-09-2024.

Entre 1972 e 1982, a jornalista e feminista alemã Alice Schwarzer dialogou com Simone de Beauvoir, mantendo uma amizade com a filósofa até sua morte. Esta entrevista foi realizada em 1982 (quando Beauvoir tinha 74 anos) e faz parte do livro Conversas com Simone de Beauvoir, editado por Triscatela.
Eis a entrevista.
Após A cerimônia do adeus, você está preparando a publicação das cartas de Sartre. Vamos falar sobre a relação entre vocês, uma relação que, há várias gerações, constituiu e talvez continue constituindo, o modelo de relação sentimental que respeita a liberdade de cada pessoa. Mais de dois anos após a morte de Sartre, que outras coisas nos dirá essa correspondência? Sobre ele, sobre vocês?
Que era uma relação muito ternura e, ao mesmo tempo, muito alegre. Também cheia de confiança, tanto intelectual quanto emocionalmente. Penso, por exemplo, nas cartas que me escreveu Sartre durante a guerra. Quando estava prisioneiro (por sorte, esteve em boas condições – inclusive tinha um escritório) escreveu um prefácio a A idade da razão; eu o apreciava muito e, no entanto, após minha crítica, ele simplesmente rasgou. Em resumo, essas cartas mostram a influência que tive sobre ele como crítica, o que, além disso, era recíproco. A inspiração era, para ambos, algo pessoal. Mas depois, na fase de elaboração, cada um de nós era extremamente receptivo às críticas do outro. Ele também tinha muita confiança em mim em relação à sua vida amorosa: me contava tudo, até os detalhes...
Isso não o machucava?
Não. Porque tínhamos uma confiança total. Cada um sabia que, acontecesse o que acontecesse, o outro era a pessoa mais importante de sua vida.
Você nunca duvidou disso?
Sim. Uma vez. Escrevi em minhas Memórias. Por um momento duvidei, porque não conhecia a outra... Foi Dolores – a chamo de M. em minhas Memórias – entre 44 e 45, na América. A época da grande depressão no pós-guerra. Falava dela com tanto afeto e estima que me perguntei por um momento: ela não estará mais perto dele do que eu? Perguntei a ele e ele respondeu: "É contigo que estou!"
Essa posição privilegiada nunca foi questionada um pelo outro?
Não, nunca. Talvez porque Sartre era muito orgulhoso, pensava que nenhum homem seria um rival sério para ele...
Quando se lê A cerimônia do adeus, percebe-se que a Sartre não lhe importava muito o ato sexual. Eu supus, portanto, que sua relação nunca se baseou principalmente na sexualidade. É uma opção? Eliminou, ao menos, os ciúmes físicos? E a dolorosa reorientação uma vez que a atração sexual se extingue?
Talvez... É necessário acrescentar que também não havia ciúmes intelectuais: éramos orgulhosos demais, um e outro, para temer outros concorrentes. E, de fato, o ato sexual em si não interessava especialmente a Sartre, mas ele gostava de carícias. Para mim, o sexo com Sartre importou muito nos dois ou três primeiros anos – com ele descobri a sexualidade – mas depois perdeu importância, na medida em que, para Sartre, também não a tinha. Embora continuássemos mantendo relações sexuais por muito tempo, quinze ou vinte anos, não era o essencial.
Penso que o essencial era a relação intelectual entre vocês. Frequentemente se referem a você como "a grande sartreana", a "primeira discípula de Sartre": o que você opina sobre essa interpretação?
Penso que é falso. Arquifalso! É verdade que em filosofia ele era um criador e eu não, mas há muitos homens que também não o são! Eu reconhecia sua superioridade nesse campo. Assim, no que diz respeito à filosofia, eu era efetivamente discípula de Sartre, uma vez que me aderi ao existencialismo. Discutimos muito sobre O ser e o nada: me opus a algumas de suas ideias, e às vezes isso fez com que ele mudasse um pouco o rumo.
Por exemplo?
Em uma primeira versão de O ser e o nada, ele falava da liberdade como se fosse quase total para todos. Ou, pelo menos, que sempre era possível exercer a liberdade. Eu, ao contrário, insistia que há situações em que a liberdade não pode ser exercida ou é apenas uma mistificação. Ele me deu razão, e por isso passou a dar muito mais importância à situação em que se encontra o ser humano.
Isso foi entre 1941 e 1942, antes de seu encontro com o marxismo...?
Sim.
E o que você fazia naquela época?
Não dependia de Sartre, na medida em que escrevia meus próprios livros, minhas próprias novelas. Apostei na literatura. Mesmo O segundo sexo, que tem um fundo filosófico – o existencialismo sartreano – é uma criação total: reflete minha visão da mulher. É assim que eu a vivia.
Como se consegue mesmo com alguém como Sartre – intelectual e humanamente muito atraente – não cair na armadilha de querer ser "sua" esposa? Uma criatura relativa que se contentava em estar ao seu lado? Quais foram os fatores determinantes para que você levasse uma vida autônoma?
A marca que deixaram os primeiros anos da minha vida. Sempre quis ter uma profissão. Queria escrever muito antes de conhecer Sartre. E eu tinha sonhos – não fantasias: sonhos, desejos, até voluptuosos – bem definidos, muito antes de conhecê-lo. Portanto, para ser feliz, eu tinha que realizar minha vida. E a realização, para mim, chegou antes de tudo através do trabalho.
E qual foi a atitude de Sartre?
Ele foi o primeiro a me estimular. Depois de passar nos exames – havia trabalhado muito – queria relaxar um pouco, desfrutar da felicidade, do amor de Sartre... Foi ele quem me disse: "Mas, veja, Castor, por que você não reflete mais? Por que não trabalha mais? Queria escrever! Não quer se tornar uma dona de casa, certo?". Insistiu muito que eu deveria conservar minha autonomia. Especialmente através da obra literária.
Se não a tivesse conhecido, provavelmente Sartre teria acabado em uma estrutura matrimonial muito convencional...
Sartre casado? Ele teria se entediado preso, isso é certo. É verdade que teria sido muito fácil enganá-lo. A má consciência... Mas rapidamente se desfazia dela.
E no seu caso, a má consciência, você conheceu esse sentimento de culpa tão espalhado entre as mulheres?
Não, nunca tive má consciência nesse sentido. De vez em quando sentia remorsos, quando rompia amizades brutalmente. Sobre isso nunca estive muito orgulhosa. Mas, em geral, tenho uma boa consciência – às vezes é quase inconsciência, creio.
Em geral, me parece que você é alguém que não pensa muito em si mesma.
É verdade. Não aplico demais minhas análises à minha própria pessoa. É um processo que me é estranho.
Jean Genet disse uma vez, ao falar de sua parceira, que você era o homem e Sartre a mulher. O que queria dizer com isso?
Queria dizer que, em sua opinião, Sartre tinha uma sensibilidade mais rica que a minha, uma sensibilidade que poderia ser qualificada de "feminina", enquanto eu tinha, segundo ele, modos mais bruscos. Mas essa reflexão de Genet também tem muito a ver com sua própria relação com as mulheres: ele não gosta muito...
Mas em parte é verdade que você tem um lado "arisco", você mesma o reconhece. E essa energia, essa agudeza intelectual, essas expressões gélidas quando não gosta de alguém ou de algo... É uma pessoa muito radical.
Sim, é verdade.
Conheço muitos casos em que uma mulher que se arroga o direito de mostrar sua inteligência, sua firmeza de caráter, é penalizada. A reação de seu entorno é: "Você é comparável a um homem? Então não é desejável como mulher!". Você já experimentou isso?
Não.
Então, você nunca teve a tentação de compensar suas maneiras "masculinas" jogando de "mocinha"?
Oh, não, nunca! Eu trabalhava e além disso tinha Sartre. Se as coisas tinham que acontecer, aconteciam, mas eu não as perseguia. Quando, nos Estados Unidos, me apaixonei por Algren – a mudança de ares, além de seu encanto e todas as suas qualidades – não tive que fingir ser algo distinto do que sou. Ele também se apaixonou por mim.
Para você, o desejo sempre esteve ligado aos sentimentos?
Sim, acho que sim. Além disso, nunca desejei um homem que não me desejasse. Foi mais o desejo do outro que me atraiu.
Cautela...
Sim. Pode ser que tenha tido fantasias às vezes. Mas, na realidade, nenhum homem me tocou se não éramos já grandes amigos.
Nada de "sexualidade anônima"?, de desejo puramente físico, satisfeito com qualquer um?
Oh, não, isso jamais! Não tem nada a ver comigo. Talvez seja puritanismo, o resultado da minha educação, mas nunca, jamais me aconteceu. Nem mesmo nos períodos em que não tinha um amante, que não tinha nenhuma atividade sexual. Nunca me ocorreu ir buscar um homem.
É "feminina" essa reserva?
Não sei.
Quando fala de sua sexualidade, só fala de homens. Você nunca teve uma relação com uma mulher?
Não.
Mas poderia ter tido, por exemplo?
Sim, talvez. Não sou uma monogâmica no sentido que a sociedade ocidental lhe dá. Não me coloco, portanto, como um modelo de fidelidade, mas com a condição de que não se trate de um amor convencional. Não poderia ter um amor convencional: isso me repele.
Mas, em teoria, a homossexualidade lhe parece uma ideia aceitável? Mesmo para você?
Totalmente. Totalmente aceitável. As mulheres não devem estar condicionadas apenas pelo desejo dos homens. Principalmente porque, na minha opinião, todas as mulheres de hoje em dia são um pouco... um pouco homossexuais. Simplesmente porque as mulheres são mais desejáveis do que os homens.
Como assim?
Elas são mais bonitas, mais doces, a pele é mais agradável. Em geral, têm mais charme. É muito comum, em um casal normal, que a mulher seja mais atraente, até mesmo intelectualmente. Mais viva, mais atraente, mais divertida.
Isso não é um pouco sexista?
Não. Porque isso também se deve às diferentes condições dos sexos, às suas diferentes realidades. Os homens de hoje muitas vezes têm esse lado um tanto grotesco do qual Sartre também se queixava: essa maneira de se exibir desenvolvendo grandes teorias, essa falta de plasticidade, de sutileza.
Certo. Mas as mulheres também têm seus defeitos. E ultimamente até voltaram a se orgulhar deles. Na Alemanha – e também em outros lugares – estamos assistindo a um renascimento da 'feminidade'. A chamada 'nova feminidade' (que na verdade não é outra coisa senão a antiga) com um retorno ao estereótipo e ao 'papel feminino' tradicional: elogio da afetividade em vez da inteligência, a tranquilidade 'natural' em vez da vontade de luta, a mitificação da maternidade como um ato criativo em si mesmo, etc. Você escreveu em O segundo sexo: 'Uma mulher se faz, não nasce'. Como você reage a esse retorno de algumas mulheres a uma 'natureza feminina'?
Acho que isso é voltar a escravizar as mulheres! A maternidade continua sendo a melhor forma de fazê-lo. Não quero dizer que toda mulher que é mãe seja automaticamente uma escrava: pode haver condições de vida em que a maternidade não seja escravidão. Mas, em geral, hoje em dia, isso ainda é assim. Enquanto se considerar que a principal tarefa das mulheres é ter filhos, elas não se envolverão na política, na tecnologia... e não disputarão a supremacia dos homens. Reviver a mística da maternidade, o 'eterno feminino', é tentar retroceder a mulher ao seu antigo status.
E isso é muito conveniente em tempos de crise econômica mundial.
Exatamente. Como não podemos dizer às mulheres que é uma tarefa sagrada lavar panelas e frigideiras, dizemos: é uma tarefa sagrada criar um filho. Mas no mundo atual, criar os filhos não é diferente de lavar panelas: obriga a mulher a ficar em casa. É uma forma de fazê-la retornar à posição de um ser relativo, de segunda classe.
Então o feminismo falhou em parte?
Acho que, de fato, o feminismo, até agora, só chegou a um pequeno número de mulheres. Algumas ações chegaram a muitas, como, por exemplo, a luta pelo direito ao aborto, mas hoje em dia, o feminismo representa, aos olhos de muitas pessoas, uma certa ameaça, por causa do desemprego e por questionar os privilégios masculinos. Assim, revive-se o estereótipo que permanece vivo na profundidade da maioria das mulheres: elas continuam sendo, em sua maioria, mulheres-mulheres... Retorna-se a dar um certo valor ideológico à feminilidade, que é usada para tentar restabelecer a imagem – destruída pelo feminismo – da 'mulher normal', relegada, submissa, etc. Uma imagem que suscita muita nostalgia e que nos esforçamos em reviver.
Uma pergunta para a existencialista e a marxista: o que acontece com a liberdade das mulheres nas circunstâncias atuais? Onde podem atuar e quais são os limites com os quais inevitavelmente nos encontraremos? Qual é o caminho, a estratégia para sair do círculo infernal da 'feminidade'? Nós, feministas, cometemos erros?
É difícil dizer. Já é bom ter feito algo. E as circunstâncias não eram nada favoráveis... Mas é verdade que, muito no início do movimento, houve coisas que não eram muito boas. Por exemplo, a rejeição de algumas mulheres a tudo que provinha dos homens. O desejo de não fazer nada 'como os homens': a rejeição de se organizar, de trabalhar, de criar, de agir. Sempre pensei que devemos pegar as ferramentas das mãos dos homens e usá-las. Sei que as feministas estão muito divididas sobre o caminho a seguir. As mulheres devem ocupar cada vez mais postos, competindo com os homens? Isso implicaria, sem dúvida, adquirir alguns de seus defeitos, assim como suas qualidades. Ou deveria ser totalmente rejeitada essa via? No primeiro caso, conseguem mais poder. No segundo caso, se reduzem à impotência. Claro, se se trata de tomar o poder e exercê-lo da mesma maneira que os homens... não será assim que se mudará a sociedade. Na minha opinião, o verdadeiro projeto das feministas só pode ser mudar a sociedade e o lugar das mulheres nela.
Você mesma escolheu o primeiro caminho: escreveu e criou 'como um homem'. E, ao mesmo tempo, tentou mudar o mundo.
Sim, e essa dupla estratégia me parece o único caminho. Não é necessário recusar as chamadas qualidades masculinas! É preciso correr o risco de se misturar com o mundo dos homens, que é, em grande parte, o mundo puro. Claro, tomar esse caminho também implica o risco de trair outras mulheres, de trair o feminismo. Acredita-se que se escapou... Mas seguir o outro caminho implica o perigo de sufocar-se na 'feminidade'.
Em ambos os caminhos, muitas mulheres experimentaram rejeição e humilhação.
Eu tive a sorte de nunca ter sido humilhada. Não sofri por ser mulher. Embora – como escrevi no prefácio de O segundo sexo – me incomode muito ouvir: 'Você pensa assim porque é uma mulher'. Sempre respondo: 'Isso é ridículo; você pensa isso porque é um homem?'.
Sobre a literatura. Atualmente existe uma controvérsia entre as feministas: devemos fomentar a quantidade ou a qualidade? Ou seja, devemos ser tão rigorosas, tão críticas com as mulheres quanto somos com os homens? Ou devemos, ao contrário, nos alegrar simplesmente pelo fato de que escrevem?
Acho que é preciso saber dizer não. Mesmo para as mulheres. Não, isso não está certo! Escreva algo mais, tente melhorar! Seja mais exigente consigo mesma. Não basta ser mulher. Recebo muitos manuscritos de mulheres que escrevem na esperança de serem publicadas. Elas são donas de casa de quarenta ou cinquenta anos, sem profissão, os filhos saíram de casa, têm tempo... Muitas mulheres começam a escrever nesse momento. Normalmente, é uma história autobiográfica, quase sempre sobre uma infância infeliz. E acreditam que isso é interessante... Expressar as coisas por escrito pode ter uma função importante para a saúde mental, mas isso não significa que deva ser obrigatoriamente publicado. Não, acho que as mulheres têm que ser muito exigentes consigo mesmas.
A existência do movimento feminista mudou algo para você a nível pessoal?
Me tornou mais sensível aos detalhes, a esse sexismo cotidiano que passa quase despercebido porque parece tão 'normal'. Um grupo de feministas parisenses tem escrito há alguns anos para Les Temps modernes sobre esse 'sexismo cotidiano' que eu não havia percebido antes.
Antes de existir o Movimento, você dizia 'elas' ao falar das mulheres. Agora diz 'nós'.
Para mim, não significa 'nós as mulheres', mas 'nós as feministas'.
A palavra 'feminismo' se tornou uma moeda muito inflacionada. Por exemplo, na Alemanha ocidental, o poderoso movimento pacifista conta com um certo número de mulheres que se declaram feministas: como 'mães que querem salvar o mundo do amanhã para seus filhos', como 'mulheres, portadoras de vida', ou como 'mulheres, por natureza mais pacíficas que os homens'. Que seriam, portanto, destrutivas 'por natureza'...
Isso é absurdo! Absurdo, porque as mulheres têm que lutar pela paz como seres humanos e não como mulheres. Esse tipo de argumento não faz sentido: afinal, se as mulheres são mães, os homens também são pais. Além disso, as mulheres se apegaram até agora demais ao seu papel procriador, 'maternal': isso ainda é cair na mistificação do papel feminino. Isso não é o que deve ser promovido. As mulheres pacifistas, assim como os homens, podem dizer não ao sacrifício das gerações jovens, mas não porque sejam pessoalmente mulheres ou mães. Em resumo, deveriam abandonar totalmente essa parafernália. Mesmo se – e precisamente porque – são incentivadas a se unir aos movimentos pacifistas em nome de sua feminilidade ou maternidade. É simplesmente uma artimanha dos homens para devolvê-las a seus próprios úteros! Além disso, as mulheres com poder não se comportam de forma diferente dos homens. Podemos ver isso com Indira Gandhi, Golda Meir, a senhora Thatcher, etc. Elas não se transformam de repente em anjos da misericórdia e da paz.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, você e Sartre foram intelectuais comprometidos, militando apaixonadamente – através de seus escritos e atos – na proteção do meio ambiente, por mais justiça e liberdade no mundo. Depositaram certas esperanças na revolução, na URSS, na China, em Cuba... e experimentaram decepções. Os crimes cometidos em nome da França durante a guerra da Argélia a afetaram pessoalmente, como você descreve em suas Memórias. Você falou publicamente, e com muito valor, pela descolonização, e chorou noites inteiras por estar 'envergonhada de ser francesa'. E hoje? O que você pensa sobre a evolução política do mundo em geral e da França em particular? Você votou em Mitterrand?
Sim. Porque trouxe um pouco mais de justiça. Mais impostos para os ricos e melhores pensões para os pobres. Também do ponto de vista feminista houve alguns avanços. Yvette Roudy é uma ministra com orçamento. Ela concede muitos créditos às mulheres e especialmente às feministas que foram capazes de fundar centros de pesquisa ou revistas. Ela fez campanha a favor da contracepção e está trabalhando para que se aplique realmente a lei Veil sobre a interrupção voluntária da gravidez. Inclusive se fala que o aborto seja financiado pela Segurança Social. Quanto ao resto... sinceramente, também não esperava milagres. Ninguém espera, especialmente com a atual crise econômica... Este governo socialista precisa ser muito moderado e prudente, porque do contrário terá que enfrentar uma revolução. E isso não é o objetivo atual. Também não quero uma revolução violenta e sangrenta, pelo menos não por agora. O preço seria alto demais. Não se trata de mudar a ordem mundial de cima para baixo, simplesmente, na França, melhorar um pouco a sociedade como ela é.
Nesta entrevista falamos tanto sobre homens que, para terminar, gostaria de mencionar a mulher que esteve perto de você por quase dez anos e hoje, após a morte de Sartre, é sem dúvida a pessoa mais querida para você. Refiro-me a Sylvie Le Bon, de 39 anos, professora de filosofia na Universidade de Paris. São raras as grandes amizades entre mulheres...
Não tenho tanta certeza. Existem muitas amizades entre mulheres que duram, enquanto os amores passam... Em contrapartida, entre os homens, creio que as verdadeiras amizades são extremamente raras. As mulheres entre si dizem muitas coisas.
Fonte: https://www.ihu.unisinos.br/644150-nao-basta-ser-mulher-entrevista-com-simone-de-beauvoir