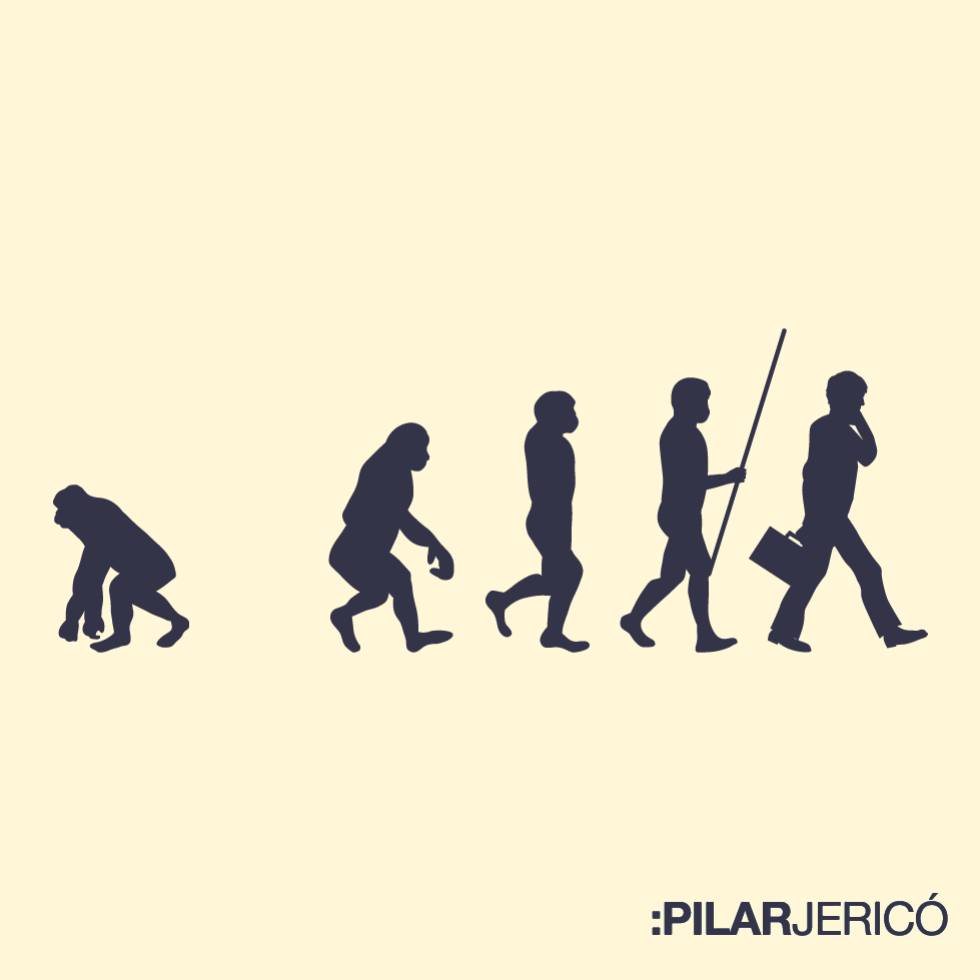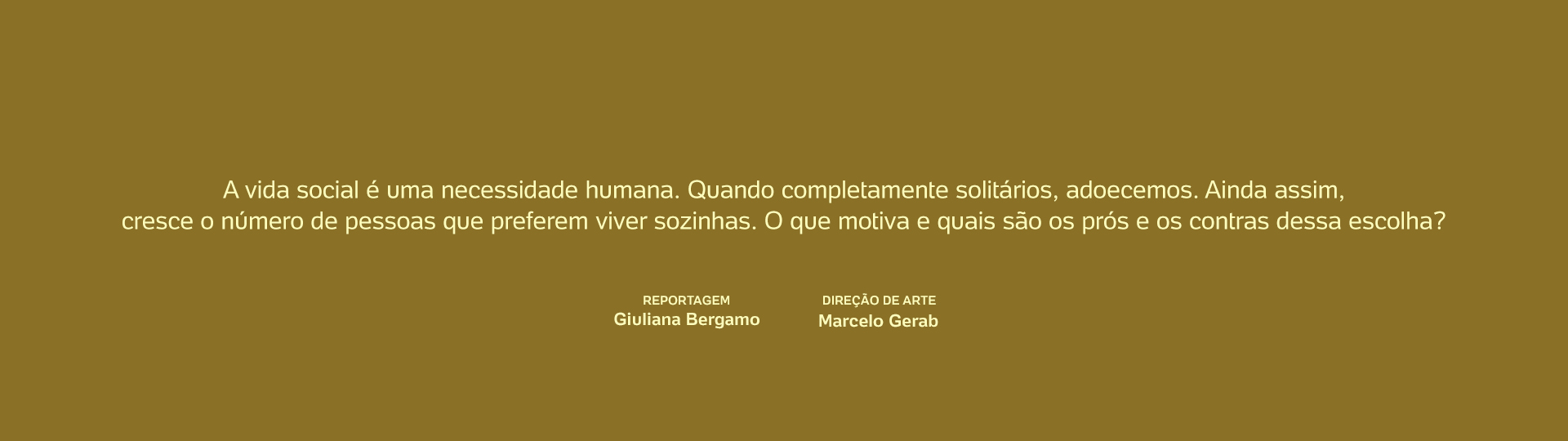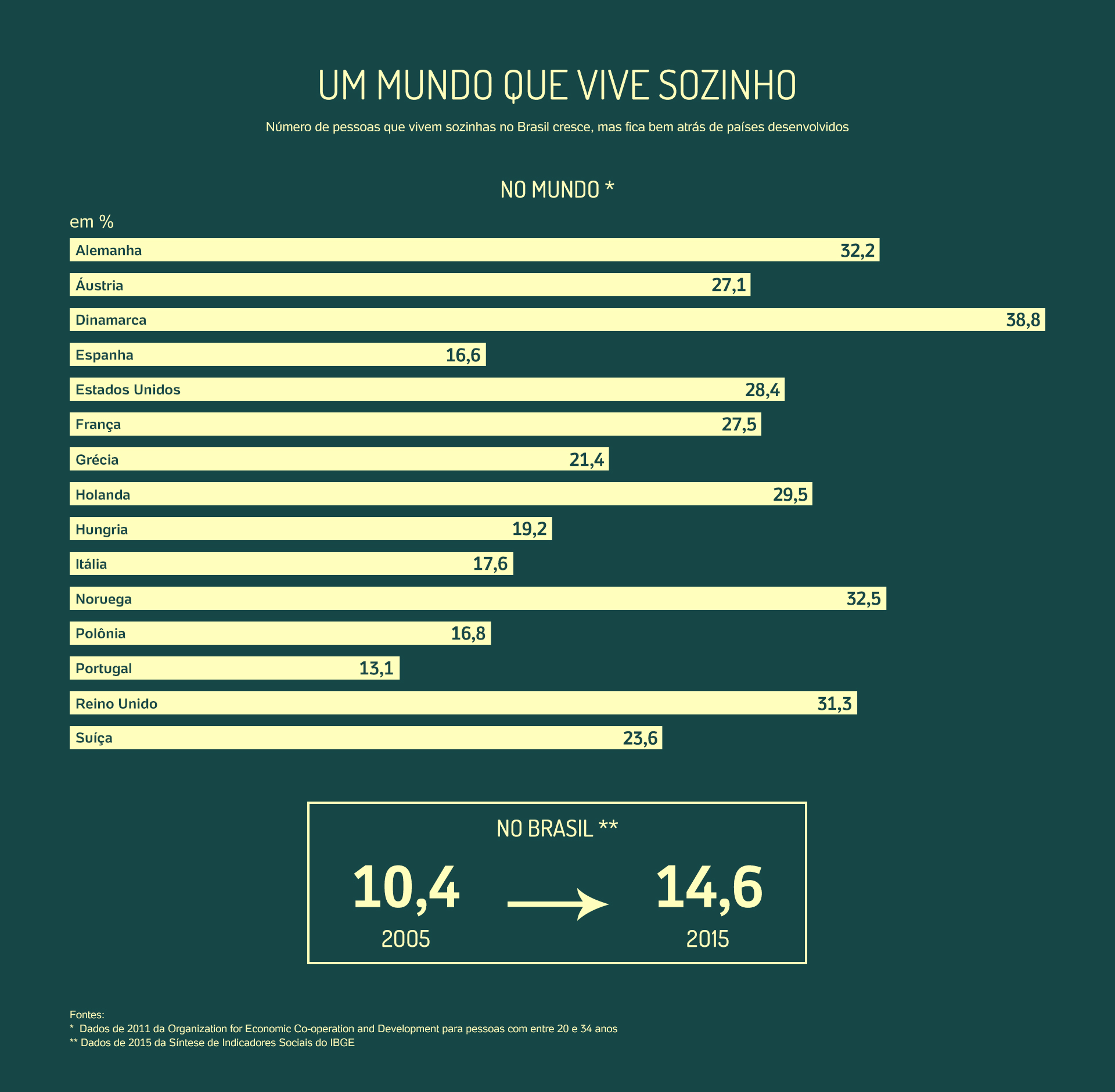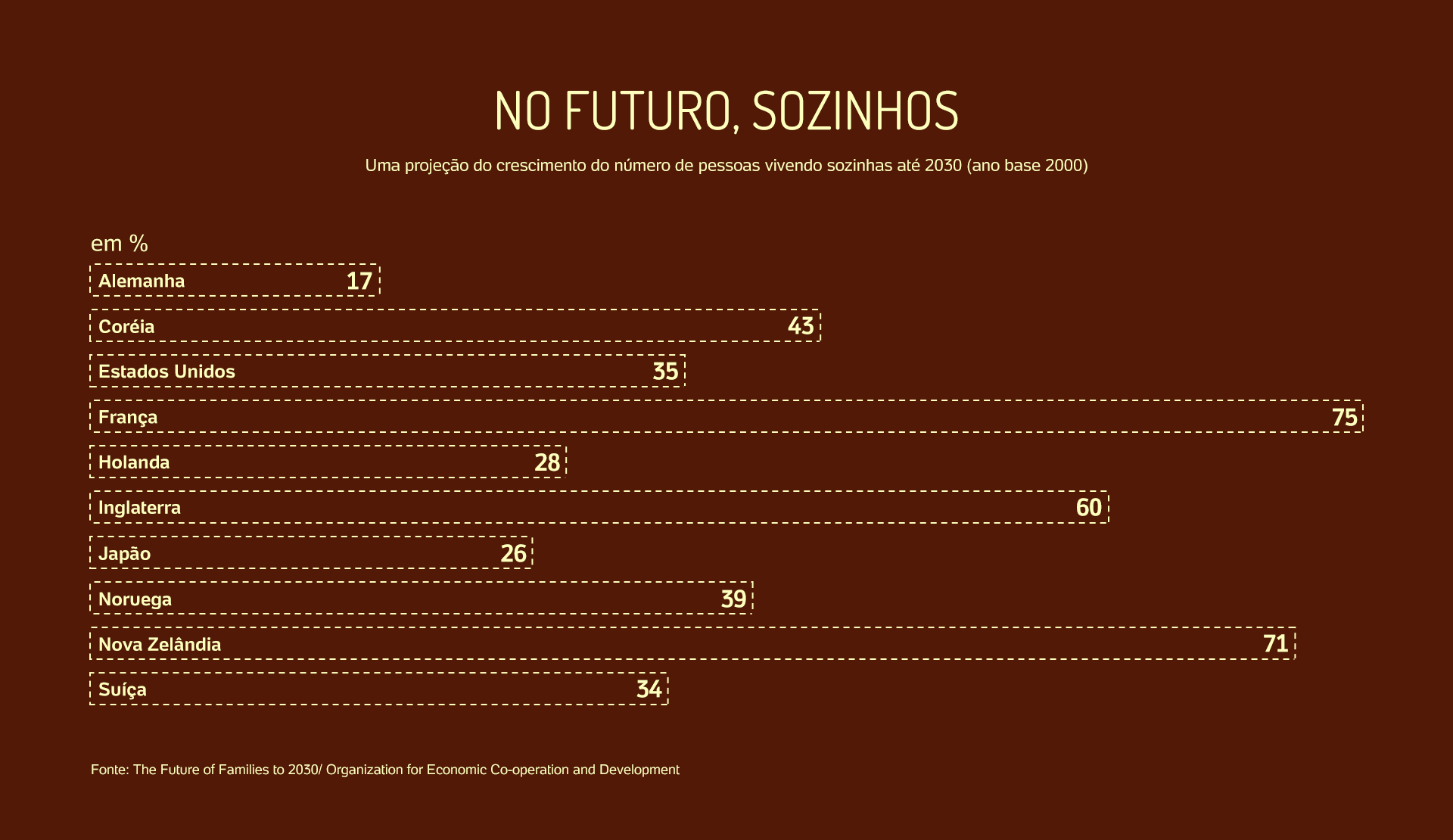Estado da Arte
22
Fevereiro 2019
por Pablo Makovsky*
Em 1999, antes de que a Argentina
retomasse os julgamentos dos crimes de lesa-humanidade cometidos pela
última ditadura civil-militar, e quando Hugo Chávez começava na
Venezuela, o crítico cultural brasileiro Idelber Avelar publicou Alegorias da Derrota,
um livro magistral que analisava os processos de representação da
memória ditatorial na democracia e postulava que as ditaduras que se
propagaram na América Latina durante os anos 1960 foram condicionantes
das atuais democracias, que por sua vez não questionaram o ordenamento
imposto a sangue e fogo e se apresentavam como mero arremedo do antigo
desejo de democracia radical.
Claro
que resumir tal livro dessa forma não lhe faz justiça, pois Avelar
explorava as diversas facetas de todo esse processo através das
representações presentes na literatura. Somente as páginas dedicadas ao boom
latino-americano dos anos 60, a reviravolta naturalista da literatura
de testemunho e a discussão em torno do realismo mereceriam artigos
exclusivos sobre conceitos ainda vigentes e vigorosos. O que Alegorias da Derrota (cujo subtítulo é A Ficção Pós-Ditatorial e o Trabalho do Luto)
delineia é essa passagem do Estado para o mercado, como será
exemplificado nesta conversa de maneira sintética: a percepção de que a
democracia liberal é a continuação do processo que começou com as
ditaduras de início dos anos 70 na América Latina, em uma análise que
manteve sua relevância: “a memória do mercado – ele escreve – pretende
pensar o passado em uma operação de substituição sem restos. Ou seja,
ela concebe o passado como um tempo vazio e homogêneo e o presente como
mera transição. A relação da memória do mercado com seu objeto tenderia a
ser, então, simbólico-totalizante”.
Recém chegado do Brasil a Nova
Orleans, cidade na qual é professor da Universidade Tulane, Avelar
disseca nesta entrevista o processo que levou Jair Bolsonaro ao poder em
seu país. Dimensiona o erro trágico de Lula ao alentar a candidatura de
Jair Bolsonaro na crença de que seu candidato, Fernando Haddad, o
derrotaria. Também traça uma linha de continuidade entre a campanha de Fake News
das eleições deste ano com as de 2014, que levaram Dilma Rousseff à
presidência através da demonização de Marina Silva; sustenta que o
processo de memória histórica e de julgamentos de responsabilidades
sobre a última ditadura argentina fazem que seja muito difícil que um
Bolsonaro ascenda no país e conclui que a atual derrota das esquerdas
compartilha o mesmo horizonte epocal dos anos 70.
Sobre o processo de direitização da região, como você consideraria uma atualização do seu livro Alegorias da Derrota?
Imagino que se tivéssemos que atualizar Alegorias da Derrota,
primeiramente teríamos que prestar atenção em alguns processos que são
especificamente nacionais e que ocorreram nos últimos 20 anos. Creio,
porém, que a hipótese básica do livro continua válida: as ditaduras e o
chamado processo de redemocratização não só não se opõem entre si, como
são parte do mesmo processo através do qual as classes dominantes
latino-americanas realizaram o que chamo de transição epocal, a
transição de um modo de acumulação fundamentalmente nacional para um
cenário onde não há travas substanciais para a inserção do país em um
modo de acumulação global. Mas também acredito que algumas diferenças
históricas nacionais deveriam ser enfatizadas e trabalhadas mais
detalhadamente. Refiro-me, sobretudo, aos processos de elaboração da
memória na Argentina e no Brasil, tão diferentes entre si. Acredito que
no caso argentino é incorreto falar em amnésia institucional. Trata-se
de um país que tem discutido seu destino nas últimas décadas
sistematicamente no terreno da memória. Isso fica claro na maneira em
que os governos kirchneristas se apropriaram de um discurso sobre a
memória e os direitos humanos e converteram-no em política de Estado.
Nada remotamente parecido ocorreu no Brasil, onde não julgamos sequer um
único ditador ou torturador. Não falo de condenações, de sentenças
condenatórias, mas da mera existência de um território jurídico em que a
memória de um país possa ser discutida e rearticulada na polis.
Esse déficit de memória, essa forma peculiarmente amnésica através da
qual se produzem os fatos políticos do Brasil, nos levou a uma
encruzilhada cujo emblema foi a eleição de Jair Bolsonaro, que é um
personagem político que me parece impensável na Argentina. É bem
possível que venha a existir uma direita dura e viável eleitoralmente na
Argentina, mas não me parece que o trabalho de negação da memória que
viabilizou Bolsonaro seja factível aí.
Jair Bolsonaro representa, segundo os analistas mais destacados,
uma ligação entre o Brasil ditatorial – que muitos, como o filósofo
Vladimir Safatle, não consideram relacionado à onda de ajustes
neoliberais – e um desmoronamento do discurso do “politicamente correto”
que se associou às democracias desde o fim das ditaduras nos anos 80. O
que Bolsonaro representa nesse contexto?
Primeiramente, o que mais chama
atenção é o quão antineoliberal Bolsonaro foi em seus tempos de
Deputado. O histórico de votação de Bolsonaro é notoriamente parecido
com o da esquerda desenvolvimentista em matéria econômica. Refiro-me ao
fato de que Bolsonaro já votou junto ao PT contra as medidas de
desregulamentação econômica, a favor de prerrogativas corporativas do
funcionalismo público, a favor das empresas estatais e em defesa de
aspectos vários disso que poderíamos chamar patrimonialismo do Estado
brasileiro. É um fenômeno notável e me parece que passa despercebido
fora do Brasil. Tem-se prestado muita atenção nos aspectos reacionário,
homofóbico, racista e quase fascista da candidatura de Bolsonaro, com
boas razões, mas ele surge como representante do que chamamos de “baixo
clero” no Brasil: os deputados de base que negociam a portas fechadas
sua adesão às propostas da maioria que esteja liderando o Congresso
naquele momento. A candidatura de Bolsonaro se apresenta como viável
somente quando consegue se desvincular desse histórico de votação — que
é, insisto, corporativista, pró-funcionalismo público, pró-empresas
estatais, desenvolvimentista e pró-Brasil Grande.
O que mais chama atenção é
o quão anti-neoliberal Bolsonaro foi em seus tempos de Deputado. O
histórico de votação de Bolsonaro é notoriamente parecido com o da
esquerda
Para legitimar sua candidatura e
rasurar esse histórico de votação, Bolsonaro convida Paulo Guedes, um
economista ultra-neoliberal, para deixar palatável sua candidatura ao
mercado financeiro. Essa operação teve êxito eleitoral e viabilizou-o,
mas ela ficou incompleta. Nas últimas semanas do primeiro turno, era
evidente o movimento de setores do mercado na busca de uma candidatura
viável que pudesse representar uma alternativa a Bolsonaro e ao lulismo.
Durante meses, o mercado buscou uma candidatura que fosse mais
confiável. Sua preferência era Geraldo Alckmin, do PSDB, o partido que
antagonizou o PT durante 20 anos como polo de centro-direita e que segue
sendo forte em São Paulo. No entanto, a candidatura de Alckmin não saía
de 5 a 8 por cento das intenções de voto. O mercado teria abraçado com
certa confiança a candidatura de Marina Silva, na medida em que ela era
progressista em alguns aspectos, mas também muito firme na defesa de
pilares macroeconômicos: o câmbio flutuante, o superávit primário e as
metas de inflação. Marina se convenceu da importância do tripé econômico
e teria sido uma candidatura viável para o mercado se tivesse ganhado
musculatura eleitoral. Nenhuma dessas candidaturas decolou, nem mesmo a
de Ciro Gomes, que é uma figura um pouco mais problemática para o
mercado, porque flerta com premissas nacionalistas, estatizantes ou
desenvolvimentistas, mas ainda assim seria uma figura mais confiável que
a de Bolsonaro, que acarreta certa instabilidade que o mercado vê com
muita desconfiança.
Todas essas alternativas foram
deslegitimadas eleitoralmente e o que presenciamos nas últimas semanas
foi um mercado que tentava se convencer a si mesmo de que Bolsonaro
havia feito uma conversão sincera ao neoliberalismo, sólida o suficiente
para que os agentes do mercado pudessem aceitá-lo. Esse abraço do
mercado a Bolsonaro não se dá sem certa desconfiança, precariedade e
incerteza, e depende da convocação de Paulo Guedes como “Posto Ipiranga”
que tem todas as respostas. É um exemplo notável de candidato que se
elege declarando-se ignorante em economia. No período pós-eleitoral já
se produziram tensões entre Bolsonaro e Guedes que explicam o porquê de
esse abraço do mercado a ele continuar precário, incerto e instável.
E como Bolsonaro foi eleito?
Nenhuma resposta acerca do que
Bolsonaro representa estaria completa sem mencionar a dinâmica
particular que permite que o bolsonarismo surja como força política, que
é sua relação antagônica com o lulismo. Não se pode enfatizar isso
suficientemente e é importante que isso seja compreendido fora do
Brasil. Ainda a poucos dias antes do primeiro turno estava claríssimo
que a única possibilidade de Bolsonaro ganhar o pleito era contra o
lulismo. Bolsonaro sempre soube disso, pelo menos sempre apostou nisso, e
se apresentou como o anti-Lula. Bolsonaro flerta com militarismo,
homofobia, machismo e racismo, mas a âncora que o manteve firme foi o
antipetismo, mais até que o antilulismo. O antipetismo foi a condição
necessária para essa candidatura. E Lula também sempre soube disso e por
isso optou claramente por não atacá-lo, por legitimá-lo, por escolhê-lo
como adversário ideal para o segundo turno. O erro de calculo de Lula
foi imaginar que a rejeição a Bolsonaro seria tão avassaladora que
levaria à vitória de seu candidato. Isso se provou um erro trágico,
irresponsável e previsível para todos os que acompanhavam com atenção o
fenômeno do anti-petismo.
Acredito que continue sendo correto
dizer que qualquer uma das outras candidaturas–Marina, Ciro,
Alckmin–poderia ter derrotado Bolsonaro no segundo turno com certa
facilidade, mas a luta pela hegemonia dentro da esquerda, o que
poderíamos chamar o hegemonismo petista, impôs um cálculo absolutamente
kamikaze, suicida de Lula, que nos levou a uma eleição estranhíssima, na
qual os dois principais candidatos eram também os de maior rejeição.
Tivemos, então, um segundo turno com os dois candidatos mais odiados.
Fernando Haddad não era pessoalmente odiado, mas passou a sê-lo na
medida em que se apresentou como candidato de Lula. Essa dinâmica alçou
Bolsonaro a uma condição à qual o movimento que ele representa jamais
teria chegado sozinho. O petismo tem na sociedade brasileira uma
característica particular: é uma força política que leva consigo
seguramente uns 25% do eleitorado a qualquer movimento seu, mas também
provoca o antagonismo de quase 50%. Chegou, portanto, a um ponto em que é
inviável eleitoralmente para o executivo nacional, mas forte o
suficiente para arrastar ao precipício qualquer alternativa a ele. Em
2018, ele optou por fazê-lo, e o resultado disso se chama Jair
Bolsonaro.
Alegorias da Derrota já discute esse eterno presente–sua edição inglesa foi intitulada Untimely Present—
de uma literatura que, ancorada no boom dos anos 60-70, se constroi a
partir da nostalgia. Se você chamou de derrota essa época que culminou
com as ditaduras na América Latina, como se refere a esta época de
retorno do conservadorismo na região? Que autores já perceberam esta
nova derrota?
O título em inglês é uma historia
divertida. Mais que de presente eterno, imagino que poderíamos falar de
presente intempestivo. Untimely é
a palavra que utilizamos em inglês para o que acontece a destempo, fora
de seu tempo. Uma das razões por que não utilizei a palavra
intempestivo no castelhano e no português é por ela soar demasiado
acadêmica, enquanto que em inglês untimely é uma palavra comum e corrente, ao mesmo tempo em que é também a tradução utilizada para o conceito nietszcheano de Das Unzeitgemässe, que vertemos ao castelhano e português como intempestivo ou extemporâneo. O unzeitgemässe nietszchiano
seria tudo que está em desacordo com o presente, que está em desacordo
com o tempo, mas que também atua sobre sobre esse tempo, apontando para
aquilo que esse tempo constitutivamente teria esquecido, reprimido e
silenciado. Então o untimely
seria, antes de mais nada, um destempo e um contratempo, mais que uma
espécie de dimensão atemporal ou transtemporal que poderíamos igualar à
eternidade. Nesse sentido, essa nova etapa histórica é um outro momento
da derrota epocal que descrevo no livro. A derrota ali não se limitava a
um acontecimento histórico particular ou a um período histórico
determinado. Ela era uma espécie de horizonte epocal das sociedades
latino-americanas pós-Salvador Allende, pós-11 de setembro de 1973 ou,
para dizer de outra maneira, pós-sonhos letrados do boom.
Em seu caráter de horizonte epocal, mais que de um período histórico
fixo e determinado, a derrota continua se manifestando entre nós; suas
dinâmicas me parecem ser, em grande medida, atualizações das dinâmicas
descritas no livro. Acerca dos autores que melhor vislumbraram esse novo
momento, mais que na literatura experimental ou vanguardista, eu veria
em autores como Cristóvão Tezza uma compreensão muito aguda dos
antagonismos dos últimos 20 anos. Na Argentina penso em ficcionistas
como Martín Kohan e, em uma geração um pouco posterior, em Hernán
Ronsino. Trata-se de autores que de alguma maneira têm atualizado a
percepção desse horizonte epocal que é a derrota. Em todo caso, eu não
diria que se trata de uma nova derrota, me parece que é uma atualização
da mesma derrota, ou um novo momento do mesmo horizonte epocal que
estava descrito no livro como derrota.
Em recentes especulações jornalísticas sobre Bolsonaro, surge o
argumento de que a ditadura brasileira não foi de todo neoliberal e que
os militares poderiam ser uma espécie de barreira que bloqueasse o
abraço de Bolsonaro ao neoliberalismo. Você, que analisou o discurso com
que Fernando Henrique Cardoso saudou a democracia, enxerga esse cenário
como possível?
Imagino que não seria errado dizer que
a ditadura brasileira não foi neoliberal. Se você dá uma olhada na
construção dos gigantescos aparatos estatais de cultura, do turismo, do
cinema, do planejamento regional, enfim, a ditadura brasileira possui
uma dimensão que poderíamos chamar de nacional-empreendedorista que,
obviamente, as ditaduras argentina e chilena não tiveram. Mas tampouco
me parece errado dizer que a ditadura brasileira, assim como a argentina
e a chilena, abriu caminho para a inserção do Brasil em uma ordem
capitalista global, através da eliminação de toda a resistência a esse
projeto. Acredito que se podem afirmar as duas coisas simultaneamente. A
ditadura brasileira não tinha um projeto neoliberal, mas eliminou do
corpo social aquelas forças que poderiam se opor a ele. Acredito que são
distinções importantes, pois o termo neoliberal nos últimos 20 anos tem
se derivado para alguns usos que não estavam muito claros no momento em
que escrevi Alegorias da Derrota,
mas que neste momento haveria de apontar. Em boa parte dos discursos da
esquerda, o termo passou a ser um simples sinônimo de feio, chato e
bobo. É um conceito a se usar com cuidado e auto-consciência.
Portanto, sim, no caso da ditadura
brasileira, deve-se sublinhar esse aspecto nacional-empreendedorista,
estatizante em muitos casos e que compartilha com a esquerda
lulo-dilmista um imaginário fortemente desenvolvimentista, que acredita
que o Estado pode ser sempre uma força desencadeadora do crescimento.
Isso é o que o período Geisel, dos anos 1970, e o período Dilma, dos
anos 2010, têm em comum: a nova matriz econômica que surge com Dilma em
2012 é muito parecida com o projeto desenvolvimentista de Ernesto
Geisel. Então, a entrada do Brasil na ordem capitalista global nas
últimas décadas combina esses dois movimentos, um movimento estritamente
neoliberal de eliminação dos direitos trabalhistas, privatização,
desregulamentação dos mecanismos de travas ao mercado financeiro, enfim,
uma série de medidas que seriam neoliberais, com outras medidas que
poderíamos chamar de nacional-desenvolvimentistas e que continuam
dominantes na esquerda brasileira, tão dominantes que em sua maioria a
esquerda brasileira sequer começou a refletir sobre as possíveis
responsabilidades do nacional-desenvolvimentismo de esquerda na
instalação de uma ordem dominada e hegemonizada pela direita, que é a
ordem pós-2018.
Você poderia falar sobre os vários imaginários que disputam por
narrar o Brasil: um carioca, outro mais despojado, como o de Joaõ
Gilberto Noll e assim por diante? Como esses imaginários deságuam em
Bolsonaro?
Uso aqui imaginário no sentido mais
pedestre de conjunto de imagens. Nesse sentido, poderíamos dizer que
estão em disputa diferentes imaginários políticos nas formas de narrar o
Brasil nos últimos anos. Uma possibilidade é essa que você apontou na
pergunta, imaginários regionais que estão em luta e muitas vezes em
processo violento de colonização um sobre o outro. Poderíamos pensar,
por exemplo, que existe um imaginário amazônico na cultura brasileira
que foi soterrado ou colonizado na ditadura militar, com sua concepção
da Amazônia como território a ocupar. A ditadura concebeu a Amazônia
como território vazio e colônia energética que, ao ser incorporada à
pátria, serviria a um projeto de Brasil Grande. Essa disputa entre
imaginários, essa colonização de uns imaginários por outros, é um
processo que se desdobra na ascensão de Bolsonaro. Em Bolsonaro se
combinam imaginários reativos e não apenas reacionários; eles têm tanto
uma dimensão histórica como outra que poderíamos chamar de
“comportamental”. Por um lado, como todos os fascismos, o bolsonarismo
nos propõe uma era de ouro. Ele já chegou a dizer que seu projeto era
retroceder o Brasil em 50 anos, a uma época em que o cidadão de bem
podia sair de casa sem temer a violência, em que se cumpria a lei etc.
Há então, por um lado, um imaginário reacionário que se combina com, por
outro lado, um imaginário reativo. Boa parte dos laços de pertencimento
que o bolsonarismo consegue articular no interior da sociedade
brasileira se relacionam com reações a processos que poderíamos chamar
de emancipatórios e identitários–contraditoriamente emancipatórios por
serem identitários—de que foram protagonistas setores das populações
negra, LGBT, feminina e indígena. Essa combinação entre um retrocesso
histórico e uma reação comportamental explica a penetração e o
enraizamento que o bolsonarismo teve na sociedade brasileira. E isso
deve ser enfatizado: o bolsonarismo é um fenômeno popular, uma reação
enraizada na sociedade brasileira, que mobilizou uma parcela
considerável não só da classe média, como também das classes populares.
Eu li em Franco Berardi uma citação de Marshall McLuhan que dizia
que “quando a simultaneidade substitui a sequencialidade—ou seja, quando
a enunciação se acelera sem limites–a mente perde a capacidade de
discernimento crítico e passamos, a partir dessa condição, a uma
neomitologia.” Houve muito dessa “narrativa” chamada fake news
nas eleições do Brasil, difundidas pelas redes e pelo WhatsApp. Você
acredita que o estado atual das coisas teria suplantado de alguma
maneira o pensamento crítico e histórico?
Sem dúvida, a oposição entre
pensamento crítico e mitológico é uma vertente possível para pensar as
novas formas de discurso público. Eu começaria questionando essa própria
distinção, na medida em que as forças sociais que têm recorrido nos
últimos anos à noção de pensamento crítico não estão muito atentas, me
parece, às dimensões mitológicas do seu próprio pensamento. Se tomamos a
eleição de Bolsonaro e o papel das fake news
nessa eleição, o que mais chama atenção não é o caráter inovador do
fenômeno, mas as linhas de continuidade com o discurso dominante da
campanha eleitoral de 2014, a saber, o discurso dilmista sobre como sua
coalizão–que incluía Michel Temer, não nos esqueçamos–, era a guardiã da
reflexão crítica sobre a desigualdade social brasileira.
Sem dúvida, a oposição
entre pensamento crítico e mitológico é uma vertente possível para
pensar as novas formas de discurso público
A campanha de 2014 também foi caracterizada pelas fake news, apesar de que não existia o termo fake news
na época. O dilmismo impôs, por exemplo, à liderança ambientalista de
Marina Silva a imagem de entreguista neoliberal sabotadora da ascensão
social dos pobres. Foi um verdadeiro massacre propagandístico liderado
por João Santana, o marqueteiro de Dilma. Há semelhança entre o que fez o
lulo-dilmismo a Marina–acusada não só de neoliberal, mas também de
fundamentalista–e o que Bolsonaro fez ao lulo-dilmismo em 2018, embora o
veículo fundamental na campanha de 2014 tenha sido a televisão e, até
certo ponto, as redes sociais como o Facebook e o Twitter, e o veículo
principal da campanha de Bolsonaro tenha sido o WhatsApp. Então, para
retornar ao problema do crítico versus o mitológico, poderíamos dizer
que 2018 no Brasil representou o momento de derrota de um discurso
fortemente atravessado por mitos não questionados, mas que se
apresentava como guardião da reflexão crítica. Esse discurso foi
derrotado. Não está derrotado todo o legado lulista, mas foi derrotado
um aspecto peculiar desse legado, a forma como o lulo-dilmismo se
imaginou a si mesmo como depositário exclusivo de uma concepção crítica
de país. O que a situação atual nos exige seria questionar melhor o
estabelecimento da fronteira entre essas duas dimensões que você cita, a
crítica e a mitológica.
Na sua obra, você soube descrever como se reformularam nos últimos
tempos o papel dos intelectuais. Como definir o papel deles hoje em
dia?
No Alegorias da Derrota
trabalhei com a premissa de que o horizonte epocal representado por
essa transição que, simplificando, era do Estado ao mercado, eliminava a
função reitorial dos intelectuais e os instalava em um terreno em que
deveriam lutar contra sua transformação em técnicos. A oposição
tradicional entre ideólogos e intelectuais era deslocada para uma nova
oposição, agora entre técnicos e intelectuais, em um contexto em que a
necessidade laboral permanentemente transformava intelectuais em
técnicos. Nos últimos 20 anos essa dinâmica se acentuou. Limito minhas
considerações à universidade brasileira, onde a notável expansão
universitária dos anos Lula se ancora em uma série de fundamentos que
intensificam a dimensão puramente técnica do trabalho intelectual. O
lulismo expande a universidade brasileira basicamente através de três
pilares: o primeiro, que é fundamental para o aumento da população que
consegue chegar às universidades, sustenta-se por programas de
transferência do erário público para os empresários do ensino privado ou
por bolsas a alunos também do ensino privado. O ProUni e o ReUni,
responsáveis pela entrada de centenas de milhares, se não milhões de
jovens brasileiros ao sistema de ensino superior privado, se baseiam na
premissa de que o Estado garantirá, através de bolsas e programas de
transferência de renda, o diploma de ensino superior às classes
populares brasileiras. Não se pode desprezar o papel simbólico que teve
Lula ao impulsionar essas medidas. Nos anos de maior entusiasmo popular
com o lulismo, um dos atributos mais fortes de seu discurso era a
celebração dessa novidade: “Sou o primeiro de minha família a me formar
em uma universidade, o primeiro a receber um diploma de curso superior”.
Essa dimensão simbólica teve um impacto tremendo no Brasil, que talvez
não seja muito visível na Argentina, um país que foi alfabetizado muito
cedo, em que o processo de alfabetização se resolveu muito antes e de
maneira mais completa. No Brasil, a força desse discurso de Lula sobre a
entrada de uma primeira geração de pobres e negros à universidade teve
um peso enorme na legitimação do lulismo. Por outro lado, as
circunstâncias econômicas produzidas pelo próprio lulismo convertem esse
corpo laboral diplomado em um exército de técnicos de baixa
qualificação buscando inserção no mercado.
Essa é a primeira dimensão: o repasse
de fundos públicos a empresários do ensino privado. A segunda dimensão: a
expansão dos campi das universidades federais, que é notável durante o
lulismo e que explica de certa forma a força que o lulismo exerce dentro
da academia brasileira, entre os professores e também entre os alunos. A
terceira dimensão são as cotas raciais, um fenômeno que cuja relevância
não se pode ignorar no legado universitário lulista. Porém, apesar
disso tudo, essa expansão desenfreada do período lulista se chocou com
os limites do próprio modelo desenvolvimentista que viu seu colapso
definitivo nos anos Dilma e que transformou essa população de recém
formados em um espécie de precariado intelectual. Aqui me refiro ao
conceito do sociólogo brasileiro Ruy Braga no livro Política do Precariado,
no qual ele estuda essa nova classe social, emblemática dos anos Lula e
que já foi chamada de batalhadores ou de nova classe C: um exército de
reserva do setor de serviços caracterizado por forte precariedade e
combinação de trabalho intelectual e trabalho manual de uma maneira que
submete qualquer dimensão intelectualmente independente à mera execução
técnica. Portanto, ao analisar a atualização do problema intelectuais
versus técnicos, creio que poderíamos dizer que não temos uma mudança,
um distanciamento do horizonte que descrevi em Alegorias da Derrota, mas uma intensificação e realização completa dessa dinâmica de transformação epocal dos intelectuais em técnicos.
Em Letter of Violence, você
aponta para as figuras de violência do Estado e analisa sua
legitimidade, além de sua legalidade (“formas de violência que seriam
cúmplices do horror, da acumulação original, da submissão de milhões de
seres humanos para o ganho de alguns, por oposição a formas de violência
que aspiram a supressão desse horror”). Você pode discorrer sobre como
as democracias liberais que sucederam as ditaduras limaram a
legitimidade dessa segunda forma de violência enquanto legitimavam a
primeira?
Acredito que você está certo quando
aponta que as democracias das últimas décadas procederam a legitimar a
primeira forma de violência, que poderíamos chamar de violência
originária, e a deslegitimar a segunda, que poderíamos chamar de
violência revolucionária. De resto, essa distinção é tão precária, que
inclusive pessoas como eu, que refletiram sobre ela e não confundimos as
duas formas de violência, nos pegamos, durante a campanha eleitoral de
2018, falando em termos quase arendtianos sobre o tema, implorando
diretamente às pessoas que tivessem cuidado com qualquer discurso ou
atitude que pudesse estimular violência física nas ruas, algo que passou
a ser um temor muito real entre nós. Isso me fascina pois, por um lado,
é evidente a distinção entre essas formas de violência e também é
claríssimo o processo de legitimação da violência fundante da
desigualdade e de deslegitimação das formas de insurreição violenta que a
aspiram mitigação ou eliminação dessa desigualdade. Por outro lado, há
uma dimensão bastante pragmática do problema da violência, que nos
obriga em vários momentos a realizar uma escolha visível pela recusa de
todas as formas de violência, sem distinção entre elas.
Em certo sentido, volto a uma distinção que trabalhei em Figuras da Violência
e que vem de Walter Benjamin, que é a de violência instauradora da lei e
mantenedora da lei. O que Bolsonaro fez com essa distinção é
interessante, porque legitima todas as formas de violência que
supostamente se ocupam de manter a lei. Qualquer ação de um agente
estatal está legitimada de antemão, ainda que seja um assassinato a
sangue frio. Ao mesmo tempo, oculta-se por completo o fato de que a
violência mantenedora da lei, a policial, atua com frequência fora de
toda lei, atua de forma a inventar uma nova lei em cada ação. O emblema
disso no Brasil é o que chamamos de “autos de resistência”, que são
documentos que legitimam assassinatos cometidos por policiais militares
ao pintar um cenário em que a vítima teria apresentado algum tipo de
perigo ao agente estatal, que se viu obrigado a utilizar da força letal.
Os autos de resistência são uma legitimação prévia da violência estatal
e a lógica que os preside teve papel importante na campanha de
Bolsonaro em torno dos chamados “excludentes de ilicitude”, que são nada
menos que autorizações prévias para matar, concedidas ao Estado.
Na Argentina pressupomos que os julgamentos dos crimes de
lesa-humanidade retomados em 2006 salvam de alguma forma este país da
ascensão de um Bolsonaro. Porém, sem manchar em nada a validade
histórica dos julgamentos, eles tampouco vieram a questionar a
continuidade da tirania do capital financeiro entre ditadura e
democracia, como de algum modo você postula nas Alegorias
(assim como outras vozes que apontaram esse aspecto acerca desses
julgamentos). Como você analisa esses julgamentos na cultura argentina e
na da região?
Creio que é correto pressupor que o
processo de julgamento de ditadores e torturadores argentino colocou
vocês em uma posição na qual o surgimento de um Jair Bolsonaro é, senão
impossível, altamente improvável. Não se pode relativizar isso, não se
pode desenfatizar isso, não se pode deixar de ter uma apreciação intensa
desse processo de julgamento de torturadores, precisamente porque temos
o horizonte comparativo do Brasil como país que não realizou nenhuma
dessas tarefas. Isso é algo notável no Brasil não apenas porque não
fizemos nada do que foi feito na Argentina, como sequer fizemos o que
foi feito no Chile, algo bem mais tímido e limitado no que se refere à
responsabilização. No Brasil, conseguimos não fazer nada e temos
instalado como dominante, inclusive durante os governos de esquerda, o
imaginário econômico da ditadura, o imaginário desenvolvimentista,
colonizador da Amazônia e nacional-estatista, nacional-grandioso que
teve a ditadura brasileira. Portanto, partindo do ponto de vista
brasileiro, isso seria a primeira coisa que eu sublinharia: a
importância de não perder de vista o impacto cidadão, não apenas
simbólico, mas também pragmático, político e efetivo dos julgamentos. Eu
não seria a melhor pessoa para analisar até que ponto os julgamentos
conseguiram ou não questionar o vinculo do instrumental mortífero da
ditadura com o horizonte do neoliberalismo duro que se impõe nos anos
1990 com Menem, mas creio de alguma maneira que a tarefa que se delineia
para vocês é muito mais avançada, pode-se dizer, que a tarefa que temos
no Brasil, que é basicamente voltar ao ABC da memória. Alguns amigos
argentinos têm mencionado o novo ciclo de direitas no continente e às
vezes demonstravam preocupação que algo como um Bolsonaro pudesse
emergir na Argentina. Demonstravam preocupação de que o Brasil poderia
ser em alguma medida a antecipação de um processo que pode vir a
suceder na Argentina. Posso me equivocar, mas não acredito que este
deva ser o principal medo que devamos ter neste momento, não penso que
esse é o horizonte com que se deve trabalhar agora. Acredito que vale
mais a pena entender algumas tarefas básicas executadas na Argentina e
ignoradas no Brasil e que a dinâmica política de cada um de nossos
países responde não somente a um horizonte global comum como também a
diferenças nacionais agudas. Em vez de entender o Brasil como algo que
viria a antecipar a Argentina, prefiro, a partir do Brasil, continuar
prestando atenção na Argentina como um país onde algumas das tarefas
mais urgentes que nos envolvem tiveram resultado se não de uma maneira
completa, definitiva e incontestável, pelo menos de forma
suficientemente contundente para que o horizonte político da Argentina
seja um pouco menos catastrófico que o do Brasil.
-------------
* Escritor. Crítico literário. Jornalista.
Fonte: https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/o-horizonte-da-derrota-entrevista-com-idelber-avelar/ 22/02/2019