Texto Ricardo Farinha
Lídia Jorge tem 76 anos.
Em abril de 2020, a mãe de Lídia Jorge, Maria dos Remédios, faleceu de Covid-19. Vivia na Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime. Antes, tinha-lhe deixado um pedido: que escrevesse um livro intitulado “Misericórdia”. A ideia, à partida, seria refletir sobre o fim da vida — para exaltar o facto de que os últimos momentos, ainda assim, não têm de ser despojados de entusiasmo, de sede de viver, de todas as outras coisas boas que marcam a vida.
Foi um livro que acompanhou o natural processo de luto da autora, e que no final foi apresentado como uma história de ficção baseada em elementos íntimos e reais — inclusive vários apontamentos do diário de Maria dos Remédios, que a filha usou para dar corpo à obra. “Misericórdia” acompanha o último ano de vida de uma personagem.
Leia a entrevista da NiT com Lídia Jorge sobre “Misericórdia”.
Escreveu este livro, “Misericórdia”, a corresponder a um pedido da
sua mãe. Sei que interrompeu inclusive a escrita de outro romance em
que estava a trabalhar para dar início a este. Como descreveria esse
processo?
Bem, foi um desafio muito grande,
porque a minha mãe pediu-me muitas vezes que eu escrevesse um livro que
se chamasse “Misericórdia”. Perguntava-lhe porquê, o que é que ela
queria com isso. Ela nunca foi muito clara, mas a certa altura disse-me
que era para eu poder escrever sobre a relação das pessoas quando o
corpo já não corresponde àquilo que é o desejo íntimo da existência e
que falasse nessas relações para que as pessoas tivessem mais compaixão
umas pelas outras. Depois ela faleceu, com Covid, naqueles primeiros
meses — foi a 19 de abril de 2020.
Logo no início da pandemia.
O último pedido que ela me fez foi a
8 de março. Nunca mais a voltei a ver. Isso ficou como um pedido que
foi um imperativo absoluto. Mas ao princípio não sabia bem o que fazer
com isso. Até que um amigo, o José Manuel Mendes, me enviou um livro do
Roland Barthes cujo título é “Journal de Deuil” e percebi que tinha
mesmo de escrever. Porque tinha uma espécie de vergonha de escrever
alguma coisa tão próxima. Há um pouco de pudor nisso, naturalmente. Mas,
como ele falava tão abertamente daquilo que sentia, deu-me esse impulso
que de facto eu estava literariamente legitimada para o fazer. Só que,
na construção do livro, tomei um caminho oposto. Enquanto que o Barthes,
que era sobretudo um ensaísta, filósofo da linguagem e da literatura,
fala direta e abertamente num “eu” que sofre com a partida da mãe, eu
percebi que não poderia fazer isso. O que tinha de fazer era o
contrário. Não falar de um “eu”, mas de um “tu”. Dei-lhe a voz inteira e
procurei reconstituir o último ano de vida dela através do pensamento,
que correspondia, no fundo, àquilo que ela me ia dizendo ao longo desse
tempo.
Esse desejo que foi expresso no tal 8 de março, essa visão e
perspetiva era algo em que a própria Lídia já pensava muito? Ou acabou
por refletir muito mais sobre isso depois?
Sinceramente, refleti mais depois.
Porque o título “Misericórdia” parecia-me dramático. Só que, perante o
pedido dela, a palavra “misericórdia” começou a ganhar um sentido muito
maior. Até porque, como a minha mãe nunca foi uma pessoa melancólica nem
de lamento ou de saudades — tinha mas superava, foi uma pessoa de
grande entusiasmo, viveu até aos últimos momentos de vida, que assisti
apenas por telefone, com um entusiasmo pela vida. As últimas palavras
que me disse foi “deixa-me que vou trabalhar”. Isto quando ela já não se
movia, quando ia morrer, não é? Foi algo tão forte, ensinou-me e
disse-me tanto, que eu não só fiquei tocada como achei que valia a pena
partilhar. Isto são sentimentos que a pessoa sente pudor em partilhar,
naturalmente. Mas acho que vale a pena quando há assim um sentido de
vida tão intenso que nos ajuda, que nos anima na existência e a dar-lhe
um sentido. Acabei por tomar alento e escrever este livro que começou
lento mas a certa altura não conseguia parar. Foi escrito como se
houvesse duas correntes: uma que era a sensação cada vez mais intensa de
que ela tinha partido mesmo; e a outra era que com a voz ia ao encontro
do âmago dela, do recado que ela me tinha deixado e que eu acho que não
era só para mim. Foi um recado tão forte, a luta que ela fez pela
aprendizagem, pela sabedoria, pelo conhecer o mundo. Pela esperança que
tinha nas relações humanas, na melhoria da vida. Isso pareceu-me tão
forte que achei que valia a pena partilhar e à medida que ia escrevendo
cada vez mais sentia entusiasmo por isso. À medida que a história que é
contada se aproxima do fim, e que é já num clima absoluto de pandemia,
mais valorizo o sentido de esperança e de tentativa de narrativa que
sempre houve dela para ultrapassar a existência. Porque isso foi algo
que ela me passou, no fundo, e na qual me sinto sua irmã. O facto de ter
apontamentos sobre a vida ajuda a sobreviver.
Já vi a Lídia descrever este livro como inevitavelmente duro, mas também positivo, esperançoso.
Sim, esperançoso, na medida em que
encontrava as palavras que eram o eco daquela mensagem, achei que não
era difícil. E por isso é que há pouco tempo, quando me perguntaram “mas
porque escreveu sobre uma coisa tão triste?”, eu disse: “Não, eu não
escrevi sobre a morte, escrevi sobre o fulgor da vida diante da qual a
morte é apenas um dia”. A morte é um instante. É um pouco deslocado
utilizar a palavra “alegria”, mas posso dizer outra palavra que quem
escreve e os grandes leitores entendem: escrevi como uma espécie de
“triunfo” sobre a morte, sobre o esquecimento, sobre aquilo que é o pó
da vida.
O livro acaba por abordar a forma como as pessoas, quando
naturalmente se aproximam do fim da vida, são muitas vezes
percecionadas. Sente que é algo que precisa de mudar na nossa sociedade,
a forma como as pessoas mais velhas são vistas quando estão num lar,
por exemplo? O livro também acaba por abordar isso.
Sim, acaba. Não é o aspeto
principal, porque não quis escrever nada sociológico, mas naturalmente
passa-se lá e dá eco das situações comuns que se passam nos lares. Nós
somos sempre frágeis, mas há dois períodos da vida em que somos
particularmente: quando somos crianças e quando somos velhos. Em relação
às crianças, hoje-se tem uma perceção do que é que precisam. Há um
carinho e um cuidado que às vezes até é excessivo, mas existe essa noção
da fragilidade da criança. Com as pessoas idosas, há uma ideia de que
se tem de remediar, de que se tem de amparar, mas penso que ainda não há
saberes suficientes sobre o assunto. A instituição lares é uma herança
da sociedade industrial do século XX. E tenho ideia que, hoje com aquilo
que sabemos sobre as pessoas mais velhas, acho que há que mudar coisas.
Há que não juntar tanta gente, por exemplo. Há que perceber que se
muitos dos cuidadores são pessoas que naturalmente têm sensibilidade e
fazem prodígios, que são de uma atenção extraordinária por impulso, por
temperamento, há outros — e são muitos — aqueles que precisam de ser
conduzidos. E todas as pessoas precisam de ser remuneradas e ter atenção
de outra forma. Nada melhorará enquanto essas pessoas não forem
tratadas como especialistas. Porque temos de perceber que as pessoas vão
para um lar porque em casa não temos condições. E compreender que nada
pode ser ideal, que não há um mundo perfeito, que não se pode exigir
tudo. São sítios onde há permanentemente surpresas, desencontros,
situações dolorosas. Uma exigência demasiada e o propalar da ideia de
que são sítios de tortura, como muitas vezes acontece… As notícias são
só sobre lares como se fossem sítios de tortura, é de uma grande
injustiça para toda a gente. Para a sociedade inclusive, que fica com
uma ideia deturpada do que é um lar. Até há pessoas que evitam passar na
porta, com medo, pensando que lá acontece uma espécie de tortura. Ora,
não é nada disso que acontece, não é? É preciso entrar e ver com outros
olhos. E sobretudo perceber que as pessoas que lá estão são pessoas
cheias de vida. A maior parte delas mantém intactos os sonhos, a vontade
de ser útil, de participar, ajudar. Fazem relações de amizade, criam
clubes entre si, ajudam-se. É outro mundo, mas é apenas o prolongamento
das pessoas ativas. É uma extensão natural da nossa existência
quotidiana.
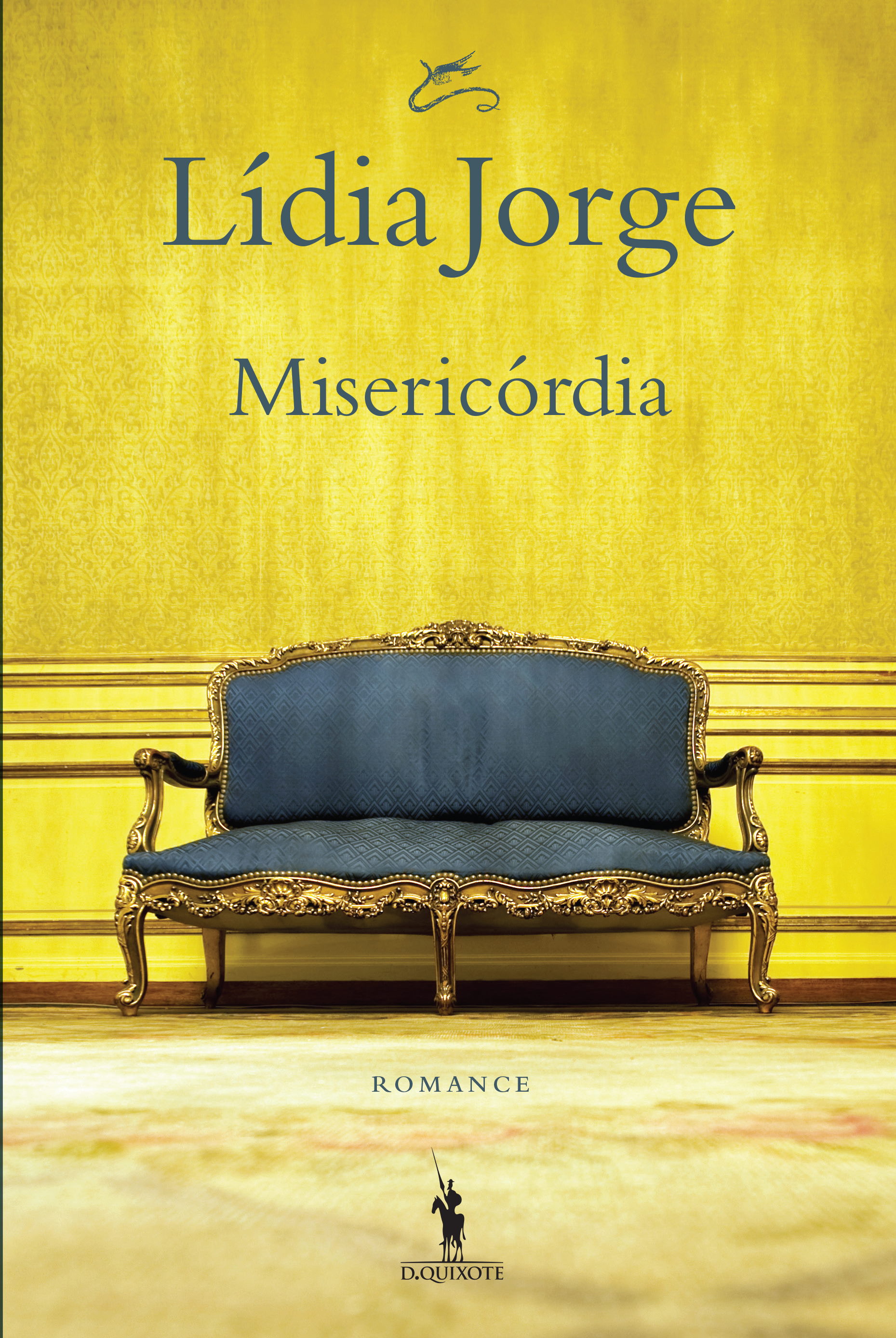
Este livro é baseado na sua mãe, nas suas vivências, nos seus
pensamentos. Mas também tem uma parte ficcionada. Essa verdade não está
exposta como se fosse documental, digamos assim.
Quando li o “Journal du Deil”,
percebi que tinha de fazer ficção. Gosto de colocar as figuras em ação,
de criar um palco e fazer uma espécie de teatro, separar-me da
realidade. Não gosto de fazer o trânsito imediato da realidade para um
livro. Preciso, entre a realidade e a página, de criar uma fábula. Por
isso, este livro tem um subsolo de realidade, mas é uma ficção criada a
partir de elementos muito próximos e muito reais.
Foi especialmente desafiante escrever e inventar essa fábula tendo em conta o tal subsolo real que existia neste livro?
Foi fácil, porque a minha mãe me
deixou todos os elementos. Não os esgotei, acredite. Desde que a conheço
que fez um diário. No final, já só escrevia pequenas palavras. E são
essas pequenas palavras, que alterei, transfigurei, modifiquei porque
não são bem assim. Pequenas frases como se fossem pequenos poemas. São
apontamentos do dia que me deram a ideia que era a partir daí que podia
reconstituir aquilo que era a sua fala. Então foi simples. Demorei dois
anos a escrevê-lo, mas com longos intervalos. E nesses intervalos estava
sempre a desejar voltar para casa, para o poder retomar, porque sentia
que era uma história que tinha de escrever — escrevi com um impulso
muito forte. Não vale a pena estar a dizer quais são os que recolhi da
realidade e quais são aqueles que evitei, porque isso é absolutamente
inútil para um leitor. O leitor deve imaginar que é tudo ficção, isso é
que é importante.
Suponho que seja um livro bastante especial por partir de uma base tão íntima e próxima para si.
É um livro que não tem antecedente, e
provavelmente não terá consequente. É um livro único, não espero voltar
a ter uma experiência semelhante. Como disse, é um livro para um “tu”
muito próximo, mas com um diálogo intenso e é um livro em que procuro
levantar da terra uma figura e erguê-la. Criar uma espécie de estátua
para ficar. Para mim é muito especial, de facto.
Sente que também foi uma forma de processar o luto?
Sim. À medida que ia escrevendo,
tinha a ideia de que ia reencontrando a normalidade. A normalidade da
casa, do jardim, da vida. Inclusive a normalidade do diálogo com o
mundo. Porque naquela altura houve um momento em que tudo ficou entre
parênteses. A minha mãe era uma pessoa muito envolvida com o mundo, com a
política, ela tinha opinião sobre tudo. Gostava de falar sobre os
políticos do partido de que ela gostava e também dos da oposição. A
pouco e pouco, o luto foi isso: voltar a vê-la com alegria, como se ela
voltasse a estar inteira, a estar viva entre nós. Porque o luto não é
desembaraçarmo-nos de alguém e pô-lo dentro de uma gaveta e dizer “este
já cá não está”. O luto é passarmos a conviver com a lembrança e com a
atitude viva de alguém que nos amou profundamente e que amou os nossos
descendentes. E que está aqui. Ao menos enquanto pensamos nisso, ela
existe. É um elo humano formidável.
Estava a descrever há pouco os longos intervalos durante a escrita
deste livro. A rotina criativa que a Lídia tem depende muito de cada
livro? Obviamente também dependerá da fase da sua vida.
Depende mais do meu temperamento
[risos]. Porque há escritores — e admiro-os e louvo-os e gostaria de ser
um deles — que são capazes de ficar em casa, de se fecharem durante um
ano, de dizerem “aqui ninguém me bate à porta”. E eu não sou uma pessoa
assim. Tenho muita pena de não ser, mas não sou. Se me batem à porta,
abro a porta. E quem é assim está sujeito à ventania [risos]. Dependo
muito daquilo que está a acontecer. Do que está a acontecer no mundo,
socialmente, com os amigos e a família. Não consigo programar: durante
um ano, vou acabar um livro. Vou viajar e vou fechar-me. Não. É um
problema e um defeito do meu temperamento. Poderia ter escrito o dobro e
possivelmente melhor se tivesse um temperamento de mais cautela e
vigilância sobre aquilo que é e deve ser uma espécie de missão que os
escritores têm, que é dizer aquilo que lhes parece do mundo enquanto
vivem. Deixar esse registo, esse testemunho, e isso é algo que deve
merecer o sacrifício de outras coisas. Quem não o faz, peca. Portanto,
eu pecadora me confesso [risos]. De facto não o tenho feito, não me
dediquei a tempo inteiro como deveria.
Mas também perderia, obviamente, outras coisas importantes. É inevitável.
Sim, é inevitável. Admiro muito as
pessoas que imaginam que temos muitas vidas [risos], acho que elas são
felizes. Gostaria muito de ter muitas vidas. Penso que todos nós… De
vivermos em simultâneo muitas situações, não é? Porque a nossa vida é
cheia, é intensa. Queremos descobrir tanta coisa, percebemos que somos
finitos, que passamos rapidamente, então vimos a este mundo e ele está
escancarado à nossa espera. Somos só um: um sujeito tão limitado para
aquilo que é o desejo ilimitado de conhecimento e de vivência. Mas é
assim.
Já voltou ao livro que entretanto tinha deixado em suspenso? Ou ainda não?
Ainda não, nem sei se é um livro
para retomar. Já ia bastante adiantada na conceção e com várias páginas
escritas, mas de facto o mundo entretanto mudou muito. De há dois anos
para cá, há revelações extraordinárias. Quer do ponto de vista da
natureza que nos atacou, quer do ponto de vista das relações entre os
países e as pessoas. Imaginava que, depois da pandemia, ficávamos todos
mais juntos. Escrevi 13 textos durante a pandemia, todos esperançosos,
com a ideia de que o mundo iria ser melhor. De que tínhamos percebido
finalmente que éramos uma só geração à face da terra. Que tínhamos
padecido todos ao mesmo tempo das mesmas dores. E que isso nos tinha
tornado fraternos. Agora leio esses textos e até sinto vontade de
chorar, porque foi ao contrário. Acabou a pandemia e estamos envolvidos
num tumulto internacional, à beira de podermos ir para uma Terceira
Guerra Mundial da qual não restará pedra sobre pedra. Ou as pedras
restarão, mas não restarão pessoas ao lado das outras para continuarem a
vida. Isto traz-me um tumulto tão grande que é um momento muito
delicado. Acho que para toda a gente. Mas para quem teve a esperança,
para quem confiou que iria ser melhor, isto é uma derrota. Cada dia que
passa é uma derrota. Tenho esperança que haja qualquer coisa boa que
surja.
Fonte: https://www.nit.pt/cultura/livros/lidia-jorge-a-morte-e-apenas-um-instante-escrevi-sobre-o-fulgor-da-vida?fbclid=IwAR0UC_UXJ796xvbz9iLDJzJJfB7LSfuPD9VMAAUN-CIOOrG-upmcqbgyq5w
fotografia Inês Gomes Lourenço


