por François Dosse
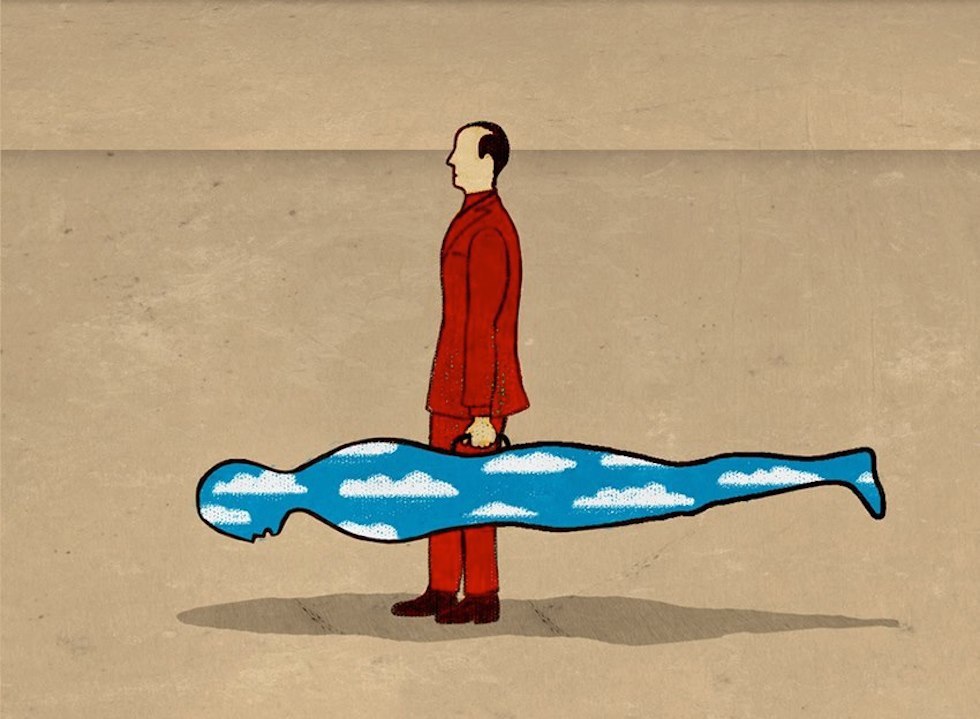
Se hoje o desastre ocupa a ideia de porvir, pensadores devem se despir de ares proféticos e colocar-se a serviço da sociedade, inclusive ocupando as mídias. Imaginar horizontes não experimentados é essencial, ou o presente estará sempre estagnado…
Em visita ao Brasil para lançar o segundo volume de A saga dos intelectuais franceses, 1944-1989: O futuro em migalhas (1968-1989), pela Estação Liberdade, o historiador François Dosse conversou com a Cult sobre a crise das utopias, o fazer da História e o imaginar do futuro. Em uma época que já não evoca projetos de emancipação, o pesquisador do Instituto de História do Tempo Presente entende que os intelectuais são atores possíveis para imaginar horizontes não experimentados. “Há possibilidades não comprovadas e, nelas, há o que chamaríamos de sementes da construção do futuro.”
O refluxo das utopias de Maio de 1968 depôs as
esperanças e fez emergir o temor da catástrofe. Uma década antes, Albert Camus
já havia dito que o papel de sua geração não era refazer o mundo, mas impedir
que ele se desfizesse. Como essa inversão de expectativas explica a produção
intelectual francesa na segunda metade do último século?
Entre a libertação do nazismo e a queda do Muro de Berlim em 1989, mudamos o
regime de historicidade, o fio condutor da análise que estou desenvolvendo.
O que quero dizer com uma mudança no regime de historicidade? É um conceito teorizado por um conhecido colega historiador chamado François Hartog. Isso significa que o que desapareceu no século 20 foi o futuro, o horizonte de expectativa, o projeto. Então, nos encontramos na temporalidade que Hartog chama de presentismo. Tomando de empréstimo uma imagem de Pierre Nora, vivemos cada vez mais em um período de presente estagnado, porque não há mais nenhum projeto de emancipação.
À medida que descobrimos mais e mais sobre a sociedade alternativa a leste da Cortina de Ferro, nos damos conta de que ela é uma sociedade carcerária e, portanto, muito distante dos sonhos de emancipação e igualitarismo daqueles que estavam engajados na luta socialista.
Há algumas análises que eu retomo do primeiro volume [de A saga dos intelectuais franceses] no segundo, que evidenciam isso: a invasão da Hungria pelo Exército Vermelho soviético em 1956; a invasão de Praga e da Tchecoslováquia pelo mesmo exército em 1968, que também marca a chegada dos dissidentes, dos quais o mais conhecido, em 1974, foi [Alexander] Soljenítsin [escritor russo, autor de Arquipélago Gulag, sobre os campos de concentração da União Soviética]. E, no final dos anos 1970, veio a revelação do genocídio cambojano pelo Khmer Vermelho de Pol Pot.
Tudo isso fez com que o universo intelectual e os intelectuais se distanciassem de um engajamento político. O caso mais conhecido, capa do primeiro volume, é o de Jean-Paul Sartre, encarnação do intelectual profético, aquele que sabia qual era o significado da História e que tendia a torná-la divina.
Bem, o período histórico que eu retrato no livro foi também um momento de efervescência intelectual. Um momento extremamente rico do que os norte-americanos chamaram de Teoria Francesa, com grandes figuras como Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze etc.
O sr. mencionou a mudança no regime de
historicidade, relacionada ao abandono do futuro. Como isso se relaciona com
questões tão discutidas hoje, como as mudanças climáticas e as crises
humanitárias em diferentes partes do planeta?
O que caracterizou o período que descrevi foi o fim de qualquer visão
teleológica, ou seja, não havia mais nenhum télos no período que
descrevi até 1989 – no sentido amplo de História. Sabíamos para onde a História
rumava. Estávamos atrasados, adiantados, mas sabíamos para onde íamos. E então
ela entrou em colapso.
Hoje, diria que desde o período da pandemia, estamos vendo, de certa forma, um renascimento da questão do futuro, da preservação do futuro. Mas é uma preservação muito diferente daquela do século 20, quando tínhamos um futuro risonho; no século 21 miramos no porvir a ideia de uma possível catástrofe.
Hoje, eu usaria as palavras do epistemólogo francês Jean-Pierre Dupuy, que prega o que ele chama de catastrofismo esclarecido. É a ideia de que precisamos estar cientes de que caminhamos para um desastre, mas precisamos evitá-lo e temos os meios para isso. E acho que essa é uma boa posição a ser adotada em comparação com aqueles que negam, os céticos do clima que dizem que não há problema.
E como fica o intelectual diante dessa
questão? No Brasil depois da pandemia, por exemplo, assistimos a uma crescente
onda anti-intelectualista, anticientífica etc., semelhante ao movimento que o
sr. vê florescer na França em períodos de questionamento. O intelectual hoje é
uma figura de prestígio ou de desconfiança?
Há uma desconfiança crescente em relação aos intelectuais. Isso também se deve
ao fato de os intelectuais, às vezes, afirmarem de forma muito arrogante coisas
que se revelaram falsas. Por exemplo, tome o prestígio de um Sartre, que disse
que a União Soviética era o país mais democrático do mundo. Quando você olha
para a realidade das coisas, isso só faz você rir, ou melhor, chorar por alguém
tão inteligente como ele.
Eu diria que passamos dessa figura do intelectual profético – que tudo sabe, especialmente se pensarmos em Sartre – para outra forma de intelectual, definida por Foucault como intelectual específico. É alguém que abre mão dessa posição um tanto divina de alguém que sabe de forma absoluta e que conhece o fim da História.
Portanto, a posição do intelectual específico é mais modesta, pois ele é alguém que irá pôr, digamos, seu conhecimento a serviço da sociedade, para esclarecê-la nas escolhas que fizer.
Vou dar um exemplo disso em relação a Foucault: no início da década de 1970, Foucault se envolveu em uma organização que ele criou com seus amigos chamada GIP, Grupo de Informação sobre as Prisões, que consistia em fazer circular informações entre os prisioneiros, especialmente os prisioneiros políticos, de uma prisão para outra, servindo assim como um elo entre os prisioneiros em uma luta contra o encarceramento arbitrário.
E ele tomou a liberdade de intervir na cidade, incluindo a intervenção militante, enquanto trabalhava como intelectual nesse campo, tornando-o sua especialidade na época, década de 1970, quando publicou um livro, em 1975, chamado Vigiar e punir, que é uma reflexão sobre o que ele chama de o grande confinamento da modernidade, no qual o modelo panóptico, ou seja, o modelo prisional, está no centro da sociedade. Assim, podemos ver como ele delimitou seu campo de intervenção, um campo no qual ele se tornou um especialista.
O sr. falou do intelectual profético e do
intelectual especialista, mas pensemos também no intelectual orgânico de que
falava Gramsci. Vivemos numa época em que o paradigma do intelectual orgânico
parece reviver com novos atores que animam o debate público de fora da
universidade. Como o sr. avalia essa atuação?
Quando Gramsci falou de intelectuais orgânicos, pensava, acima de tudo, nos
intelectuais ligados ao marxismo, que têm uma ligação orgânica com os partidos
comunistas.
É verdade que hoje há menos intelectuais orgânicos nesse sentido. Mas hoje, de fato, há o que poderíamos chamar de efeito. O termo pode ser apropriado. São intelectuais orgânicos na medida em que estão estruturalmente ligados às estruturas de poder. E, com isso, pensamos, obviamente, na mídia e em um certo número de pessoas que estão na internet, nas tevês, que opinam e que podem de fato ser consideradas como intelectuais midiáticos. Prefiro o termo intelectuais de mídia por corresponder mais ao que eles são.
Inclusive, no período que analiso na década de 1970, houve o fenômeno dos novos filósofos. Penso em Bernard-Henri Lévy, em André Glucksmann e em vários outros que aumentaram a sua intervenção nos meios de comunicação social e foram muito ouvidos ali como intelectuais da mídia.
É necessariamente importante que o intelectual
esteja na mídia?
Não devemos boicotar os meios de comunicação social e a internet. Pelo
contrário, o intelectual deve estar em toda parte, deve estar vigilante em
relação a tudo o que está acontecendo. Pela multiplicação desses meios de
informação, da doxa [opinião comum ou popular, no grego], diz-se que a
opinião pública precisa cada vez menos dos intelectuais; eu diria o contrário:
precisa cada vez mais.
Isso quer dizer que, de fato, na medida em que temos uma multiplicação da fala – e isso é bom pelo pluralismo –, precisamos ainda mais de trabalho intelectual. Do trabalho de quem, justamente, está em posição de mediação. Esse é o caso de vocês, em primeiro lugar, como jornalistas, e depois, de forma mais ampla, dos demais intelectuais.
Existe a Wikipedia, existem muitas ferramentas que nos permitem armazenar informações. Mas é a partir da reflexão sobre essas informações que os intelectuais desempenham o papel de discriminar o que tem base histórica e sociológica ou não, a partir do trabalho e da evolução do conhecimento das disciplinas. O mesmo se dá com os professores no relacionamento com os alunos. Os alunos agora sabem coisas graças à internet e, ao mesmo tempo, precisam ainda mais desses mediadores.
Pensemos no mundo de hoje, que produz e
armazena fontes – físicas ou digitais – em quantidade jamais vista. A internet
é um depósito quase infinito de rastros do nosso tempo. O que essa profusão de
dados implica para o fazer historiográfico do tempo presente?
O historiador, e especialmente o historiador do passado distante, é confrontado
com a escassez de informações, fontes e arquivos. Então ele vai investigar, na
Antiguidade, a mínima inscrição em uma pedra para reconstruir uma sociedade
mercantil, ou a colonização grega no século 6 AEC a partir da cabeça de um
alfinete.
Hoje em dia, em vez disso, temos uma pletora de informações. Corremos o risco de ser engolidos pela massa de informação. Mas eu diria que, metodologicamente, em termos de operação historiográfica, o trabalho é mais ou menos o mesmo. Exceto pelo fato de que o historiador é confrontado com algo mais amplo.
Os historiadores do presente levarão em conta, mais do que os historiadores do passado, um aumento de testemunhos, um aumento da história oral, que por muito tempo foi considerada algo anedótico, acessório.
Quando falávamos de arquivos na História, nos referíamos a arquivos escritos, arquivos nacionais e manuscritos. Esses eram os livros, os arquivos dignos do trabalho do historiador. Hoje, passamos para outro período, no qual temos um arquivo oral que faz parte do arquivo, e a reunião de testemunhos faz parte do acervo da mesma forma que os jornais, os manuscritos, os textos etc.
Portanto, temos de fato um tipo de arquivo que tem a ver com a revolução digital. Isso significa que há, de fato, uma infinidade de arquivos dentre os quais temos de discriminar. De toda forma, isso foi sancionado em nível institucional: não há mais teses de Estado na França. Desistimos delas porque não são definitivas sobre seus assuntos. Em outras palavras, não se pode ver tudo.
Portanto, as gerações futuras verão outras coisas e farão perguntas diferentes. Sempre volto à fórmula muito sugestiva de Michel de Certeau, segundo a qual o evento é o que se torna o evento. Portanto, qualquer evento para a História a qual você se refira se tornará parte da memória coletiva, será retomado, serão feitas perguntas que você nunca suspeitaria porque, precisamente, o evento é o que ele se torna nas sociedades futuras.
O sr. falou agora do Certeau, da história
oral, formas de pensar a História que, desde os anos 1960, questionam o
determinismo econômico do marxismo e elegem novos temas de análise. Como,
portanto, pensar o marxismo no século 21? Ele ainda permanece como ferramenta
possível na historiografia?
O marxismo foi para muitos – não para todos, é claro – uma forma de pensar a
História. Falava havia pouco sobre a teleologia histórica, de uma ciência da
História após o materialismo histórico, o materialismo dialético. Havia toda
uma vulgata marxista que tinha uma concepção global da História.
E confesso que, quando escrevi A história em migalhas (L’histoire en miettes), na década de 1980, eu defendia uma História global, uma História total, e era hostil ao desmoronamento. Daí o título, que era uma forma de criticar o desenvolvimento da historiografia.
Falava-se apenas sobre a ideia de reflexo. A ideia de que as superestruturas são um reflexo das infraestruturas. Bem, para mim, isso já estava desatualizado na época. Por muito tempo, foi dito em nome de Marx que a cultura é simplesmente o reflexo da infraestrutura. Agora, quando pensamos em Althusser, já era um marxismo mais sofisticado, com suas ideias de determinação, dominância etc. Você poderia ter sociedades que fossem religiosamente dominantes e que tivessem a economia como determinante final, mas com dominância.
Hoje, porém, eu diria que nos afastamos dessa ideia. Quando digo que nos afastamos de um regime de historicidade, é um afastamento de toda forma dessa ideia teleológica de que a História segue em uma determinada direção. Isso não quer dizer, é claro, que a economia não tem valor. Há certas análises de Marx – sobre o funcionamento da economia do capital, a maximização do lucro, o fim do exército industrial de reserva que define o desemprego etc. – que, obviamente, ainda são relevantes hoje.
Não se trata de, como costumávamos dizer, jogar fora o bebê junto com a água do banho. Mas é verdade que nos distanciamos de qualquer teoria do reflexo. E aqui estou pensando particularmente no magnífico trabalho de [Cornelius] Castoriadis, a quem dediquei uma biografia; inicialmente, era um filósofo marxista, membro da Quarta Internacional, que editou a revista Socialisme ou Barbarie com Claude Lefort e que assumiu uma posição bastante crítica em relação à União Soviética, mas, ao mesmo tempo, defendeu Marx e a visão marxista enfaticamente.
Bem, seu distanciamento do marxismo clássico foi se abrindo também para a psicanálise, para Freud, em direção ao imaginário, e penso, particularmente, em seu livro de 1975, A instituição imaginária da sociedade (L’institution imaginaire de la société). Para ele, o motor da História não é precisamente a taxa de produtividade, é o imaginário histórico. É isso que cria a História.
Como pensar o lugar do intelectual em um mundo
que, novamente, abandona a utopia e teme a catástrofe?
Esse imaginário é a força motriz para uma perspectiva de tentar reabrir um
horizonte de expectativas. E eu diria que minha referência é Paul Ricœur, que
diz que devemos evitar reduzir o horizonte de expectativas ao belo espaço de
experiência no campo do presente e do bem.
Portanto, você sempre tem de construir um projeto coletivo. É também tarefa dos intelectuais lançar luz sobre um certo número de problemas, assim como juntar as coisas para criar um projeto. Porque uma sociedade sem projeto é uma sociedade que está envelhecendo, é uma sociedade esclerosada, uma sociedade que assumiu a ideia de que vai morrer.
Ela precisa ser reanimada, mas em novas bases, de uma utopia concreta, uma utopia que seja libertadora. Também precisamos revisitar o passado, daí o trabalho que fiz sobre o século 20. É preciso revisitar as possibilidades não comprovadas do passado. Os historiadores de hoje, em vez de serem mecanicistas, veem que sempre há diferentes possibilidades na História.
Atualmente, passamos por uma crise terrível, como no Oriente Médio. O que acontecerá amanhã? Sou absolutamente incapaz de dizer. Estamos diante de uma indeterminação, justamente, em relação ao futuro. E no passado é parecido. Nas sociedades passadas, com várias possibilidades, uma foi escolhida.
Portanto, há possibilidades não comprovadas e, nelas, há o que chamaríamos de sementes da construção do futuro. E se veem essas sementes, por exemplo, na Grécia Antiga, com a assembleia, a autonomia, a criação de uma sociedade igualitária. Os gregos foram uma invenção, e é uma invenção que deve ser útil para nós hoje na criação de uma democracia moderna a partir dessa semente do passado.
É essa função que eu vejo também nos intelectuais. Ou seja, essa função de conectar, de reunir um certo número de coisas para avançar em direção à definição não de uma História que já está escrita, mas de assumir uma responsabilidade ainda maior. São os atores de hoje que serão responsáveis pela sociedade de amanhã.
Não há nenhum sentido em que eles se sobreponham a ela. Eles são responsáveis por isso, e, portanto, como intelectuais, temos a responsabilidade de pensar da forma mais crítica e refinada possível para, como eu disse, evitar o desastre e alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.
Publicado 18/01/2024 às 18:55 - Atualizado 18/01/2024 às 19:06
Fonte: https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/refazer-utopias-tarefa-do-intelectual-no-seculo-xxi/
Nenhum comentário:
Postar um comentário