Por Douglas Rodrigues Barros.*
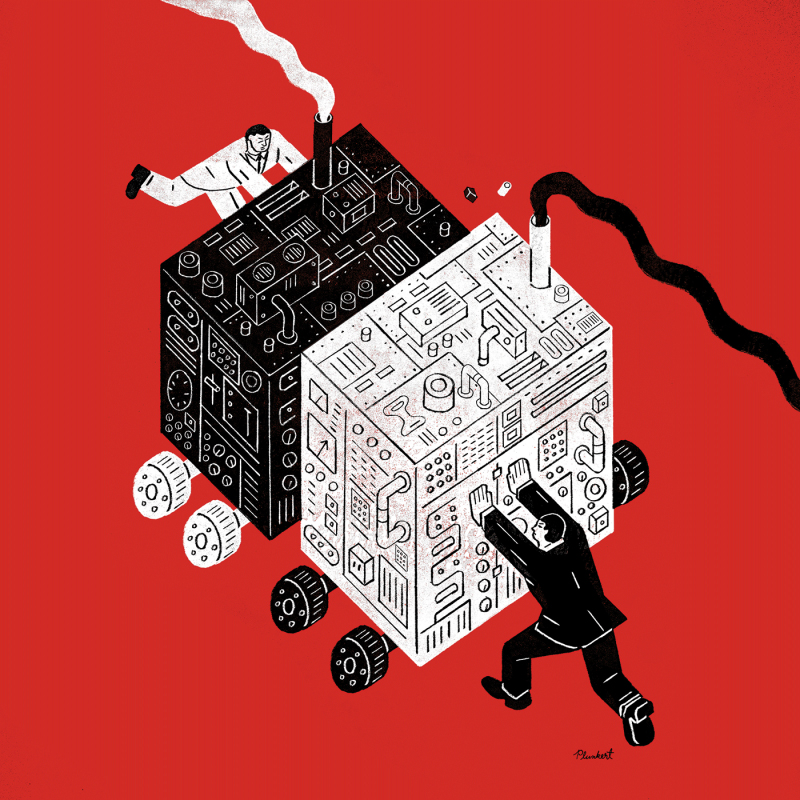
No capitalismo de fim de linha, o ódio ao diferente, o ódio àquele que tenta tomar a vaga de emprego daquele que é tido como igual fundamenta um ódio político e ultrarreacionário que, cedo ou tarde, terminará em tragédia se continuarmos evitando o conflito.
“É uma ideia vã aquela de cumprir o
dever no lugar que nos foi atribuído; forças enormes são desperdiçadas
para nada; o verdadeiro dever é escolher o lugar e dobrar
conscientemente as circunstâncias.”
Robert Musil em O homem sem qualidades
Nas suas diversas aparições públicas, Lula vive dizendo que os jovens deveriam se interessar por política e é claro que qualquer pessoa minimamente comprometida com o social sabe que ele está certo. O problema, no entanto, é o que ele chama de “política”, que na verdade é algo completamente estéril e impenetrável à participação popular: a gestão das formas de reprodução da vida social em época de capitalismo tardio, ou noutras palavras, o consenso democrático liberal. E é evidente que o jovem não tem só desinteresse por isso que hoje se chama “política”, como detesta aqueles que a defendem. Não sem razão. Lula não conseguirá compreender esse processo, mas a sua permanência como única possibilidade para a esquerda, a falta de novos agentes de seu próprio partido, a ausência completa de questionamento ou crítica às instituições, depõe a favor do jovem que se revolta.
É preciso tirar a noção de política, resgatá-la, desse imaginário de um consenso que apenas nos guia à reprodução da mesma lógica exploratória. No fundo, essa política sem política é simplesmente uma gestão da economia que forma burocratas especializados no mercado eleitoral. Uma obrigação engessada que pede de dois em dois anos que saiamos com nosso título eleitoral na mão para fazer nosso “papel de cidadão”. É preciso, portanto, derrubar essa noção da política como conciliação de interesses se quisermos realmente construir o sentido do político. E sendo assim, para revigorar um imaginário da política é preciso perguntar novamente: que é isso, a política? Ou seja, fazer o paradoxal exercício ensinado por Hegel de que para fazer uma ideia avançar é preciso retornar aos seus fundamentos.
Investigar isso significa também vislumbrar os limites da nossa situação. Permita-nos, caro leitor, entretanto um diletantismo: há um momento fundante no pensamento político, aquele em que Trasímaco se encontra com Sócrates e ambos tratam a respeito do justo. Se a justiça é a vantagem do superior – e não do mais forte, como a tradução tradicional expõe – deve-se refletir o que é de fato o devir superior e assim é preciso pôr em xeque a ideia do justo. Todos os capítulos seguintes da República platônica ruminarão sobre o significado de justiça. E, com efeito, é a justiça que dá sentido ao pensamento sobre a política. Longe da ideia de uma reparação dos danos, a política trata da partilha do poder na comunidade. Assim, o movimento que dá suporte ao pensamento político, desde seu início, apoia-se ao mesmo tempo no questionamento categórico da naturalização hierárquica e também na certeza de uma proporcionalidade que forje uma harmonia facilitadora da justiça. Trata-se de indivíduos conscientes que passam a questionar não apenas o instituído, como a própria noção de justiça que organiza as instituições.
Pensar a política consiste, assim, na necessidade de se debruçar ora nas estruturas subjacentes à lógica social posta, ora de ultrapassá-las lançando bases que possibilitem a realização do impossível diante da lógica possível do já instituído. Em certo sentido, num sentido radical talvez, pensar a política é um esforço filosófico, um empreendimento que busca ultrapassar os limites da lógica social num determinado espaço e tempo históricos. Essa atividade significa apontar e transpor o limiar do posto de tal maneira que aquilo que se apresenta no interior da ordem constituída, tanto na visibilidade quanto na invisibilidade no corpo social, não seja omitido. Nem na sua implicação direta, nem mesmo no movimento de investigação para superá-la.
A política é, portanto, luta. O desejo político é que sua desaparição possa finalmente ocorrer. A finalidade (telos) da política é ser superada no limiar da realização efetiva do justo. Por isso, enquanto forma e conteúdo, o desejo político de justiça não barra a dissonância que forja, nem sequer é capaz de se abstrair das relações de cada parte no todo social. A República de Platão é, sem dúvida, um dos primeiros modelos do pensamento que se lança no desafio de levar até as últimas consequências, com todas as suas implicações, a realização da ideia de justiça. Poderíamos seguir, mas seria ocioso. Pensemos nos modernos, então…
Rancière (2018), que realiza uma verdadeira cartografia do pensamento político, por caminhos extremamente diferentes chegou à mesma conclusão que Castoriadis (1987), quando este realiza um verdadeiro mapa do pensamento no final do século XX. Para este último, Aristóteles de fato descobriu a economia, mas ela não passava de uma técnica (epistémé e dynamis). É a política que dirige e deve dirigir todos os saberes: “seu fim deve pois conter a si, subordinar todos os outros fins e é isso mesmo ‘o bem humano’ (tanthropinon agathon)” (CASTORIADIS, 1987, p.286). A fundamental conclusão de Aristóteles reside na demonstração de que se a economia se autonomizasse em relação à política, assistiríamos o fim da pólis. Ora, esta é exatamente a realização do mundo da mercadoria.
Por outro lado, podemos concluir que a política não ocorre sem esse choque no qual, de alguma forma e em algum lugar, coincidem a submissão do aritmético – no sentido de redução das qualidades gerais das relações: relações de trocas, perdas e ganhos, sistema jurídico de contratos – e do geométrico (manutenção das qualidades, da organização igualitária e proporcional entre os membros da comunidade). Noutras palavras, a vida política não pode se reduzir às fórmulas de contrato, espelhos da realização do valor na mercadoria.
O que assistimos hoje, porém, é radicalmente o contrário. É a esterilização da política; a submissão da nossa vida à aritmética dos lucros e aos ganhos das classes abastadas. Uma geral autonomização da economia, que dá sentido à política como gestão dos ganhos e perdas. Assim, na lógica de nosso sistema político o que vemos é a manutenção do privilégio de castas da classe política que tem no Centrão uma concreta realidade e nos militares sua mais ardorosa defesa. Poderíamos dar as coordenadas históricas do momento em que isso começou como horizonte: 1988.
É fato que, enquanto não ultrapassarmos essa lógica, não haverá um genuíno interesse pela transformação efetiva de que necessitamos. A emergência da política se dá pelo desejo de uma justiça que construa um espaço social comum para a plena realização dos sujeitos nela implicados. O pensamento político afirma sua necessidade ao mesmo tempo que afirma o limite da situação dada. É o resultado de um desejo que ao pensar sobre a justiça visa transpor o instituído. A política demonstra, com a obstinação que traz consigo, a suspensão dos cálculos aritméticos do já instituído. Numa fórmula precisa de Castoriadis, a política “é a contestação e questionamento do imaginário social instituído, da instituição (política, social, ideológica) estabelecida da cidade e das significações imaginárias sociais que esta utiliza” (1987, p.287).
Sabemos, porém, que essa noção de política foi esterilizada e substituída pela noção de que o pessoal é político. Se o pessoal é político, logo tudo é política e estamos na dispersão hobbesiana do poder. Hobbes irá se contrapor aos antigos diante da ideia de zoon politikon. É nessa pressuposição que para ele estaria o mal: a capacidade de pessoas privadas decidirem sobre o justo e o injusto. O trajeto de Hobbes é complexo: refutar a ideia de uma politicidade própria ao animal humano, o que, na sua perspectiva, acaba deslocando a luta, própria às partes do poder, para os indivíduos. Essa busca de uma origem do poder tem como função liquidar a parte dos sem partes. Isto porque, trocando em miúdos, nessa perspectiva só há indivíduos e Estado, e assim sendo a soberania é o não-lugar radical das partes que só repousa em si própria. Ou seja: a noção hobbesiana individualiza a política, decompõe o povo em indivíduos e exclui, na guerra de todos contra todos, a guerra de classes que constitui a política. O passo dado nessa direção não só coloca os direitos subjetivos no lugar da regra objetiva, como inventa o direito.
O homem é o lobo do homem e a política só pode ser uma política de resolução dos conflitos. Acontece, para nossa sorte e nosso azar, que essa dimensão da esterilização da política concomitante ao “fim da história” está com prazo de validade vencido. Assistimos a política se afirmando cada vez mais, e estranhamente é a extrema-direita que tem formulado um corpo político justamente pelo questionamento feito às instituições. A luta dos aparatos do Estado para combatê-la – juntamente com ambos os espectros da gestão: direita e esquerda – tem-se mostrado ineficiente. Isso a nível mundial.
Esse seria, portanto, um dos motivos da perda de horizontes políticos por parte da esquerda atrelada à gestão: o imaginário político foi ocupado pela ideia de que a manutenção da ordem deve ser a tônica da defesa da vida. Principalmente num país no qual se mata por arma de fogo mais de 60 mil pessoas por ano e no qual a lógica do “vencedor” – como o sobrevivente exemplar – dominou o horizonte geral. Ficamos reféns de um processo que reproduz a lógica do mesmo e justamente essa manutenção não só produz corpos assassinados pela polícia militar, como também organiza sua negação radical. Ocupada agora pela extrema-direita, a política voltou à cena nos últimos oito anos.
Mas como anda nossa toupeira de esquerda? Precisamos lembrar sempre e falar de novo, para lembrar André Gide, que antes do advento do conflito político, os homens sem qualidades se ocultavam nas sombras da comunidade, entregues à nadificação em que uma condição, mesmo injusta e assimétrica, é naturalizada. Quando os racializados, os condenados da terra, os proletários estão nessa posição de invisibilidade, estão também submetidos ao silêncio; calar é deixar em silêncio a palavra manifesta, deixar de lado o sentido político. Por isso, o ato de fala é fundamental para a promoção do conflito político. É preciso lembrar, entretanto, que tais falas, quando verdadeiramente políticas, não desejam reivindicar lugares, mas destituir os lugares constituídos pela ordem.
Quando a voz dos danificados se ergue, a sua multiplicidade torna-se idêntica ao todo, reivindica o Todo. A busca por justiça torna-se um exercício aberto porque há uma conta que não fecha: uma impossível equação que institui a abertura democrática. Ora, é a interrupção da dominação e a pretensão de responder pelo todo que dá aos sem qualidades a condição da política. Por mais confusa que seja, uma busca pela igualdade no sentido de proporção só funciona negativamente. É uma noção de que há na comunidade, agora tornada política e, portanto, em conflito, algo com o qual ela tem que se haver, um prejuízo historicamente construído que se manifesta e se reconfigura à luz do presente fazendo com que o passado ganhe novo significado. “No Brasil, tudo ia bem até 2013!”, dizem os cínicos gestores.
Se pensarmos o que ocorreu de lá para cá podemos afirmar que é nesse sentido que cada vez mais têm sido afirmadas as lutas daqueles que eram invisibilizados na ordem geral. Até então o conflito não era realmente sentido. Essa voz, ao ser alçada, reconstitui os significados do presente e abre o futuro, e é isto o que engendra a política. Há, portanto, uma política que viceja nas ruas desde pelo menos 2013, mas que a esquerda da ordem não reconhece.
Ora, é exatamente contra essa exaltação da política verdadeira que a “política” atual se volta no mundo inteiro. Só para se ter uma ideia, o número de prisões nos Estados Unidos de militantes mais que dobrou após o assassinato de George Floyd. Também no Brasil, bastou que estudantes oriundos das classes pobres entrassem na faculdade pública para que a direita se organizasse e se unisse para e pela destruição da universidade. Noutras palavras, há uma política de esquerda no horizonte e não há por parte da esquerda institucional fidelidade a ela.
Acontece que para aqueles que foram silenciados, a possibilidade de fala, a ação de falar, torna-se o princípio ativo de construção política. Reside nela o princípio ativo de uma partilha igualitária que traz à cena aqueles que foram relegados à obscenidade da violência e à noção de que não eram capazes de articular uma ideia. É essa partilha igualitária que organiza um espaço sensível no qual se chega à conclusão que os marginalizados falam e que a dominação que recai sobre eles é uma pura contingência que organiza a ordem social.1
Se a política é um conflito fundamental, não limitado à lógica geral da produção de sentido da ordem, seu destino é dar voz aos que não têm voz. Na álgebra do poder instituído há a distribuição simbólica dos corpos em duas categorias: aqueles a quem se vê e aqueles a quem não se vê2; isso porque também a lógica da visibilidade e dos posicionamentos dos “verdadeiros homens” normaliza um espaço excessivo, um lugar da exclusão, um não-lugar. Nesse não-lugar, as zonas de espera, para pensar com Arantes, há uma total falta de cobertura do direito.
Há, portanto, de um lado, essa lógica que distribui os corpos no espaço de sua visibilidade ou de sua invisibilidade e põe em concordância os modos do ser, os modos do fazer e os modos do dizer que convém a cada um. É a lógica do mesmo, a lógica da representação, do lugar e da falta de autonomia. E há a outra lógica que quer se impor; aquela que suspende essa falsa harmonia pelo simples fato de atualizar a contingência da igualdade dos seres falantes e dos organizadores do sentido político (RANCIÈRE, 2018, p. 41).
Agora, essa lógica só se efetiva como abertura da política, por isso, temos de lidar com uma questão central: o grau de organização das forças da ordem para barrar qualquer posição efetivamente política. É aqui que os representantes entram como figuras que terão o papel de reduzir a participação à ideia de adentrar a visibilidade posta e se adequar ao seu lugar na Câmara com sua demanda particular organizada por decretos e ementas. A palavra de ordem é: entrar nos espaços de poder, tomar assento neles. São os policiais da ordem. Ou, pior, como tem se tornado comum: ser um consumidor feliz e realizado diante do objeto adorado, a mercadoria, a um passo de se tornar representante da Prada e por aí vai.
Acontece, porém, que a ficção que busca na representatividade o fim último, acaba cavando um buraco ainda maior nas tensões, porque na letra morta do direito o princípio último é a pura igualdade de qualquer um com qualquer um. É nessa declaração de igualdade, que abstrai as relações concretas e se propõe a forma aritmética das relações sociais atreladas à mercadoria, que se dispõe um novo conflito justamente por ignorar o quadro histórico e as desigualdades fundamentais originadas nele. Ou seja, o social suplanta a bela vontade do direito e da representatividade política.
O social se torna, pois, a verdade da política, ou seja, a verdade política nomeada está situada naquilo que a política – enquanto limitada a gestão – esconde: a base que sustenta a organização social. Há então o desnudamento da relação e conflito de classes.
Na definição de Marx, a classe funciona apenas no sentido do político, no sentido em que há a operacionalização da luta de classes através da definição do proletariado. Ou seja, uma classe que não é uma classe, mas se torna uma como resultado de uma sociedade em decomposição. Nesse sentido, o proletariado que surge, a classe operária que se excede, é a força social que leva o movimento da sociedade ao ponto da verdade colocando em xeque a ilusão da política – mas também enquanto movimento negativo o proletariado é definido por ser uma não-classe; é simplesmente operador do ato revolucionário. O proletariado em seu sentido negativo é aquele que apresenta um déficit radical dos grupos sociais positivos (identificados por demandas particulares e organizados no interior da ordem) porque revela a verdade da mentira política. Essa revelação da verdade da mentira chama-se Ideologia. Logo se vê que a redução do proletariado à categoria sociológica esteriliza sua profundidade.
Em nossa época, a democracia consensual pressupôs o fim da política. Alguns chamam isso de pós-política. O regime democrático se sustenta através da ideia de que garante num mesmo movimento as formas políticas da justiça e as formas econômicas da produção da riqueza (RANCIÈRE, 2018, p.107). Nas suas atuais formas de evitar o conflito, a democracia consensual recusa-se a se pôr como poder do povo, quer seja em sua forma rousseauista – o povo como sujeito da soberania –, quer em sua forma marxista – o povo como proletariado e figura. Trata-se, portanto, de uma democracia sem povo.
A queda num regime democrático que recusa a participação direta de seus membros só foi possível quando as representações institucionais deixaram de ser observadas pela militância, ou seja, quando nos conformamos à institucionalidade. A vitória da democracia formal foi paralela ao seu esvaziamento. Estava, é claro, em germe nas boas intenções de alguns operários, quando da greve na Scania, mas nem nos seus piores pesadelos estava a ideia de que ela serviria para legitimar golpes. Essa democracia formal e consensual é aquela que põe para si o fim do político; tudo se torna uma questão de gestão e controle reabilitando a forma esvaziada de sua efetivação. É a democracia devorando seus filhos.
Essa democracia esvaziada corresponde à ideologia que entre outras coisas evita a verdade de sua falsidade, enquanto a política como conflito busca a sustentação do traço igualitário. Busca dar visibilidade aos invisíveis e reorganizar politicamente as estruturas da comunidade. O consenso, pelo contrário, se determina pelo modo particular de visibilidade do direito. Não é à toa nosso fetiche atual pelo direito, e nosso completo cinismo diante do apego aos direitos humanos, que são palavras de ordem para invasão de nações do sul-global. Isso forjou a identificação absoluta entre a política e a administração do capital. Assim, o consenso pressupõe a inclusão de todas as partes coibindo a subjetivação política.
Organizando as formas de aparição, reduzindo à política a jurisdição, o consenso medica as crises que configuram a política, para evitar que a própria política tenha espaço. Invisibilizando e suprimindo o conflito real por meio da reivindicação e de uma política de decreto, a democracia formal se absolutiza. Trata de organizar as identificações e garantir identidades que sejam formuladas por meio de uma política de contra-insurgência permanente. A grande questão que tal posição efetiva reside no fato de que ao tentar tornar visíveis todas as identidades para a organização comunitária não só se absolutizam os lugares no interior da ordem, como também se fixa uma alteridade radical que se torna estanque e um objeto de ódio absoluto. Esse é o caso do ódio ao imigrante e aos indivíduos racializados.
Ao conformar todas as identidades em espaços identificáveis perde-se de vista o espaço da invisibilidade e a luta para afirmação no interior desse espaço. Isso resulta não só na competição desses iguais, como também na inibição da transformação da estrutura, na eliminação do político e no silenciamento dos que perderam seu lugar na ordem. Como a lei estrutura as formas como as identidades afluem na comunidade, ao tratar do problema dos que não estão contemplados na ordem, busca então definir as regras de sua integração. Esse é o principal problema que enfrentamos no mundo inteiro: no capitalismo de fim de linha, o ódio ao diferente, o ódio àquele que tenta tomar a vaga de emprego daquele que é tido como igual fundamenta um ódio político e ultrarreacionário que, cedo ou tarde, terminará em tragédia se continuarmos evitando o conflito.
Na TV Boitempo, Douglas Rodrigues Barros comenta os caminhos de Frantz Fanon, sua atuação política na luta de libertação da Argélia, sua defesa incondicional do internacionalismo e, sobretudo, a centralidade dos Escritos políticos no conjunto da obra do escritor da Martinica.
Notas
1
Isso demonstra uma asserção presente na maioria dos críticos
antirracistas: o negro só por contingência histórica se tornou
forçadamente um escravo, não há uma natureza negra, uma essência negra
senão como resultados de dramas históricos (Cf. FANON, 2020).
2
Assim Mbembe pensa a relação da visibilidade: “toda a securitização
requer obrigatoriamente a dissimulação de dispositivos globais de
controle de pessoas e tomada de poderes sobre um corpo biológico
múltiplo e em movimento” (MBEMBE, 2019, p. 46.)
Referências bibliográficas
CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FANON, F. Alienação e liberdade. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
MBEMBE, A. Crítica da razão negra. São Paulo: N-1, 2019
RANCIÈRE, J. O desentendimento: política e filosofia. São Paulo: editora 34, 2018.
***
Douglas Rodrigues Barros é escritor, doutor em Ética e Filosofia política pela Unifesp, editor e conselheiro editorial do Lavra Palavra e autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra, 2019) e Racismo (Fibra/Brasil, 2020). Militante do movimento negro, foi coordenador político da Uneafro. Escreve para o Blog da Boitempo esporadicamente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário