por Yuk Hui
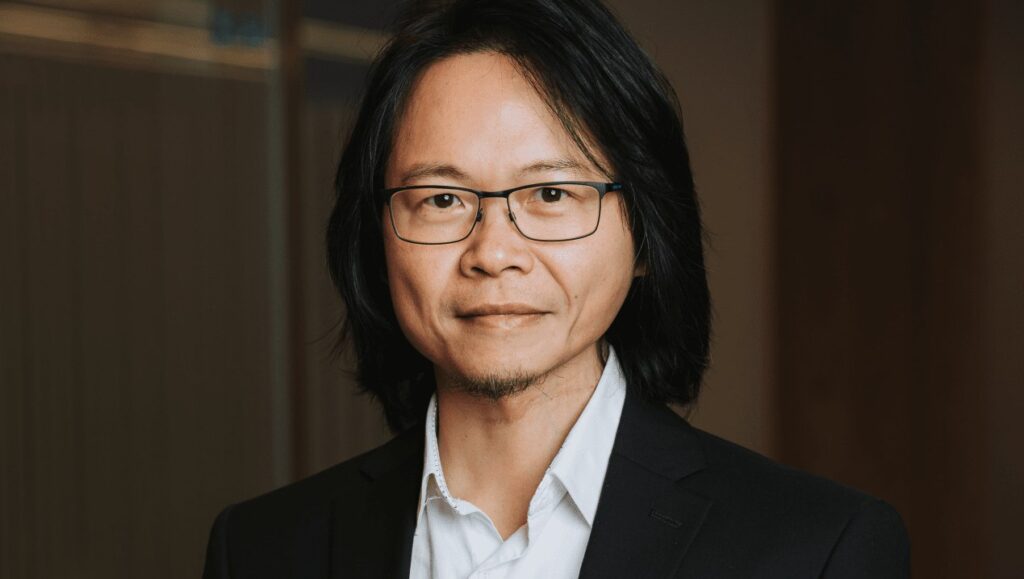
Yuk Hui em entrevista a Oier Etxeberria, no CTXT | Tradução: Rôney Rodrigues
Filósofo chinês aponta: ideia ocidental de universalidade tecnológica só contribuiu para a crise civilizatória. Ele propõe, então, a tecnodiversidade: a inovação local, divergente e ecológica. Poderá ela reconectar a política e a Natureza?
Publicado 17/05/2024 às 20:10 - Atualizado 17/05/2024 às 20:13
Esta conversa ocorreu no contexto de uma conferência organizada pelo centro cultural Tabakalera (em San Sebastián, na Espanha) com o objetivo de pensar as relações entre tecnologia, arte e sociedade. Ter um filósofo cuja formação inicialmente fosse na área de engenharia da computação parecia indicado para falar sobre questões que dizem respeito às três áreas mencionadas. Além disso, o lugar que a proposta filosófica de Yuk Hui passou a ocupar não para de crescer nos círculos que tentam pensar a Inteligência Artificial, os novos objetos digitais ou o legado da cibernética. Considerado por muitos como um filósofo essencial para redescobrir a História da tecnologia, Yuk Hui lecionou na Universidade Leuphana, na Universidade Bauhaus, na Universidade da Cidade de Hong Kong, foi professor visitante na Academia Chinesa de Arte e, atualmente, é professor de Filosofia na Universidade Erasmus de Rotterdam. É coordenador da Rede de Investigação em Filosofia e Tecnologia desde 2014 e membro do júri do Prêmio Berggruen de Filosofia e Cultura desde 2020. Sem dúvida, os vínculos que manteve em vida com Bernard Stiegler (1952-2020) contribuíram porque suas reflexões irromperam com força no campo filosófico, mas não podemos esquecer a prolífica produção teórica que realizou nos últimos anos, com livros como Fragmentar o futuro, Sobre a existência de objetos digitais, A questão relativa à tecnologia na China: um ensaio em cosmotécnica e Recursividade e contingência, que foram traduzidos para uma dúzia de idiomas.
Nas perspectivas abertas pela teoria da mídia, pela crítica da tecnologia ou pela nova ontologia orientada a objetos, é comum encontrar proposições filosóficas baseadas na rejeição da modernidade e do iluminismo, como configurações históricas que optaram por uma versão muito reducionista e empobrecida da razão. O que significa para você colocar a questão técnica no centro desta tradição filosófica? Você acha que essa poderia ser a forma de corrigir esse déficit inerente ao projeto moderno?
Não se trata de aperfeiçoar o projeto moderno. A minha proposta em relação ao que chamo de Cosmotécnica tem mais a ver com a possibilidade de uma mudança de rumo. Realizei uma análise detalhada do que significa modernidade em A questão da tecnologia na China, referindo-me a ela como um momento em que ocorre uma ruptura metodológica e epistemológica na Europa, onde ocorre uma Revolução Científica que dá lugar a uma Revolução Industrial. Até ao século XVI, na China e na Índia, tanto a tecnologia como a ciência ocupavam posições muito avançadas, mas o que acontece na Europa nessa altura é uma mudança radical. É por isso que o historiador, bioquímico e sinologista Joseph Needham se perguntou por que a ciência e a tecnologia modernas tiveram o seu epicentro na Europa e não na China e na Índia. O paradigma então produzido responde a um tipo de pensamento muito específico que funciona muito bem na sua aplicação aos campos científico e também tecnológico. Mas não devemos esquecer que a sua conversão num valor universal e a sua consequente exportação para o resto do mundo é inseparável dos processos de colonização e de globalização. É importante, quando falamos em modernidade, pensar que se trata de uma forma particular de ver o mundo. Uma forma particular de conhecimento que se torna universal ou, melhor, é aceita como tal.
E como isso se relaciona com a sua proposta de Cosmotécnica ou Tecnodiversidade ?
Antes de começar a responder o que entendo por ambos os conceitos, gostaria de fazer um pequeno desvio e focar no conceito de natureza. Para nós, o termo natureza corresponde a uma totalidade que é externa ao ser humano e que não é artificial. Mas, como demonstraram antropólogos e investigadores como Philipe Descola ou Eduardo Viveiros de Castro, este conceito de natureza é moderno e baseia-se na sua oposição à cultura. A este respeito, gosto de recordar aquela anedota que Henri Michaux conta no diário que escreveu durante uma viagem ao Equador. Ao chegar, parece que ele foi a um parque urbano, com suas plantas e árvores devidamente arranjadas, quando uma mulher que participava daquela viagem, vinda da cidade de Manaus, exclamou: “Ah, finalmente a natureza!”, após ter atravessado o Amazonas de canoa. Penso que é uma cena que ilustra como o conceito de natureza que assumimos é em grande parte um produto do enquadramento proposto pela modernidade, pois para esta pessoa a selva não é natureza, mas uma parte dela é. Claro que sempre houve outras formas de entendê-lo, não esqueçamos o animismo ou o analogismo. Por isso, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro cunhou o termo multinatureza. Para os modernos existe apenas uma natureza e uma multiplicidade de culturas. Em vez disso, de uma perspectiva antropológica, pode-se afirmar a existência de uma cultura única e de naturezas múltiplas. A oposição entre natureza e cultura não tem, portanto, a universalidade que lhe é atribuída. Para os indígenas da América, por exemplo, a maioria das plantas e animais possuem alma, uma natureza específica e, portanto, uma predisposição para a comunicação. Em suma, possuem uma faculdade que os inclui naquilo que entendemos por cultura, na medida em que essa alma os dota de consciência reflexiva e de intencionalidade. Faz sentido continuar falando sobre a natureza segundo esta cosmovisão? Além disso, se esta tese estiver correta, devemos pensar também no que esta virada significa para o conhecimento técnico e para o campo da tecnologia.
Mas, nesse caso, não seria talvez mais interessante livrar-nos definitivamente do termo natureza, abandonar o seu uso e tentar compreender o mundo e o nosso lugar nele através de outras ideias ou locuções?
Para mim, a questão é que não podemos extrair um conceito como o de natureza isoladamente e depois pensar em mudá-lo. O que, pelo contrário, podemos pensar é que existe uma multiplicidade de naturezas e, portanto, também de tecnologias e técnicas, e depois perguntar-nos por que razão esta heterogeneidade, esta história de múltiplas tecnologias que estou agora a tentar reconstruir, foi obscurecida pelo processo da modernidade. Esta é a ideia que fundamenta a ideia de tecnodiversidade ou cosmotécnica múltipla. Afinal, a tecnologia não pode ser separada de outras realidades como a religião, a estética ou a filosofia. A tecnologia passa por todos esses fenômenos que a motivam e ao mesmo tempo a limitam. A definição que proponho para definir a cosmotécnica ocorre nesta conjunção entre a ordem cósmica e a ordem moral através de atividades técnicas.
Algumas premissas da cibernética, como a ideia de que o desconhecido pode ser acessado através do já conhecido, podem permanecer estranhas à forma como habitualmente entendemos o conhecimento. Norbert Wiener, o fundador da cibernética, sonhava com um mundo em que não houvesse nada de “desconhecido” para descobrir, pois a sua realidade responderia a uma acumulação de registos ou fatos que pudessem simplesmente ser analisados, processados e combinados infinitamente. O que isso significa para nossos sistemas perceptivos e nossa compreensão da inteligência?
Ainda penso que a cibernética foi o acontecimento filosófico mais importante do século XX, pela seguinte razão: a cibernética superou a oposição entre mecanismo e organismo através do conceito de retroalimentação e feedback de informação. Quando dizemos que graças à cibernética é possível decifrar o desconhecido através do conhecido, estamos nos referindo a um processo em que através da interação recursiva conseguimos produzir uma imagem do nosso objeto de interação, sua posição e os vários aspectos que o determinam. Por outras palavras, produz-se uma circularidade entre um ser e o seu ambiente, um movimento não linear de autoajuste orientado para a definição de um conjunto. Dessa forma acessamos o que inicialmente nos era desconhecido. É assim que basicamente funciona a inteligência artificial.
A linguagem falada também se produz graças à integração de toda uma série de automatismos. Mas você acha que estes são comparáveis aos automatismos probabilísticos com os quais a inteligência artificial opera para moderar a incerteza?
A questão da inteligência é muito complexa e aberta, mas o que é urgente é perguntar se existe uma inteligência única ou, melhor, uma multiplicidade delas. Na minha opinião, a oposição entre inteligência humana e inteligência artificial tende a ser apresentada de uma forma muito ingênua. Não há razão para pensar que sejam a mesma coisa, mas é uma oposição que nos coloca num beco sem saída. É importante ter em mente que ao longo de sua história a própria noção de IA teve diferentes significados. Em 1956, durante a famosa conferência de Dartmouth, quando o termo IA foi cunhado, a ideia era imitar mais de perto a inteligência humana através de uma noção neural de inteligência. Naquela época, as operações da lógica simbólica serviam de modelo para a aquisição do conhecimento comum do mundo. Os cientistas da computação decidiram representar o mundo por meio de lógica formal ou simbólica. Mas já em 1961, Marvin Lee Minsky escreveu um artigo intitulado “Passos em direção à inteligência artificial”, no qual confessava que ninguém poderia realmente definir o que é inteligência e que o seu modelo só poderia ser contingente. Esta mudança foi criticada na década de 1970 pelo filósofo Hubert Dreyfus por considerá-la demasiado cartesiana. Alguns anos depois, surgiria outra proposta baseada na ideia de que a mente funciona graças a uma constelação de neurônios que interagem e avaliam constantemente uns aos outros. Usando a terminologia cibernética, dir-se-ia que estes neurônios são atualizados recursivamente até que a resposta apropriada seja encontrada. Esta forma de compreender a inteligência é conhecida como conexionismo e é o modelo em que se baseia hoje a inteligência artificial. Desta forma, a realidade é entendida como uma grande acumulação de dados que possuímos e que podemos gerir, graças ao fato de termos – claro – um enorme poder computacional. Resumindo, no campo da IA passamos do racionalismo clássico para o empirismo, mas estas duas formas diferentes de compreender a inteligência já foram discutidas na Europa nos séculos XVII e XVIII. Mais tarde, o próprio Emmanuel Kant tentou demonstrar que, na realidade, nem o empirismo nem o racionalismo são capazes de explicar as nossas capacidades cognitivas, visto que a razão prática opera afirmando coisas que não podemos provar, como Deus, a alma imortal e a liberdade. Questões que são irredutíveis tanto ao empirismo como ao racionalismo e que indicam a existência de outras formas de compreender a inteligência. Por exemplo, em relação à IA poderíamos perguntar: em que se baseia o comportamento moral?
Seguindo esta linha, em diversas passagens de Arte e Cosmotecnia você afirma a importância de continuar pensando a arte como forma de conhecimento. Mas se a arte sempre foi uma experiência que permite o acesso ao não-racional, sua obra sustenta que filosoficamente devemos distinguir esta forma de não-racionalidade tanto da racionalidade irracional como da racionalidade científica.
Há coisas que não podemos provar, mas que têm existências efetivas, que desempenham um papel importante na nossa forma de elaborar o pensamento e na nossa vida em geral. Gosto de pensar que são questões irredutíveis à categoria do irracional, por isso tendo a considerá-las não-racionais do que dizer que pertencem à categoria do desconhecido. Não somos capazes de racionalizá-las completamente, mas também não podemos agir sem assumir a sua existência. Por exemplo, podemos nos referir ao conceito de beleza. Para nós é muito normal ver uma flor e dizer que ela é bela ou linda. Mas se tentarmos definir a beleza, teremos imediatamente que nos referir ao seu oposto, à sua negatividade. Não se pode, portanto, demonstrar que esta beleza exista como tal, como coisa, mas sem esse conceito não poderia haver julgamento estético, nem haveria arte. Acho importante assumir essa impossibilidade de pensar a questão estética, seja numa perspectiva clássica ou contemporânea da arte.
Outra questão que aparece em seus ensaios sobre a tecnodiversidade é a dialética entre o particular e o universal. Em algum momento, você afirmou que é preciso pensar filosoficamente sobre o local e pensar a filosofia localmente. Mas como podem estas localidades, nesta era de grandes infraestruturas e plataformas transnacionais, contribuir para o desenvolvimento e a imaginação da tecnologia em vez de estarem simplesmente subordinadas a ela?
Não acredito que devamos nos opor ao universal e ao particular. Para esclarecer esta posição, gostaria de me referir a uma anedota que li no famoso livro de Paul Hazard, A crise de consciência europeia. Conta como, no século XVII, antes da chegada do Iluminismo, Luís XIV e seu governo, interessados em estabelecer o comércio francês e difundir a verdadeira fé, enviaram uma delegação ao Sião (Tailândia) através da qual tentaram convencer o príncipe a converter-se ao cristianismo. Mas a resposta que obtiveram gerou muita surpresa. Visto que o príncipe alegava que, se a divina Providência quisesse que reinasse uma única religião, nada lhe teria sido mais fácil do que levar a cabo tal plano; mas como Deus tolerou uma multidão de religiões diferentes, a conclusão foi muito simples: Deus prefere ser glorificado por uma prodigiosa quantidade de criaturas que o louvam, cada uma à sua maneira. Esta história ilustra perfeitamente a importância da diferença diante da universalidade e nos permite superar a relação entre o particular e o global em relação à minha proposta de pensar a tecnodiversidade. Uma proposta que não se refere apenas à pluralidade tecnológica, mas à ideia de gerar uma matriz que nos permita pensar problemas como as alterações climáticas ou a crise ecológica. Esta matriz consiste fundamentalmente em três elementos: tecnodiversidade, noo-diversidade (noo- do grego nous: “mente” ou “intelecto”) e biodiversidade. Para mim é importante pensar essas três diversidades em conjunto, pois estão interligadas.
Você poderia dar um exemplo concreto que nos permita entender melhor a ligação entre essas três variáveis que coincidem no conceito de tecnodiversidade?
A Tecnodiversidade é uma proposta onde se articulam recursivamente atividades técnicas, ecológicas e reflexivas. Por exemplo, em relação à biodiversidade, hoje não podemos pensar apenas em preservar uma ou outra espécie, temos que pensar na forma como podemos conviver com elas. Devemos levar em conta a variedade de respostas que cada região ou cosmovisão é capaz de oferecer diante de um desastre de determinada dimensão, seja nacional ou internacional. Existem, é claro, vários níveis de eficácia nestas respostas. Mas aí chegam os agrotóxicos, por exemplo, que são universais. Sabemos que ir atrás da estrutura biológica do inseto pode ser uma solução muito eficaz, mas também temos consciência dos múltiplos desastres que isso gera. Utilizo o exemplo dos pesticidas como exemplo de não respeito pelas noo-diversidades, o que por sua vez causa um problema na biodiversidade. Se nos referirmos à história, existem várias dinâmicas em relação a estas três diversidades. Embora as tecnologias que utilizamos hoje sejam cada vez mais homogêneas e a noo-diversidade não seja respeitada, sem falar na biodiversidade. Insisto que precisamos pensar o conceito de local através desta matriz.
Uma questão recorrente em seus escritos é a relação que se estabeleceu historicamente entre natureza e tecnologia. Segundo a cibernética, não podemos mais pensar nas máquinas como um aparato de causalidade linear, mas dentro desta metaciência a ideia de natureza também parece explodir em todas as direções. Penso em teorias como a hipótese de Gaia, conhecida por estar situada na intersecção da cibernética e da natureza. Você poderia elaborar essa questão?
Em Contingência e Recursão tentei interpretar a história da filosofia europeia moderna a partir da oposição entre mecanismo e organismo. Por exemplo, para René Descartes e muitos outros a filosofia dominante era mecanicista. Para eles, até os seres humanos poderiam ser entendidos como mecanismos que operam seguindo causalidades lineares. Causalidade linear significa que se houve um efeito – se algo acontecer – tinha que haver uma causa anterior a ele e que também poderia referir-se a outra causa e assim por diante, até chegar à causa primeira, ou seja, Deus. Em suma, no mecanicismo encontramos uma máquina determinada por causalidades lineares. O exemplo do relógio pode ser ilustrativo nesse sentido. Se uma parte de um relógio mecânico quebra, é toda a máquina que quebra, já que se trata de uma máquina linear. Pelo contrário, se quebrarmos a perna de uma aranha, ela poderá continuar a depender de outras pernas e continuará funcionando. Há uma diferença entre uma causalidade diversa que um organismo vivo expõe e que esse mecanismo é incapaz de explicar. Temos que voltar a Emmanuel Kant para explicar esta diferença, especificamente a um livro intitulado A Crítica do Julgamento (1790), que consiste em duas partes. No primeiro ele trata do julgamento estético e depois do julgamento teleológico, e é aí que ele começa a pensar sobre a biologia. Trata-se da diferença que podemos encontrar, como forma de agir, no julgamento estético e no julgamento teleológico.
Mas que relação tem este encontro entre duas formas de ação com a cibernética?
A cibernética, como ideia latente, já está aqui, em quem afirma que existe um juízo determinante, que impõe o universal ao particular, mas que existe também um outro tipo de juízo, o reflexivo, que tenta procurar o universal no particular. Dando um salto em direção à cibernética, lembremos o primeiro capítulo do famoso livro Cibernética ou controle e comunicação em animais e máquinas de Norbert Wiener, no qual na introdução ele opõe o tempo newtoniano (mecânico) e o tempo bergsoniano (experiencial). Em suma, Norbert Wiener chega a dizer que as máquinas cibernéticas, ao serem capazes de se autorregularem, superaram esta oposição entre vitalismo e mecanicismo. Uma ideia que terá muitas aplicações como a “hipótese Gaia” proposta e desenvolvida por um engenheiro que trabalhou na Nasa chamado James Lovelock. O que foi Gaia? Segundo Lovelock, antes de trabalhar com Lyn Margulis, que mais tarde impôs uma nova definição, um sistema cibernético ou uma máquina capaz de operações homeostáticas. Desta forma, para nós neste momento Gaia refere-se a duas imagens, por um lado a cibernética e por outro a ecologia.
Quais seriam, finalmente, as consequências políticas que, na sua opinião, poderiam derivar desta dupla imagem?
Há quem pense na Terra como uma nave espacial com a qual poderíamos viajar para outra galáxia. Sugiro que é melhor eliminar essas ideias e pensar novamente em colocar os pés no chão. Por exemplo, a questão chave da ecologia, para mim, não é tanto proteger os animais e as plantas, mas sim aprofundar a questão e as possibilidades de coexistência. Pensar na tecnologia a partir desse ponto de partida. O que acontece com essas máquinas que estão entrando, por exemplo, agora mesmo na Amazônia? Que tipo de convivência ocorrerá entre as visões de mundo que habitam o território e a tecnologia recém-adquirida? Que processos de adaptação podem ocorrer?
Nenhum comentário:
Postar um comentário