Alfredo Gil (*)
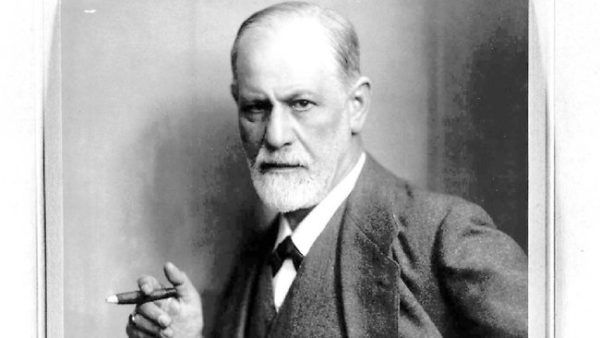
As tensões e preocupações que planam sobre nossas existências
justificam a retomada que tem sido feita da definição de crise de
Antonio Gramsci: “A crise é quando o velho mundo está morrendo e que o
novo tarda a nascer. E, neste claro-obscuro, nascem os monstros”.
Em 1915, Freud define o luto como reação à perda de uma pessoa amada,
e acrescenta: “ou, de uma abstração vinda em seu lugar”. Ele dará como
exemplos a pátria, a liberdade, um ideal, etc. A reação à perda é de
tristeza profunda e de desinteresse total pelo mundo externo.
A proposição de Freud de estender o sentimento de luto a “uma
abstração” nos leva a pensar sobre as coisas às quais podemos nos apegar
e que o suporte do apego não é necessariamente um corpo físico podendo
se materializar de uma outra maneira. O que dá corpo ao sentimento
patriótico, de pertencimento? O que dá corpo ao almejo de liberdade e a
busca de um ideal? Seguindo os passos de Freud, tais “abstrações”, como
ele diz, devem se materializar minimamente para que, em certos momentos
da vida de alguém, ou de um povo, a perda seja sentida como falta,
desencadeando o luto.
Existem formas de apego cuja natureza tomamos como uma evidência: é o
caso dos laços familiares, o amor aos pais, irmãos e irmãs. Mas a
evidência não deve nos impedir de lembrar que a intensidade de tais
laços pode existir na sua forma inversa, qual seja, a do ódio.
Contrariamente ao que se possa imaginar, isto significa também que a
perda de uma pessoa odiada pode levar o enlutado a um processo tão
doloroso – e por vezes mais – quanto a perda de uma pessoa amada.
Mas voltemos à extensão, audaciosa, proposta por Freud, sobre o que
se perde quando se trata da pátria, da liberdade, ou de um ideal.
Infelizmente, nossa atualidade é repleta de exemplos: quem poderia negar
o sentimento profundo de enlutamento da imensa massa migratória em
direção à Europa desde 2015, no qual se concentra tanto a perda de
pessoas amadas, quanto a da pátria, da liberdade, de ideais, etc ? Como
não ser afetado quando se escuta um jovem contar seu exílio, que inicia
no Máli aos quinze anos, atravessando a África em carros e caminhões
durante dois meses em direção da Líbia, para cruzar o Mar Mediterrâneo e
desembarcar na ilha de Lampedusa (Itália) até chegar em Paris? Diante
de uma fala que busca traçar uma tal “experiência”, marcada por tantas
perdas e horror, pode-se levar a pensar menos no que este jovem perdeu e
mais naquilo que ainda resta.
Sempre na linha da “extensão freudiana” sobre o luto, podemos evocar a
reação de milhares de pessoas contra o atentado da agência do jornal
Charlie Hebdo em 2015, que foi muito além da fronteira francesa através
da afirmação “Je suis Charlie”. Identificar-se com aquele que morreu
assassinado era a maneira de dizer que a liberdade é um valor da vida
incontestável. Sua restrição (no caso, a liberdade de expressão) ou sua
perda total seria a impossibilidade de conjugar o verbo ser na primeira
pessoa com o complemento que parece melhor representar valores
irrevogáveis para o viver juntos: “eu sou Charlie”.
Não há dúvida de que as diferentes formas de redes sociais, de meios
de informação, têm nos atingido intimamente, nos afetando profundamente
quando nos trazem, por vezes em tempo real, imagens que retratam
acontecimentos do outro lado do mundo. Em outros termos, enquanto a
relação espaço-temporal encolhe, nosso ego se estende, nos dando a
possibilidade de comovermos e de afirmarmos coletivamente, “eu sou
Charlie”, onde quer que estejamos. Mais uma observação sobre as redes
sociais. Elas permitem a circulação de ideias, de opiniões, de
informações, autorizando facilmente, e por vezes incitando, uma tomada
de posição bastante abstrata. Neste sentido, não é raro que as redes ao
invés de articular discursos elas enredam as pessoas num verdadeiro
campo de batalha, num toma lá dá cá.
Neste clima de crises e de guerras algumas parecem tomar formas
inéditas. Assiste-se a uma guerra através do mundo midiático veiculada
pelas redes sociais, como aquela que houve entre os responsáveis
políticos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, jogando com a
segurança internacional, se lançando twetter como mísseis. Há também uma
guerra local como a que assistimos no Brasil, que aposentou ou matou o
traço identitário da cordialidade, caro ao nosso Sérgio Buarque de
Holanda, traço que, por mais cínico que fosse na sua forma de domínio,
preservava a aparência dos códigos de civilidade. Atualmente, qualquer
“Zé ninguém” (como dizia Wilhelm Reich, discípulo e dissidente de Freud)
enche a boca para dizer o que pensa, com a certeza de dizer a verdade…
sobre o outro, é claro, e sem pudor.
Houve duas grandes guerras no tempo de Freud, que eram guerras com
fronteiras, pois eram guerras de nações. Mas hoje em dia, há também os
que chamam de guerra a luta contra o terrorismo, um inimigo sem
fronteiras, que irrompe contra os valores ocidentais a golpes de facada.
E há guerras como aquela do jovem malinês, que escapando da miséria e
do fundamentalismo, ainda tenta encontrar as palavras que o permitiriam
narrar o horror que somente ele viu e viveu, nomear as perdas ao longo
da sua travessia para se reconciliar com o lugar que garanta o enunciado
tão elementar mas essencial: “eu sou malinês”. Por fim, há uma guerra
identitária que é particularmente movida pelo ódio e alimenta as
posições nacionalistas radicais. Qual estrato da natureza humana poderia
explicar o aumento da extrema direita alemã no estado da Saxônia, que
tem níveis de desemprego baixíssimo, e que estampou recentemente seu
ódio ao estrangeiro na capital, Chemnitz. Embora nesta cidade os
empresários sofram com a carência de trabalhadores e aceitem oferecer a
formação necessária a refugiados (Sírios e Afegãos), estes são
confrontados com a recusa por parte da administração para obterem suas
autorizações de trabalho.
Nestes tempos de crise e de guerra, impõe-se a leitura de
“Arqueologia da violência: a guerra nas sociedades primitivas”, de
Pierre Clastres. O estudo do antropólogo e etnólogo francês, publicado
em 1977, pode ser lido hoje retirando-se o adjetivo “primitivas”. Na
arqueologia em questão encontra-se uma organização social que baseia seu
funcionamento num princípio binário, porém interdependente, na medida
em que “a existência do Outro, afirma Pierre Clastres, é desde o início
posta no ato que o exclui, é contra as outras comunidades que cada
sociedade afirma seu direito exclusivo sobre um território determinado, a
relação política com os grupos vizinhos é imediatamente dada”.
As tensões e preocupações que planam sobre nossas existências
justificam a retomada que tem sido feita da definição de crise de
Antonio Gramsci: “A crise é quando o velho mundo está morrendo e que o
novo tarda a nascer. E, neste claro-obscuro, nascem os monstros”.
--------------
(*) Alfredo Gil é psicanalista em Paris; membro
da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e da Association
Lacanienne Internationale (ALI). E-mail: alfredo.gil@wanadoo.fr
Fonte: https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/10/sobre-guerras-e-lutos/ 09/10/2018
Nenhum comentário:
Postar um comentário