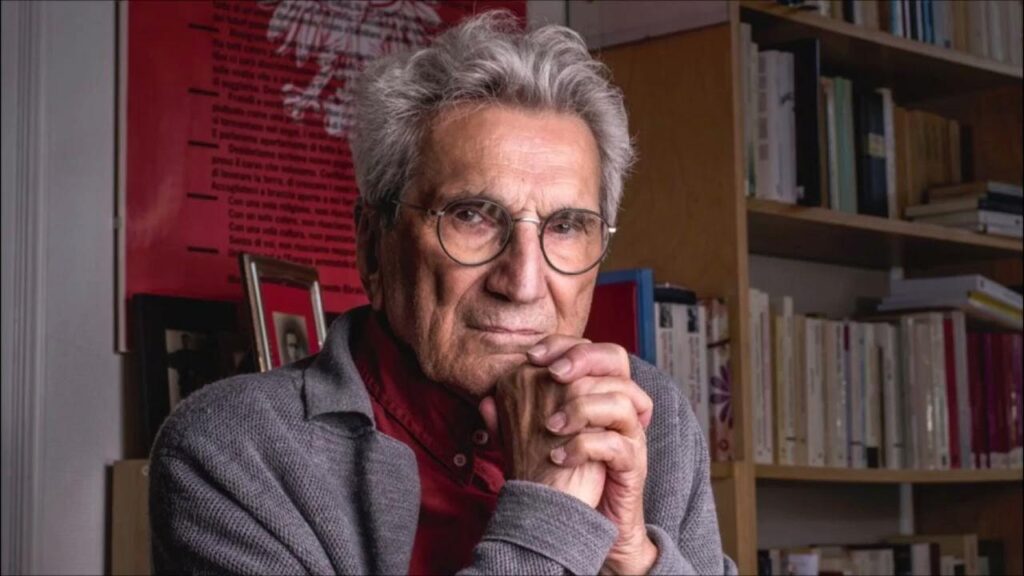por Toni Negri
Para ele, uma esquerda autossuficiente não
enxergou as mutações do capital, nem buscou respostas. Daí a “derrota
colossal” pós-1970. Mas o sistema segue em crise, o poder “é sempre
dividido” e o amor “mantém a espécie humana em pé”
Da infância nos anos de guerra ao aprendizado de filosofia e à
militância comunista, de 68 ao massacre da Piazza Fontana, do Poder
Operário à Autonomia e de 77 à prisão e ao exílio. E novamente a prisão,
antes da liberdade definitiva. Toni Negri – que contou sua trajetória,
em parceria com Girolamo De Michele, em três volumes autobiográficos: Storia di un comunista [História de um comunista], Galera e esilio [Prisão e exílio] e Da Genova a Domani [De Gênova ao amanhã] (Ponte alle Grazie) – completou 90 anos no último dia 1º de agosto.
Nesta entrevista, concedida ao jornal Il Manifesto, o
filósofo e militante retoma momentos cruciais de sua vida, como os anos
1960, o 68 italiano, os anos de prisão e exílio. Também coloca em
perspectiva o Partido Comunista Italiano, que em determinado momento
caiu na armadilha de um justicialismo e delegou a política aos
magistrados, processo que está na origem, segundo Negri, do
desaparecimento da esquerda no país, nos dias atuais
A entrevista aborda também os escritos que deram ao filósofo uma
renovada projeção internacional, em coautoria com Michael Hardt,
professor de literatura na Duke University, nos Estados Unidos, como: Império, Multidão, Comum e O Bem Estar Comum [Record]. E ainda revisita sua aproximação a pensadores como Spinoza, sobre quem escreveu um importante livro – Spinoza Subversivo – quando estava na prisão.
Por fim, Toni Negri responde a um questionamento a respeito do modo
como se refere a São Francisco de Assis, ao qual ele diz se sentir
próximo desde muito cedo. Para ele, Francisco é, sobretudo, um modo de
trazer o amor, “como uma arma para a vida”, para o campo político. Diz
Negri:
“Francisco é o amor contra a propriedade: exatamente o que poderíamos
ter feito na década de 1970, revertendo esse desenvolvimento e criando
uma nova maneira de produzir. Francisco nunca foi suficientemente
abordado, nem a importância que o franciscanismo teve na história
italiana foi devidamente levada em conta. Menciono isso porque quero que
palavras como amor e alegria entrem na linguagem política.”
_____________
Roberto Ciccarelli – Você completou 90 anos. Como vive o seu tempo hoje?
Toni Negri – Lembro-me de Gilles Deleuze, que sofria
de uma doença semelhante à minha. A assistência e a tecnologia de que
dispomos hoje não existiam naquela época. A última vez que o vi ele se
movia com um carrinho com cilindros de oxigênio. Foi muito difícil. Hoje
também é para mim. Acho que nessa idade cada dia que passa é um dia a
menos. Você já não tem forças para torná-lo um dia mágico. É como quando
você come uma boa fruta e ela deixa na boca um gosto maravilhoso. Esse
fruto é a vida, provavelmente. É uma de suas grandes virtudes.
Noventa anos são um século breve.
Pode haver vários séculos breves. Há o clássico período definido por
Hobsbawm, de 1917 a 1989. Houve o século americano, que foi bem mais
curto. Durou desde os acordos monetários e de governança global em
Bretton Woods até os atentados às Torres Gêmeas em setembro de 2001. No
que me concerne, meu longo século começou com a vitória bolchevique,
pouco antes de eu nascer, e continuou com as lutas dos trabalhadores e
todos os conflitos políticos e sociais dos quais participei.
Este breve século terminou com uma derrota colossal.
É verdade. Mas eles pensaram que era o fim da história e que havia
começado uma era de globalização pacificada. Nada mais falso, como
verificamos todos os dias há mais de 30 anos. Estamos em um momento de
transição, mas na realidade sempre estivemos. Embora possa passar
despercebido, encontramo-nos em uma nova era marcada pelo ressurgimento
mundial de lutas, contra as quais existe uma resposta dura. As lutas dos
trabalhadores começaram a se cruzar cada vez mais com lutas feministas,
antirracistas, em defesa dos imigrantes e pela liberdade de movimento,
ou com as lutas ambientais.
Filósofo, você se tornou professor em Pádua ainda muito jovem. Participou da Quaderni Rossi,
a revista do operariado italiano. Fez pesquisa e trabalho de base nas
fábricas, a começar pela Petroquímica em Marghera. Você fez parte,
primeiro, do Potere Operaio, depois da Autonomia Operaia.
Você viveu o longo 68 italiano, começando com o impetuoso 1969 dos
trabalhadores em Corso Traiano, em Turim. Qual foi o momento político
culminante dessa história?
A década de 1970, quando o capitalismo antecipou fortemente uma
estratégia para o seu futuro. Com a globalização, precarizou-se o
trabalho industrial e todo o processo de acumulação de valor. Nessa
transição, foram lançados novos polos produtivos: trabalho intelectual,
trabalho afetivo, trabalho social que constrói a cooperação. Na base da
nova acumulação de valor também estão, é claro, o ar, a água, a vida e
todos os bens comuns que o capital continuou a explorar para neutralizar
a queda da taxa de lucro que vinha sofrendo desde os anos 1960.
Por que, desde meados dos anos 1970, a estratégia capitalista triunfou?
Porque faltou uma resposta da esquerda. De fato, por muito tempo
houve um total desconhecimento desses processos. Desde o final da década
de 1970, foi eliminada qualquer força intelectual ou política, pontual
ou de movimento, que tentasse mostrar a importância dessa transformação e
que visasse a reorganização do movimento operário em torno de novas
formas de socialização e organização política e cultural. Foi uma
tragédia. Aqui aparece a continuidade do curto século no tempo que
vivemos agora. Havia uma vontade da esquerda de bloquear o quadro
político para preservar o que já tinha.
E o que essa esquerda tinha?
Uma imagem poderosa, mas já então insuficiente. Mitificou-se a figura
do trabalhador industrial sem perceber que ele mesmo desejava algo
muito diferente. Ele não queria se conformar com a fábrica de Agnelli,
mas destruir sua organização; ele queria construir carros para oferecer
aos outros sem escravizar ninguém. Em Marghera, eles não queriam morrer
de câncer ou destruir o planeta. Isso é basicamente o que Marx escreveu
em Crítica ao Programa de Gotha: contra a emancipação pelo
trabalho mercantil patrocinado pela social-democracia e pela libertação
da força de trabalho do trabalho mercantilizado. Estou convencido de que
a direção tomada pela Internacional Comunista – de forma óbvia e
trágica com o stalinismo, e depois de forma cada vez mais contraditória e
impetuosa – destruiu o desejo que mobilizava massas gigantescas. Para
toda a história do movimento comunista, aquela foi a batalha.
O que foi enfrentado naquele campo de batalha?
Por um lado, havia a ideia de libertação. Na Itália, foi iluminada
pela resistência contra o nazifascismo. A ideia de libertação foi
projetada na própria Constituição, como a interpretamos então quando
éramos jovens. E aqui eu não subestimaria a evolução social da Igreja
Católica que culminou no Concílio Vaticano II. Por outro lado, havia o
realismo, herdado da social-democracia pelo Partido Comunista Italiano,
aquele de Amendola e dos seguidores de Togliatti, de diferentes origens.
Tudo começou a desmoronar nos anos 1970, precisamente quando, pelo
contrário, surgiu a possibilidade de inventar uma nova forma de vida,
uma nova forma de ser comunistas.
Você continua a se definir como comunista. O que significa isso hoje?
O que significou para mim quando jovem: conhecer um futuro em que
teríamos conquistado o poder de ser livres, de trabalhar menos, de nos
amar. Estávamos convencidos de que conceitos burgueses como liberdade,
igualdade e fraternidade poderiam se materializar em palavras de ordem
como cooperação, solidariedade, democracia radical e amor. Pensamos e
fizemos, assim pensou a maioria que votou na esquerda e a fez existir.
Mas o mundo era e é insuportável, tem uma relação contraditória com as
virtudes essenciais do viver junto. No entanto, essas virtudes não se
perdem, são adquiridas por meio da prática coletiva e vêm acompanhadas
da transformação da ideia de produtividade, o que não significa produzir
mais bens em menos tempo, nem travar guerras cada vez mais
devastadoras. Pelo contrário, trata-se de alimentar a todos, modernizar,
fazer as pessoas felizes. O comunismo é uma paixão coletiva alegre,
ética e política que luta contra a trindade da propriedade, das
fronteiras e do capital.
As prisões de 7 de abril de 1979, primeiro momento da
repressão ao movimento da autonomia operária, marcaram um antes e um
depois. Por diversas razões, a meu ver, foi também pela história do Il Manifesto, graças
a uma vibrante campanha garantista que durou anos, um caso jornalístico
único realizado com militantes do movimento, um grupo de valentes
intelectuais e o Partido Radical. Oito anos depois, em 9 de junho de
1987, quando desabou o castelo das acusações cambiantes e infundadas,
Rossana Rossanda [fundadora do jornal Il Manifesto] escreveu que foi uma “reparação tardia e parcial de tantas coisas irreparáveis”. O que tudo isso significa para você hoje?
Foi sobretudo o sinal de uma amizade que nunca foi traída. Rossana
foi para nós uma pessoa de uma generosidade incrível. Porém, em
determinado momento, ela também parou: ela não era capaz de
responsabilizar o PCI pelo que o PCI havia se tornado.
Em que ele se tornou?
Em um opressor. Ele massacrou aqueles que denunciaram a situação em
que ele se meteu. Naqueles anos, muitos de nós dissemos isso ao partido.
Havia outra maneira, que era ouvir a classe trabalhadora, o movimento
estudantil, as mulheres e todas as novas formas pelas quais as paixões
sociais, políticas e democráticas estavam se organizando. Propusemos uma
alternativa de maneira honesta, limpa e em massa. Fazíamos parte de um
enorme movimento que investiu nas grandes fábricas, nas escolas e nas
gerações. O fechamento do PCI levou ao surgimento do extremismo
terrorista. Pagamos por tudo isso e muito caro. Só eu passei um total de
14 anos no exílio e 11 anos e meio na prisão. Il Manifesto
sempre defendeu nossa inocência. Era completamente idiota que eu ou
outros membros da Autonomia fôssemos considerados sequestradores de Aldo
Moro ou assassinos de companheiros. Entretanto, na campanha pela
inocência, que se manteve corajosa e importante, um aspecto substancial
foi deixado de lado.
Qual?
Fomos politicamente responsáveis por um movimento muito mais amplo
contra o “compromisso histórico” entre o PCI e os democratas-cristãos.
Houve uma resposta da polícia de direita contra nós, e isso é
compreensível. Pelo contrário, o que não se quer perceber é a
abrangência que o PCI deu a esta resposta. No fundo, eles temiam que o
horizonte da classe política mudasse. Se esse nó histórico não for
compreendido, como se poderá lamentar a inexistência de uma esquerda na
Itália atual?
A operação de 7 de abril e o chamado “teorema de Calogero” [em referência ao procurador que investigava o caso e que pediu as prisões dos principais líderes da Autonomia Operária]
foram considerados um passo para a conversão de uma parte não
desprezível da esquerda ao “judiciarismo” e a delegação da política ao
poder judiciário. Como foi possível cair em tal armadilha?
Quando o PCI substituiu a centralidade da luta econômica e política
pela luta moral, e o fez por meio dos juízes que gravitavam em torno do
partido, encerrou sua trajetória. Eles realmente acreditavam que estavam
usando o judiciarismo para construir o socialismo? O judiciarismo é uma
das coisas mais apreciadas pela burguesia. É uma ilusão devastadora e
trágica que nos impede de ver o uso classista da lei, da prisão ou da
polícia contra os subalternos. Naqueles anos, os jovens juízes também
mudaram. Antes eram muito diferentes. Eram chamados de “preceptores de
assalto”. Lembro-me dos primeiros números da revista Democrazia e Diritto [Democracia e Direito],
no qual também colaborei. Eles me encheram de alegria porque estávamos
falando sobre justiça de massa. Depois a ideia de justiça decaiu de
forma bem diferente, voltou aos conceitos de legalidade e legitimidade. E
no Judiciário deixou de haver posição política, restando apenas
coligações entre correntes. Assim, temos hoje uma Constituição reduzida a
um pacote de regras que nem mais correspondem à realidade do país.
Na prisão, você continuou a batalha política. Em 1983, escreveu um documento na prisão, publicado por Il Manifesto, intitulado Do You Remember Revolution? [Você lembra da revolução?].
Falava da originalidade do 68 italiano, dos movimentos dos anos 70 que
não podiam ser reduzidos aos “anos de chumbo”. Como você viveu aqueles
anos?
Aquele documento dizia coisas importantes com certa timidez. Acho que
estava dizendo mais ou menos as coisas que acabei de recordar. Foi um
período difícil. Estávamos dentro, tínhamos que sair de alguma maneira.
Confesso que em meio àquele imenso sofrimento era melhor para mim
estudar Spinoza do que pensar na escuridão absurda em que nos
encerraram. Escrevi um longo livro sobre Spinoza e isso foi meio que um
ato heróico. Eu não poderia ter mais de cinco livros em minha cela. E
estava constantemente mudando de prisão especial: Rebibbia, Palmi,
Trani, Fossombrone, Rovigo. Cada vez em uma nova cela, com pessoas
diferentes. Esperar alguns dias e recomeçar. O único livro que carreguei
comigo foi a Ética de Spinoza. Tive a sorte de terminar meu
texto antes do motim na prisão de Trani em 1981, quando as forças
especiais destruíram tudo. Fico feliz que esse livro tenha produzido um
choque na história da filosofia.
Em 1983 você foi eleito deputado e saiu da prisão por alguns
meses. O que você acha do momento em que votaram no parlamento a favor
de seu retorno à prisão e você decidiu se exilar na França?
Ainda sofro muito com isso. Se tenho que fazer um julgamento
histórico e imparcial, acho que fiz bem em sair. Na França fui útil para
estabelecer relações entre gerações e pude estudar. Tive a oportunidade
de trabalhar com Félix Guattari e pude entrar nos debates do momento.
Me ajudou muito a entender a vida dos “sans papiers” [ou “sem
documentos”, referência aos imigrantes ilegais na França]. Eu também
estava nessa situação: eu dava aulas, mesmo sem ter uma carteira de
identidade. Meus colegas da Universidade de Paris 8 me ajudaram, mas em
outros aspectos acho que me enganei. Fiquei profundamente abalado por
ter deixado meus companheiros na prisão, aqueles com quem vivi os
melhores anos da minha vida e as revoltas em quatro anos de prisão
preventiva. Ainda dói tê-los deixado. Aquela prisão destruiu a vida de
colegas que eu amava muito e, em muitos casos, também de suas famílias.
Tenho 90 anos e fui salvo. Mas isso não me traz mais serenidade diante
daquele drama.
Rossanda também o criticou…
Sim, ela me pediu para me comportar como Sócrates. Respondi que
corria o risco de acabar como o filósofo. Por causa dos relacionamentos
na prisão, eu poderia ter morrido. Pannella me tirou materialmente da
prisão e depois jogou toda a culpa em mim porque eu não queria voltar.
Muitas pessoas me enganaram. Rossana me alertou naquela época, e talvez
ela estivesse certa.
Houve outra ocasião em que ela fez isso?
Sim, quando ela me disse para não voltar de Paris para a Itália em
1997, após 14 anos de exílio. Eu a vi pela última vez antes de partir,
em um café perto do Museu Cluny, o museu nacional da Idade Média. Ela me
disse que queria me amarrar com uma corrente para me impedir de pegar
aquele avião.
Por que você decidiu voltar para a Itália?
Eu estava convencido de que iria lutar pela anistia para todos os
companheiros da década de 1970. Na época, isso parecia possível. Fiquei
seis anos na prisão até 2003. Talvez Rossana tivesse razão.
Que lembranças você tem dela hoje?
Lembro-me da última vez que a vi em Paris. Ela era uma amiga muito
querida que estava preocupada com minhas viagens à China, com medo de
que algo de mal se passasse comigo. Ela era uma pessoa maravilhosa,
naquela época e sempre.
Anna Negri, sua filha, escreveu Con un piede impigliato nella storia [Com um pé enredado na história] (DeriveApprodi), que conta essa história do ponto de vista de seus afetos e de outra geração.
Tenho três filhos maravilhosos, Anna, Francesco e Nina, que sofreram
de forma indescritível o que aconteceu. Assisti à série de Bellocchio
sobre Aldo Moro e ainda fico atônito por ter sido acusado dessa incrível
tragédia. Penso em meus dois primeiros filhos, que estavam na escola.
Alguns os viam como filhos de um monstro. Esses meninos, de uma forma ou
de outra, suportaram eventos enormes. Eles saíram da Itália e voltaram,
eles mesmos passaram por aquele longo inverno. O mínimo que eles podem
ter é uma certa raiva dos pais que os colocaram nessa situação. E eu
tenho uma certa responsabilidade nessa história. Nós nos tornamos amigos
novamente. Para mim, isso é um presente de imensa beleza.
No final da década de 1990, coincidindo com os novos
movimentos globais e, em seguida, com os movimentos contra a guerra,
você conquistou uma posição de grande reconhecimento junto com Michael
Hardt, começando com a publicação de Império. Como você
definiria a relação entre filosofia e militância hoje, em um momento de
retorno à especialização e às ideias reacionárias e elitistas?
É difícil para mim responder a essa pergunta. Quando as pessoas me
dizem que fiz uma “ópera”, eu respondo: lírica? Dá para acreditar nisso?
Tenho de rir. Porque sou mais um militante do que um filósofo. Isso
pode fazer algumas pessoas rirem, mas eu me vejo assim, como Papageno…
[o personagem pássaro da ópera A flauta mágica, de Mozart]
Mas a verdade é que você escreveu muitos livros.
Tive a sorte de estar a meio caminho entre a filosofia e a
militância. Nos melhores períodos da minha vida, passei constantemente
de um para o outro. Isso me permitiu cultivar uma relação crítica com a
teoria capitalista do poder. Pivô em Marx, fui de Hobbes a Habermas,
passando por Kant, Rousseau e Hegel. Pessoas sérias o suficiente para
serem combatidas. Em contrapartida, a linha Maquiavel-Spinoza-Marx era
uma alternativa real. Para reiterar: a história da filosofia, para mim,
não é um tipo de texto sagrado que misturou todo o conhecimento
ocidental, de Platão a Heidegger, com a civilização burguesa e
transmitiu conceitos funcionais ao poder. A filosofia faz parte de nossa
cultura, mas deve ser usada para o que é necessário, ou seja, para
transformar o mundo e torná-lo mais justo. Deleuze falou de Spinoza e
retomou a iconografia que o retratava como Masaniello. Gostaria que isso
fosse verdade para mim. Mesmo agora que estou com 90 anos, ainda tenho
essa relação com a filosofia. Viver a militância é menos fácil, mas
consigo escrever e ouvir, em uma situação de exílio.
Exilado, ainda hoje?
Um pouco, sim. Mas é um exílio diferente. Depende do fato de que os
dois mundos em que vivo, Itália e França, têm dinâmicas de movimento
muito diferentes. Na França, o operaísmo não teve um grande número de
seguidores, mesmo que esteja sendo redescoberto hoje. O movimento de
esquerda na França sempre foi liderado pelo trotskismo ou pelo
anarquismo. Na década de 1990, com a revista Futur antérieur, com meu amigo e camarada Jean-Marie Vincent, encontramos uma mediação entre o gauchisme
e o operaísmo: funcionou por cerca de dez anos. Mas fizemos isso com
muita cautela. Deixamos o julgamento da política francesa para nossos
camaradas franceses. O único editorial importante escrito por italianos
na revista foi aquele sobre a grande greve dos trabalhadores
ferroviários de 1995, que era muito parecida com as lutas italianas.
Por que o operaísmo tem uma ressonância global atualmente?
Porque responde à necessidade de resistência e de um renascimento das
lutas, como em outras culturas críticas com as quais dialoga:
feminismo, ecologia política, crítica pós-colonial, por exemplo. E
também porque não é a costela de nada ou de ninguém. Nunca foi, nem foi
um capítulo na história do PCI, como alguns se iludem. Em vez disso, é
uma ideia precisa da luta de classes e uma crítica da soberania que
coagula o poder em torno do polo patronal, proprietário e capitalista.
Mas o poder é sempre dividido e está sempre aberto, mesmo quando parece
não haver alternativa. Toda a teoria do poder como uma extensão da
dominação e da autoridade, feita pela Escola de Frankfurt e suas
evoluções recentes, é falsa, mesmo que infelizmente continue hegemônica.
O operaísmo joga por terra essa leitura brutal. É um estilo de trabalho
e pensamento. Assume a história de baixo para cima, feita pelas grandes
massas que se movem, e busca a singularidade em uma dialética aberta e
produtiva.
Suas constantes referências a Francisco de Assis sempre me
impressionaram. De onde veio esse interesse pelo santo e por que você o
tomou como exemplo de sua alegria em ser comunista?
Desde jovem, riam de mim porque eu usava a palavra amor. Eles me
tomavam por um poeta ou um iludido. Pelo contrário, sempre achei que o
amor era uma paixão fundamental que mantém o gênero humano de pé. Pode
se tornar uma arma para seguir vivendo. Venho de uma família que foi
miserável durante a guerra e me ensinou uma afeição com a qual vivo até
hoje. No fundo, Francisco é um burguês que vive em uma época em que
percebe a possibilidade de transformar a própria burguesia e criar um
mundo em que as pessoas se amem e amem os viventes. O apelo a ele, para
mim, é como o apelo a Ciompi feito por Maquiavel. Francisco é o amor
contra a propriedade: exatamente o que poderíamos ter feito na década de
1970, revertendo esse desenvolvimento e criando uma nova maneira de
produzir. Francisco nunca foi suficientemente abordado, nem a
importância que o franciscanismo teve na história italiana foi
devidamente levada em conta. Menciono isso porque quero que palavras
como amor e alegria entrem na linguagem política.
Por Toni Negri em entrevista a Roberto Ciccarelli para Il Manifesto | Tradução: Maurício Ayer
Fonte: https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/negri-aos-90-comunismo-nao-morreu/