Escrito entre o diagnóstico de um mal incurável e a memória da família, ‘Meus Começos e Meu Fim’ emociona e ilumina
Jean-Paul Sartre dizia que escrevia “porque o artista deve
confiar a outro a tarefa de concluir o que ele começou”. Nada parece se
encaixar mais como definição de Meus Começos e Meu Fim
(Companhia das Letras), de Nirlando Beirão: é um livro cuja pulsão
literária está na transmissão, para adiante, de uma consciência do
mundo, uma consciência dolorida, adquirida em uma situação extremada.
Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em
julho de 2016, o jornalista Nirlando Beirão refugiou-se numa de suas
atividades de excelência, a literatura, para compreender o processo da
vida. Mesmo em meio à “corrosão emocional de ver a angústia da doença
fatal me consumindo”, iniciou essa investigação de si mesmo no que
considerava a raiz de tudo: a história do avô, António Beirão, ex-padre,
ex-colega do ditador Salazar no seminário. O resultado é uma das mais
cortantes, emocionantes e singulares narrativas da literatura brasileira
em 2019.
Editor-executivo de CartaCapital, chefe, portanto, destes editores, Nirlando é mineiro de Belo Horizonte, tem 70 anos e começou a carreira no jornal Última Hora, em 1967. Passou pelos principais veículos de comunicação do País e é autor de diversos livros, entre eles, América: Depoimentos
(Companhia das Letras, 1989). Em 2011, foi nomeado Chevalier des Arts
et des Lettres pelo Ministério da Cultura da França. Nirlando nos
concedeu por e-mail a descontraída/bem-humorada/sagaz entrevista.
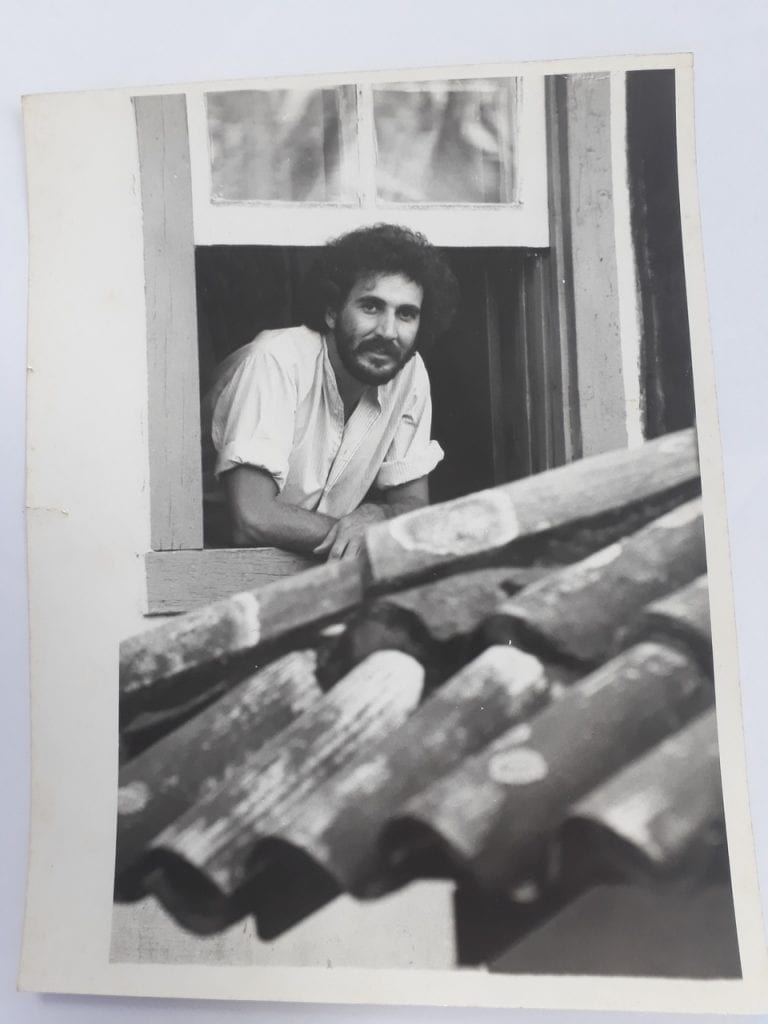
Nirlando: “Sofri culpas que nem eram minhas”
CartaCapital: Como está sua saúde desde que concluiu o livro? Já teria adendos a fazer à história que conta em Meus Começos e Meu Fim?
Nirlando Beirão: Hoje estou melhor do que amanhã,
apesar de todo o esforço e da competência do exército de aventais
brancos que me cerca. Esta é a sina – às vezes imperceptível – de uma
doença degenerativa. Escrevi o livro com a mão direita, continuo
escrevendo.
CC: A certa altura você se pergunta se somatizou o 7 a 1 da
Alemanha, o Donald Trump, o impeachment de Dilma Rousseff, o Jair
Bolsonaro… Ainda que o pensamento não ajude a resolver as coisas, faz
sentido viver a dor de um país no próprio corpo, na própria mente?
NB: Tudo isso machuca, mas inconscientemente acabei
interpondo um véu leitoso entre mim e a realidade. Não que eu queira me
alienar, nunca. É uma defesa involuntária. Sempre tive a tendência de
desligar o botão do pânico. A primeira vez que percebi a película
protetora foi passando de forma banal pela Paulista. Foi como se
desmaiassem som e imagem.
CC: Por que a culpa está tão presente no seu livro? É o avô
padre Beirão? É a avó mulher do padre? É a naturalidade mineira? É o
catolicismo? É, de alguma forma, uma culpa que você próprio sente?
NB: Estranhei a rezação excessiva em família quando
meu avô morreu. O catolicismo pune desde o início. Uma vez o Glauber
Rocha me disse: Sabe por que eu sou livre? Nasci em família protestante,
sem a ideia do pecado original. Criança, eu sofria de culpas que nem
eram minhas.

O avô padre de Nirlando
CC: Você conta no livro que começou no jornalismo em 13 de
junho de 1967. Era um momento agudo da vida nacional, e já se
desenrolava o processo que no ano seguinte culminaria no AI-5. Do que
tem acompanhado do processo atual, que paralelos traçaria entre os dois
momentos, o da sua juventude e o dos 69 anos de idade?
NB: 70 anos, cheguei lá. A diferença é que, apesar
do entorno, a gente acreditava no jornalismo e no futuro do Brasil.
Confesso agora certo desalento.
CC: Quais foram e são os melhores momentos para fazer
jornalismo no Brasil? Os de maior liberdade ou os de grande aperto
institucional?
NB: Do ponto de vista profissional, minha geração
foi privilegiada. Havia várias empresas jornalísticas, investindo,
crescendo. Hoje, as que sobraram, com raras exceções, desistiram do
jornalismo, só pensam no business. Aliás, a indústria de comunicação,
assim como toda a nossa indústria, é muito atrasada. Ainda bem que
existe a guerrilha da internet.
CC: O que a profissão do jornalismo tem, para você, de mais feio e de mais bonito? Ainda vale a pena ser jornalista em 2019?
NB: Acho que respondi acima. O jornalismo que
mobiliza, que emociona, tem seu lugar. Chega de fingir que nós
repórteres somos robôs e que há normalidade nessa realidade tão anormal.
“O jornalismo que mobiliza tem seu lugar. Nós repórteres não somos robôs”
CC: Você relata que sua condição, ou doença, não se pauta principalmente pela dor. Isso é bom? Ou seria melhor sentir dor?
NB: A dor intrínseca existe. Tem dias que acordo Frank Capra, it’s a wonderful world, mas tem dias que acordo Franz Kafka (não confundir com cafta), me sentindo um inseto.
CC: Seu avô, António Beirão, teve a coragem de romper com um
elo moral, a Igreja, para fugir com sua avó e largar a batina. Ele
representa seus começos, como diz o título, que se refere a duas
extremidades da vida. Dessa forma, quais são os rompimentos fundamentais
que a sua maturidade jornalística e literária lhe propiciou?
NB: O primeiro rompimento foi com a culpa, o temor e
os dogmas que a religião infringe. No jornalismo, logo rompi com a
hierarquia dos temas. Como se uma notícia de esporte – que contagia
milhares e milhares de leitores – fosse mais desprezível que o solene
editorial do jornal. O curso de Antropologia, num momento sombrio da
universidade, início dos anos 70, foi importante para reiterar que as
pessoas são diferentes. Do Country Club aos Yanomâmi, cada tribo tem seu
jeito de comer, dormir, dançar, fazer sexo, sobreviver. Ninguém é
superior a ninguém. A propósito, visitei uma oca coletiva dos Yanomâmi. É
tão grandiosa, tão imponente quanto as catedrais góticas. É curiosa a
Antropologia: nasceu porque os poderes coloniais precisavam entender
quem eram aqueles “primitivos” que eles estavam espoliando. Felizmente,
os antropólogos foram bem além. A psicanálise, que frequento há mais
tempo que o Woody Allen, me fez romper com certos fantasmas íntimos.

O núcleo central da família, retratada em seu livro.
CC: Anteriormente, você publicou livros sobre a churrascaria
Rodeio, sobre o arquiteto Claudio Bernardes, sobre o Corinthians, sobre
Sérgio Motta, o “trator de FHC”, sobre o Bar Original. Sua trajetória
literária não é marcada pela radicalidade, mas principalmente pela
circunstancialidade. O que significa para você publicar agora uma obra
que se caracteriza pelo mergulho mais profundo, doloroso e visceral na
experiência humana mais extrema?
NB: Não chamaria propriamente de literária. Escrevi
livros de encomenda, alguns como ghost-writer. Estes citados por acaso
gostei de escrever: um passeio pelos Jardins, em São Paulo, a história
dos bares e cafés do mundo, a vida e obra de um arquiteto talentoso e
carismático que, infelizmente, morreu num desastre estúpido logo depois…
Mas o livro que mexeu com minhas entranhas é este de agora.
CC: O seu livro foi escrito em uma circunstância que
ultrapassa a questão do julgamento do autor pelo crítico e pelo leitor.
Dessa forma, posta-se em uma condição singular, que o posiciona além da
ansiedade e da repercussão. Você o entende assim? Você o vê como algo
que vai além do exercício do estilo e da vaidade literários?
NB: A vaidade talvez seja esta: é um livro, tem sua
compostura. Embora eu ironize a pose em torno do tema leitura, confesso
que tinha pensado antes em escrever um blog, uma espécie de diário da
doença. Tinha até título: Neuro e Neuras. Mas a internet me acovardou.
Imaginei o dia em que um internauta impaciente iria me interpelar: E aí,
cara, vai morrer ou não vai?
CC: Livros escritos em situações de saúde debilitada marcam a
literatura de grandes autores, como Virginia Woolf, João Cabral de Melo
Neto, Machado de Assis. E, mais recentemente, Christopher Hitchens, em
Últimas Palavras. Hitchens teve o humor, a mordacidade e o sarcasmo
potencializados pela experiência. Quais são os sentimentos e qualidades
que Meus Começos e Meu Fim destacou em você?
NB: Na comparação, prefiro ficar com o Christopher
Hitchens. A narrativa dele na Vanity Fair me deliciou, se é que dá para
usar a palavra em tais circunstâncias. Até o absolvi do pecado de ter
defendido a invasão do Iraque pelo Bush. Eu morava na Califórnia em 2003
e o assisti falando besteiras em Berkeley – mas com carisma e humor. O
que mudou em mim? Talvez perder o medo. Talvez aprender a receber o
carinho que nem sei se mereço.
CC: O Nirlando Beirão, titular da coluna QI, é um homem
sofisticado, grand vivant, que sabe admirar tanto os bons vinhos quanto
uma capa inglesa Burberry. Mas que confidencia imaginar que a boa
velhice incluía uma boina vermelha. Por qual dessas imagens extremas
você prefere ser lembrado?
NB: Roupa é uma fantasia, literalmente, que você
expressa ali. De Lady Gaga ao Duque de Kent. Nas viagens, eu comprava
roupas fora do meu padrão, na esperança de me transformar. Comprei de
calça de capoeirista, de algodão cru, no Mercado Modelo de Salvador, a
paletó Harry’s Tweed na City de Londres. Eu sou assumidamente
esquerda-foie gras. Prefiro, de todo modo, a boina. Uma vez, o Leon
Ferrari recebeu em Buenos Aires este repórter brasileiro perplexo com os
enigmas da política argentina. Avisou que iria chamar uns amigos
sociólogos, jornalistas, cientistas políticos, artistas como ele. Foram
chegando, um a um, os velhinhos. Todos de boina. Parecia congresso da
Segunda Internacional.
CC: A sua atual cabeceira de livros inclui Philip Roth, Ian
McEwan, Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, Edward Said, a revista
Granta. Revela tanto o perfil de um homem eclético quanto culto. Qual
livro não leu, não lerá, e se arrepende disso?
NB: Cheguei a estudar um pouco de alemão porque queria ler A Montanha Mágica no original. Não li nem no original nem em português. Tenho uma versão em inglês que me espia lá do alto da estante.

CC: No livro, afirma que sempre foi mais de calar do que de
falar. Um bom jornalista fala e ouve muito, mas não costuma se calar
diante do que deve ser dito, seja a quem for. O que e a quem você
gostaria de ter dito algo, mas se calou?
NB: Falo por escrito. Sou – desculpe a pretensão –
militante da palavra. Tenho convicções. Mas a minha “condição”, como
dizem os médicos, me leva muito mais a uma autocrítica íntima sobre tudo
o que não fiz. Se fosse botar em papel tudo o que devia ter feito, e
não fiz, dava para encher toda a biblioteca de Alexandria. É possível
que ao longo da carreira e da vida eu tenha engolido um ou outro sapo.
Bem menos, asseguro, do que o ministro da Justiça atual e provisório.
“Se fosse botar no papel tudo que devia ter feito, e não fiz, dava para encher a biblioteca de Alexandria”
CC: Você afirma que adora o jornalismo desimportante, o
jornalismo pop, das franjas, da periferia. E lembra que fez colunismo
social com black-tie emprestado. Quem faz esses tipos de jornalismo nos
dias de hoje?
NB: Passei pelo colunismo na época em que falava
muito em neocolunismo, ou new columnism, como preferia a categoria.
Menos festa, mais notícia. Zózimo Barroso do Amaral, no Jornal do
Brasil, depois n’O Globo, o Boechat. E a Joyce. Hoje o colunista,
coitado, é obrigado a conviver com gente muito xexelenta. Perto desse
rebotalho que está no poder, o governo Collor, com o qual convivi, era a
corte de Lorenzo de Medici. Mas o jornalismo pop venceu. Vocês estão aí
para não me deixar mentir. A historiografia contemporânea também se
apoia muito nos faits divers.
CC: Lula livre? Por quê?
NB: Porque a matilha de Curitiba só o condenou, sem
prova alguma, para concretizar a etapa 2 do golpe e impedir a eleição
dele. E porque ele é o único líder de verdade que o Brasil tem.
CC: Você pensa na hipótese de seu final vir a ser
completamente diferente daquele dos 69 anos do avô Beirão? Gostaria que
isso acontecesse?
NB: Escrevi que tenho o duvidoso privilégio de
pensar todos os dias na minha morte. As fantasias variam. Pode ser uma
suprema arrogância essa, mas não tenho medo.
---------
Reportagem Por Eduardo Nunomura
Jotabê Medeiros
Pedro Alexandre Sanches 28 de maio de 2019
Imagem: Acervo Pessoal
Fonte: https://www.cartacapital.com.br/cultura/a-literatura-ou-a-vida-uma-conversa-franca-com-nirlando-beirao/?utm_campaign=newsletter_rd_-_28052019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
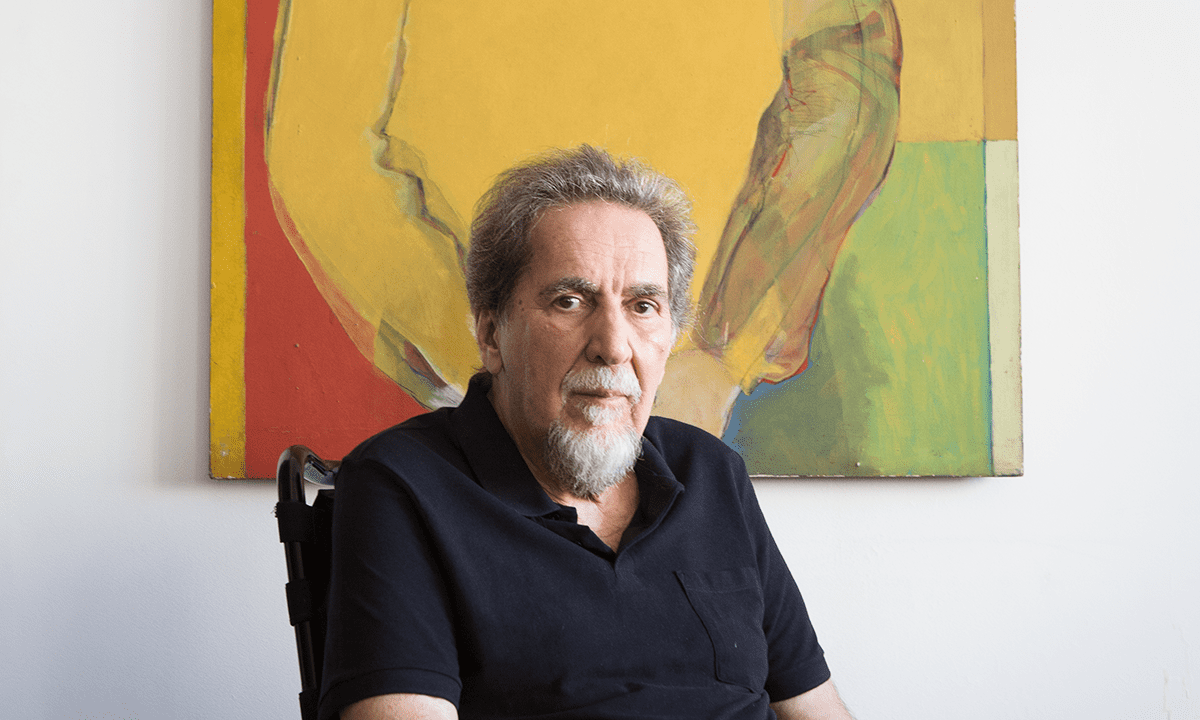
Nenhum comentário:
Postar um comentário