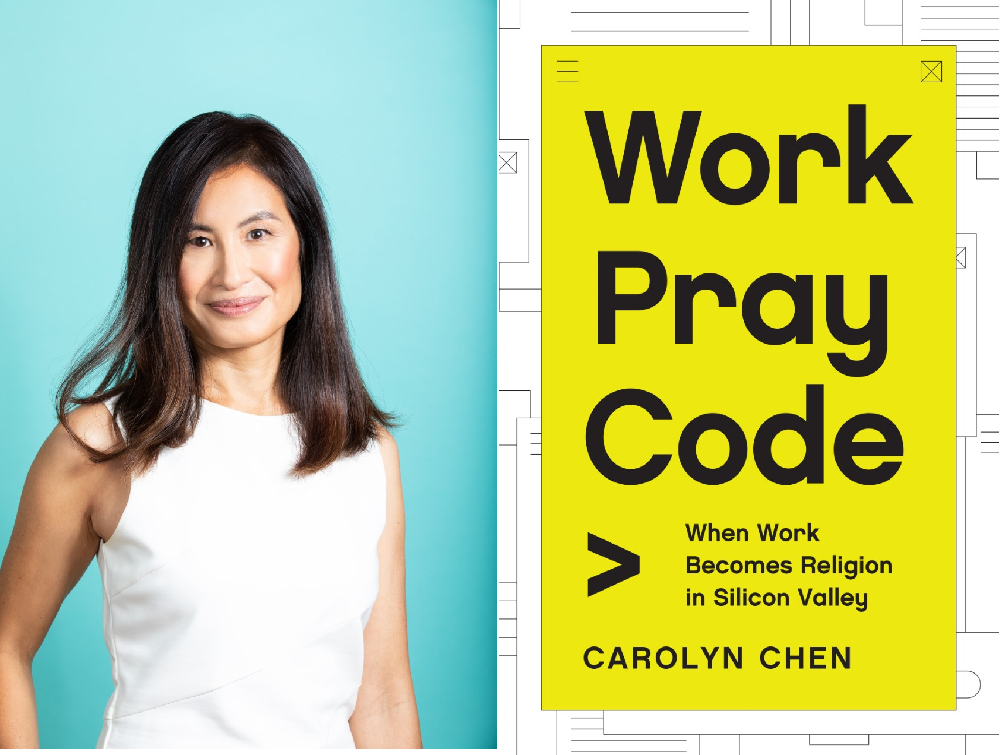por Renato Lessa*

Resumo
Um ponto de partida possível para pensar a indiferença pode ser a proposição do antropólogo Michael Herzfeld, em seu livro The social production of indifference, formulada nos seguintes termos: a indiferença é a rejeição da humanidade compartilhada. Com
efeito, o princípio da indiferença exige como condição de consistência a
rejeição de qualquer inclinação igualitarista e universalizante, que
extraia consequências morais positivas da hipótese de uma humanidade
comum.
Por outro lado, a hipótese de um experimento humano no qual a
indiferença seja banida aparece como quimérica. Se nada, em princípio,
nos aparece como indiferente ou, ao menos, como passível de ênfases e
atenções distintas, como estabelecer escolhas e prioridades? Como
sustentar juízos de natureza moral e ética? Claro está que em tal
cenário as configurações do mundo humano nos seriam impostas com
idêntica capacidade de interpelação e como que imunizadas à indiferença.
Um mundo dotado de tal configuração, por indistintamente relevante,
ensejaria tão-somente o “sentimento oceânico”, ironizado por Freud, a
sensação de um vínculo com o mundo inteiro. No limite, qualquer
distinção soa como arbitrária. E, sendo assim, o amor exaustivo ao comum
nos tornaria indiferentes aos acidentes e aos pormenores. Está posta a
aporia: o horror à indiferença exige atos de indiferença.
Como combinar a proposição conceitual que vê na indiferença uma
negação do comum com a sensação existencial de que nossa experiência no
mundo, mesmo quando em busca do comum, mobiliza distintas esferas de indiferença?
O propósito dessa reflexão é o de desenvolver o mote empregado por Michael Walzer — esferas da justiça —, em seu belo livro Spheres of justice, para pensar o tema da indiferença. Neste sentido, trata-se de esferas de indiferença.
À partida, pode-se estabelecer que o princípio da indiferença — na perspectiva de Herzfeld —
confere aos humanos uma dupla capacidade: considerar o mundo como
constitutivamente indiferente e instituir em seu domínio marcas
específicas e humanas de diferenciação e, por extensão, de indiferença.
O tema dos modos da indiferença exige a consideração de formas
práticas ou, em outros termos, uma chave histórica. Trata-se, portanto,
de refletir sobre experimentos de “desuniversalização” do humano, de
negação das possibilidades de um compartilhamento básico. Em tal
direção, o tema da indiferença atrai o vício da crueldade e põe sob foco
modos do estranhamento e da dissipação do humano, com farta e fértil
evidência durante o século XX.
Há que pensar, ainda, na naturalização da indiferença, em sua fixação
como atributo humano inalterável. Tal movimento se manifesta de forma
explícita na erosão da vida pública e na extensiva comodificação da vida
social. A cultura da diferença parece ser um poderoso coadjuvante desse
processo: éticas vetustas que clamam por um pertencimento universal
devem ceder lugar a uma paisagem povoada por identidades mais nítidas,
internamente densas e indiferentes ao que mais não seja.
Perece, se queres; quanto a mim, estou seguro.[1]
Jean-Jacques Rousseau
Da indiferença como vício passivo e como suporte para vícios ativos (ou do lugar da indiferença na economia dos nossos vícios)
A indiferença parece ser tão antiga quanto o vento. É o que sugerem
mitos ancestrais que falam de deuses indiferentes às agruras humanas e,
também, algumas das primeiras formas da filosofia, portadoras de
preocupações de natureza ética e moral, atentas aos efeitos deletérios
desse vício. Mesmo em um pensador como Demócrito de Abdera, que percebia
a natureza como efeito do movimento imparável e invisível de partículas
ínfimas, sem nenhuma ordem ou propósito a fixar finalidades e direções,
é possível encontrar marcas ancestrais de uma concepção de moralidade
associada a preceitos de contenção pessoal e ao reconhecimento da
presença de outros sujeitos humanos no mundo.[2]
Sua física anárquica e pluralista não foi acompanhada de uma ética que,
da ausência de ordem imanente ao mundo, deduzisse uma espécie de elogio
da indeterminação moral e do relativismo. Ao contrário, se ordem houver
no mundo, somos nós os que a introduzimos, pela autolimitação das
paixões e pela perspectiva da não-indiferença.[3]
Mais do que meramente antiga, a indiferença parece ser coextensiva à
experiência histórica da humanidade, já que presente em todos os seus
momentos. À percepção de sua antiguidade, soma-se, por exemplo, a
detecção de sinais da sua presença na cultura burocrática contemporânea,
cujo fundamento normativo parece ser tratar mal a todos, sem distinções
ou exceções. É o que podemos depreender do que disse Max Weber, um dos
mais agudos observadores do fenômeno burocrático, para quem uma de suas
características seria:
A predominância de um espírito de impessoalidade formalista, sine
ira et studio, sem ódios ou paixões e, portanto, sem afeição ou
entusiasmo. As normas dominantes são conceitos de dever estrito sem
atenção para as considerações pessoais. Todos estão sujeitos a
tratamento formalmente igual, isto é, todos na mesma situação de fato.
Este é o espírito dentro do qual o funcionário ideal conduz o seu cargo.[4]
A sensibilidade weberiana para com o fenômeno é bem conhecida. Ao mesmo tempo em que associa a emergência do ethos
burocrático à modernização, como um complemento indispensável e
inevitável da própria ideia de igualdade perante a lei, Weber deixa
entrever seu desencanto e lamento, por meio da célebre imagem da jaula de ferro.[5]
A aporia está a indicar que são os próprios requisitos organizacionais
da liberdade que exigem, no limite, sua supressão. No núcleo da lógica
burocrática, opera um princípio de indistinção, senão de
indiferença, que, por não reconhecer indivíduos particulares, com suas
histórias de vida específicas, trata-nos a todos como um contingente
amorfo e indiferenciado, ao qual se aplicaria de modo igualitário o
ethos da impessoalidade.
Mas não pretendo, aqui, tratar do tema — o vício da indiferença — por
meio de uma reflexão a respeito do fenômeno burocrático contemporâneo.
Faço a menção por razões um tanto pragmáticas: é que penso ter
encontrado, em um estudioso da burocracia ocidental, uma definição que
pode ser útil como sinalização inicial do trajeto a seguir. Com efeito,
um ponto de partida possível para pensar a indiferença pode ser a
proposição sagaz do antropólogo Michael Herzfeld, em seu livro The Social Production of Indifference,[6] formulada nos seguintes e sucintos termos: “a indiferença é a rejeição da humanidade compartilhada”.[7]
Posta a definição, abandonemos o fenômeno burocrático e consideremos os termos estritos do conceito proposto por Herzfeld: a indiferença é a rejeição da humanidade compartilhada. Proponho que o tomemos como o enunciado (P) de um princípio da indiferença, a exigir, como condição de consistência, a rejeição de qualquer inclinação igualitarista e universalizante que extraia consequências morais positivas da sensação de pertencimento a uma humanidade comum. Tomo aqui a expressão consequências morais positivas como denotadora da presença de um operador — ou agente — moral ativo, que faz, da crença no pertencimento a uma humanidade compartilhada, um princípio de ação no mundo.
Os termos de Herzfeld vinculam a indiferença a uma dimensão negativa.
Trata-se, afinal, de uma rejeição. A natureza de tal rejeição, por sua
vez, só poderá ser minimamente compreendida se indagarmos a respeito
daquilo que está a ser rejeitado. Daí a necessidade de buscar os
significados possíveis da indiferença não apenas naqueles por ela
vitimados — o que parece ser um marcador primário básico mas nos
esforços empreendidos para sua refutação, naquilo que se lhe opõe.
Enquanto vícios ativos podem ser direta e positivamente atestados em sua
ação legionária pelo mundo; a indiferença exige um tratamento cujo eixo
se constitui pela detecção de esforços de configuração imaginária e
prática — de formas de mundo sustentadas em um princípio de não-indiferença (1/P).
Para dizê-lo de outro modo: ao contrário de outros vícios, cujos
contornos básicos podem ser detectados de modo intransitivo ou seja,
neles mesmos, a indiferença impõe a consideração daquilo que está a ser
indiferenciado; o mesmo é dizer: a atenção a seu objeto. Dizer de alguém
que é cruel, por exemplo, acaba por fornecer indicações
significativas a respeito de seu modo de agir e razões mais do que
suficientes para evitar a interação. Dizer de alguém que é indiferente, ao contrário, deflagra a pergunta complementar e necessária: indiferente com relação a que (ou a quem)?
Convém determo-nos no termo indiferença. A exploração, neste
ponto, abandona o trajeto original de Herzfeld. Nosso desvio tomará a
forma de uma incursão, um tanto errática, pelos meandros da filosofia
moral e política. A mão amiga de Michel de Montaigne, entre outros,
cuidará do trajeto.
Baseado nos ensaios montaignianos, Bernard Sève autor do verbete “Indifference”, no Dictionnaire de Montaigne
sugere a distinção entre dois modos básicos da indiferença, dos quais
decorrem manifestações variadas: “distinguir-se-á a indiferença nas
coisas da indiferença na alma”.[8]
A primeira delas pode ser designada como indiferença ontológica, e
encontrará em Leibiniz, por meio do princípio dos indiscerniveis, forte
refutação: todo ser real é diferente de todos os outros seres reais; o
real é irredutivelmente singular. Antes de Leibiniz, Montaigne:
“poder-se-ia dizer… que nenhuma coisa se apresenta a nós que não possua
alguma diferença, por mais leve que seja”.[9]
O princípio da não-indiferença ontológica pode ainda ser encontrado na
afirmação montaigniana da variedade das opiniões: “E nunca houve no
mundo duas opiniões iguais, não mais do que dois pelos e dois grãos. Sua
mais universal qualidade é a diversidade”.[10]
Nesse registro, a ideia de indiferença aproxima-se da de diferenciação
ou indistinção; ou seja, uma incapacidade e/ou não-disposição de
reconhecer no mundo distinções entre as coisas. Daí a expressão
indiferença ontológica.
Por oposição à indiferença ontológica, que sugere uma crença no
caráter indistinto das coisas, Montaigne sustenta que a alma humana é
apta a, ela mesma, desenvolver indiferença, uma espécie de cancelamento
de tudo que provém do mundo exterior. Montaigne, nesse ponto,
aproxima-se de um eco helenístico na apresentação da indiferença como
virtude. A indiferença assemelha-se, aqui, à ataraxia cética, derivada
da percepção de que a disputa dogmática pela verdade constitui um
cenário de equipolência; isto é, de empate entre as diferentes
pretensões à verdade. Nossa indiferença a respeito dessa pugna é uma
condição necessária para a tranquilidade.
O tema em Montaigne não sugere uma opção pelo quietismo. Ao
contrário, tem como endereço a pugna dogmática no campo da religião. Com
efeito, na França do século XVI, a indiferença para com a obsessão pela
verdade em religião é condição necessária para a tolerância: se a
convivência entre as crenças exigir que seja demonstrado qual delas
detém a verdade, é provável que os termos da disputa envolvam práticas
produtoras de efeitos letais.
O tratamento peculiar da indiferença por Montaigne ajuda-nos a
esclarecer os termos da relação entre ceticismo filosófico e moral, e o
próprio tema da indiferença. Os objetos do mundo e seus observadores não
são indistintos ou indiferenciados. Ao contrário, são constituídos por
um inabarcável princípio de variedade e de diferenciação continuada. É o
que indica um velho argumento dos céticos antigos: tudo que parece
existir existe em circunstâncias particulares. Um princípio de
diferenciação institui-se tanto no modo pelo qual as coisas aparecem a
seus observadores, quanto nos modos pelos quais estes percebem os
objetos do mundo.[11]
Ao mesmo tempo, diante dos assuntos da vida ordinária, a indiferença,
como atitude diante do mundo, é algo de impossível: devemos seguir as
regras ordinárias da vida, sob pena de não ter vida. Para os céticos, e
para Montaigne em particular, o mundo da vida é um atrator irresistível:
não há solipsismo — ou fabricação da verdade em privado e em segredo —,
mas envolvimento, ainda que contido e crítico, com a vida comum. A
indiferença cética diz respeito apenas aos esforços de demonstração
dogmática a respeito das verdadeiras finalidades de todas as coisas
(incluindo nós mesmos).
Abre-se, com a distinção de Montaigne, uma passagem para um terceiro modo de consideração da indiferença. A indiferença como vício — e não como falha epistemológica ou como via para a tranquilidade — e como desmoralização — esvaziamento da moralidade e do nexo com outros seres humanos —, como desistência do humano comum. Chamemo-la de indiferença moral. Em
notação humiana, poderíamos falar que se trata de uma refutação do
princípio da simpatia e da afirmação de uma antipatia universal. Tal
indiferença aparece como condição de invisibilidade dos alvos sobre os
quais incide, indivíduos ou coletividades. Como tal, apresenta-se como
suporte para a operação de vícios mais ativos, tais como o da crueldade.
Parece-me um nexo interessante e a explorar, o da relação entre indiferença e crueldade. Suspeito que a não inclusão da indiferença moral, em Montaigne, como um elemento de complexificação do esquema binário indiferença ontológica-indiferença psicológica, diz
respeito ao fato de que, para ele, o lugar de inscrição da indiferença
moral é o campo da crueldade, o pior de todos os vícios.
Judith Shklar fornece-nos uma reflexão ímpar a respeito do que
Montaigne, no ensaio “Os canibais”, definiu como “vícios ordinários”.[12]
A listagem originária inclui: traição, deslealdade, crueldade e
tirania. Shklar reúne-os na série crueldade, hipocrisia, esnobismo e
traição, e sugere que vícios ordinários são tais, que deles não
esperamos consequências espetaculares ou não usuais. Em outros termos,
estão inscritos na marcha ordinária das coisas. Um cenário
nelsonrodriguiano — a vida como ela é — não revelaria coisa outra a não
ser a extrema familiaridade desses vícios.
Judith Shklar chama a atenção para o fato de a listagem montaigniana
não ser linear: não se trata de uma apresentação dos vícios ordinários
por simples enumeração, como uma espécie de adição aos pecados
capitais. Ainda que Santo Agostinho, por exemplo, tenha sustentado a
precedência do orgulho no conjunto dos pecados capitais, sua listagem
não é acompanhada da apresentação óbvia de sua escala de relevância. De
modo distinto, Montaigne faz-nos saber que a “crueldade é o extremo de
todos os vícios”.[13]
E não porque seja o mais grave, ou o mais letal. A crueldade é o
sobrevício, é o acréscimo cruel — não há como evitar o pleonasmo — que
conferimos a outros vícios. Desse modo, pode ser tomada como vício
originário que potencializa a malignidade dos demais. É esse o sentido
da proposição de Shklar: putting cruelty first.[14]
Minha intenção, ao concluir a primeira parte deste texto, é a de sugerir a seguinte proposição: é necessário pôr a indiferença em primeiro lugar. Entre as razões para tal, penso poder recorrer, mais uma vez, a Michel de Montaigne.[15]
A crueldade, para Montaigne, é refratária a qualquer explicação: o
homem cruel faz correr mais sangue do que o necessário; a crueldade,
portanto, é prazer gratuito que faz causar o sofrimento. Por essa via, a
crueldade torna-se a figura do mal enquanto tal, de um mal ao qual
razão alguma pode ser atribuída. O homem cruel ama o mal pelo prazer do
mal, sem outro fim senão o de contemplá-lo ou de simplesmente
praticá-lo.
O caráter inexplicável da crueldade retira-a da ordem das
causalidades ordinárias. Crueldade é excesso e mergulho ilimitado no
extraordinário. Como tal, ela exige a presença de um operador de desumanização, fundado na rejeição de uma humanidade comum. Os
termos da definição de Herzfeld para a indiferença retornam, portanto,
como sinalizadores desta exigência lógica: a crueldade, como vício
excessivo e superabundante em seus efeitos e atos, exige a presença,
silenciosa e a montante, de um operador silencioso — a indiferença.
A aproximação entre os dois vícios pode ser ainda sustentada no
argumento de Montaigne que enumera as virtudes que se opõem à crueldade:
compaixão, simpatia e piedade.[16]
É quase imperativo concluir que tais virtudes podem ser consideradas
também como antídotos à indiferença. Nesse sentido, indiferença e
crueldade aproximam-se pelo compartilhamento de antônimos. O horror de
Montaigne à crueldade — em uma clara antecipação do argumento de
Rousseau — revela, ainda, um sentimento de pertencimento, de
comunalidade, que incide sobre o humano e o excede, uma vez que
incorpora os animais e os seres vivos em geral. Tal sentimento
inscreve-se de modo forte na lógica dos antípodas da indiferença.
Seriam idênticos, então, os vícios da indiferença e da crueldade? Não
creio. A relação parece não ser de identidade, mas sim de nexo e,
sobretudo, de precedência axiológica. São os valores da indiferença que, por meio de uma passagem ao ato, podem
deflagrar a crueldade. Sustento, pois, que atos de crueldade são como
que arqueologicamente precedidos e constituídos por atos de indiferença.
Nesse trajeto, que procede das camadas fundas da indiferença, as formas
ativas e invasivas da crueldade retiram sua consistência e fúria.[17]
Indiferença é um vício silencioso, e passagem e suporte para vícios
ativos. Seu caráter de suporte para a crueldade sustenta-se, ainda, no
argumento de que não há limites morais e éticos razoavelmente postos
para definir o que pode ser feito com aqueles que nos são indiferentes. O
movimento de recusa de uma humanidade comum parece incidir
primariamente sobre suas vítimas, mas, como condição de possibilidade,
tem a autorretração, do próprio sujeito, do âmbito que ele se dispõe a
desconsiderar. A desumanização das vítimas da indiferença é, portanto, a
simetria da autodesumanização dos sujeitos da indiferença.
Estabelecido o lugar da indiferença na economia dos nossos vícios,
importa, agora, explorar as implicações de uma proposição apresentada no
início deste ensaio: é necessário buscar os significados possíveis da
indiferença — e não apenas assinalar-lhe o seu lugar na constituição da
condição humana — nos esforços empreendidos para sua refutação. É essa
a condição para que visualizemos que mundos são refutados pela
afirmação do princípio da indiferença. Mais uma vez, são os ecos de
Montaigne que indicam o trajeto: “levamos a sério o que odiamos”. É
necessário, pois, escutar os que se horrorizaram com a indiferença.
Do princípio da não-indiferença: duas versões
A hipótese maior que orientará a escuta, apresentada como necessária,
é a de que o campo da filosofia política e moral abriga diversos
esforços de refutação do princípio da indiferença (i. e., a rejeição da humanidade comum). A
principal razão é de natureza lógica: por serem versões a respeito da
forma do social e da interação entre os humanos, diferentes tradições da
filosofia política e moral são obrigadas a enfrentar o tema dos nexos
sociais ou, em outros termos, da necessidade de um padrão de não-indiferença, como
condição necessária para a própria sociabilidade. O caráter
alucinatório e visionário obrigatoriamente inscrito nos esforços de
constituir argumentos e princípios de não-indiferença faz com
que, em cada um deles, encontremos a ostenção do que se lhe opõe. Em
outros termos, o espectro da indiferença excessiva e generalizada —
assim como etiologia — apresenta-se, à partida, como parte do trajeto
que o refuta. Ao falar daquilo que não nos deve ser indiferente, a
filosofia política e moral indica o que nos torna — de fato —
indiferentes.
Duas versões do princípio da não-indiferença serão aqui consideradas,
de forma breve, como marcadores possíveis de ambos os esforços: mostrar
o que produz indiferença e dizer o que deve nos proteger desse
espectro. Vários pensadores poderiam ser mobilizados, mas pretendo
considerar a tríade iniciada por Protágoras de Abdera (490 a.C. – 420
a.C.) e completada, no século XVIII, por Jean-Jacques Rousseau. Especial
ênfase será dada à versão apresentada por Protágoras, por pioneira e
pela força de seu argumento, que faz da não-indiferença uma condição
necessária para a justiça.[18]
Os argumentos de Rousseau — em torno do tema da piedade — dão sequência
aos termos da solução protagoriana — ao mesmo tempo em que os
redirecionam — e serão aqui considerados como complementares.
PROTÁGORAS, AS ORIGENS E AS VIRTUDES DO PUDOR (AIDÓS) E DA JUSTIÇA (DIKÉ)
Protágoras discorreu sobre as origens da sociabilidade humana em longo discurso, registrado no diálogo “Protágoras”, de Platão.[19] A narrativa platônica, simulada ou não, teria tido por base uma das obras de Protágoras, intitulada Ferités en arché katastáseos. Há,
como de hábito, diferentes traduções do título. Dois dos principais
estudiosos modernos da sofistica, por exemplo, dão ao título versões
convergentes. Para Eugène Dupréel, ele poderia ser traduzido como A organização primitiva; William Guthrie prefere algo como Sobre o estado originário do homem.[20]
Qualquer que tenha sido sua origem e sua tradução precisa, é possível,
no relato de Protágoras — narração de um mito a respeito da origem da
justiça —, identificar uma preocupação em estabelecer as origens da vida
social, assim como os modos de aquisição das virtudes necessárias à
associação humana. Ambas — as origens e as bases da associação —
exprimem, de modo pioneiro e inequívoco, um princípio de não-indiferença.
Na sequência que passo a apresentar, os pontos essenciais do argumento/ mito protagórico podem ser (muito) resumidos:
- Os primeiros humanos são personagens de uma vida desordenada e vivem
em um estado de mundo fragmentado e disperso. Suas necessidades básicas
— alimento, roupa e abrigo — são satisfeitas pela posse de uma entechnos sophia — technical sagacity, na tradução de Guthrie,[21]
concedida graças à ação reparadora de Prometeu, que lhes conferiu as
artes e o fogo, por ele roubados de Hefesto e de Atena. (Seu irmão
Epimeteu havia distribuído qualidades adequadas a cada um dos seres
mortais, tendo esquecido, por “carecer de reflexão”, de atribuí-las aos
humanos. Nesse sentido, a ação de Prometeu é reparadora.)
Duas observações, antes de prosseguir com a sequência:
- A palavra grega que define a situação dos humanos pré-associação é sporadén, traduzida nos mencionados textos de Guthrie e Kerferd por scattered (fragmentados/espalhados) ou dispersed (dispersos). Segundo o léxico de Liddel & Scott, a palavra está associada a spora e spermaton, expressões usadas pelos atomistas Demócrito de Abdera e Leucipo de Mileto, cujo significado é análogo à ideia de semente ou de semeadura.[22] A
utilização da ideia pelos atomistas, antes de sua mobilização por
Protágoras, colocara em ação a bela palavra panspérmia, portadora da
imagem da generalização, por todo o universo, de incontáveis partículas
dotadas da propriedade de configurar uma pluralidade incontável de
mundos.[23]
A imagem suscitada pela palavra sporadén aparecerá, ainda, em
Aristóteles, em sua referência a homens sporadikós, isto é, que não
vivem em comunidades.[24]
- O que poderíamos designar como um estado de natureza protagoriano
revela um cenário que exibe radical fragmentação humana. Não há ali
conteúdos morais, mas tão somente um comportamento que mescla instinto e
necessidade. Apesar de dotados de um “conhecimento necessário para a
vide, os homens permaneceram “sem possuir a sabedoria política”, pois
esta “se encontrava com Zeus”, cuja morada era inexpugnável.[25]
Se for possível falar de uma teoria social protagoriana, suas bases são
constituídas por explícita aversão a estados de mundo habitados por
seres esporádicos e mutuamente indiferentes.
A sequência procede do seguinte modo:
- Os humanos gradualmente desenvolvem mecanismos de cognição, a
respeito do mundo e com relação a si mesmos; estabelecem, ainda, modos
mais permanentes de sociabilidade através da linguagem — sustentada por
meio de acordos a respeito dos significados dos sons que emitem —, do
aperfeiçoamento das artes e dos objetos úteis.
- Vivem ainda dispersos: “não havia cidades; por isso, eram dizimados
pelos animais selvagens, dada sua inferioridade em relação a estes; as
artes mecânicas chegavam para assegurar-lhes os meios de subsistência,
porém cram inoperantes na luta contra os animais, visto carecerem eles
da arte política, da qual faz parte a arte militar”.[26]
- Nesse estado primário de associação, os humanos praticam
continuamente atos de injustiça, já que desconhecem a arte de viver
juntos; no limite, sua ignorância põe em risco a mínima solidariedade
estabelecida, permitindo, pois, a reemergência de situações governadas
pelo atributo sporadén: “por carecerem da arte política,
causavam-se danos recíprocos, com o que voltavam a dispersar-se e a
serem destruídos como antes”.[27]
- Zeus, por intermédio de Hermes, envia aos humanos duas virtudes: aidós e diké, com
a finalidade de tornar possível o estabelecimento de uma ordem
política, com a consequente criação de laços de amizade e cooperação.
Aqui, nesse último passo, o momento crucial da narrativa e de fixação do princípio da não-indiferença.
Sua inteligibilidade exige a consideração de três observações:
- Enquanto diké pode ser entendida como a designar as ideias de ordem, justiça, direito e imagens afins, aidós é uma palavra mais enigmática.[28] Guthrie, por exemplo, ao defini-la, admite sua imprecisão. Aidós seria
portadora de “uma qualidade mais complicada que combina, grosso modo, o
sentido de vergonha, modéstia e respeito pelos outros”.[29]
Ainda segundo Guthrie, no contexto do mesmo comentário, a ideia grega
“não está muito distante de consciência”. Eugène Dupréel preferiu
associar o termo grego à palavra pudeur.[30] O
providencial léxico de Liddel & Scott acrescenta outros
significados: sentimento moral, reverência, temor, respeito pelos
sentimentos ou opiniões de outros e por sua própria consciência,
vergonha, respeito próprio, senso de honra, sobriedade, moderação,
consideração por outros, demência, dignidade, grandiosidade.[31]
Aidós pode, então, ser dotada de dupla dimensão: (a) uma espécie de
ancestral do man in the breast smithiano, aqui tomado como conjunto de
virtudes que garante a internalização das normas, definidas por diké,
(b) uma disposição à solidariedade e à cooperação, movida não por
impulsos naturais, mas por uma espécie de sensibilidade pública,
anterior à definição substantiva dos valores que compõem o próprio mundo
público.
- A introdução de aidós e diké demonstra que, para
Protágoras, a necessidade não é requisito suficiente para a gênese da
ordem social. O que se impõe, para tal, como compulsório é a aceitação
de um princípio de justiça, assim como de mecanismos de internalização
das normas. Daí em diante, os humanos estarão equipados para agir como
animais sociais e políticos, e não mais como bestas esporádicas. Desse
ponto em diante, os humanos incorporam virtudes capazes de garantir seu
afastamento com relação ao primado absoluto da necessidade. Diké e aidós são,
assim, apresentadas como virtudes necessárias à sobrevivência dos
homens e à manutenção do laço social. Tal atribuição coincide com a
análise fina de Eugène Dupréel: diké e aidós configuram uma técnica social, condição decisiva para a vigência da ordem social. É possível mesmo imaginá-las como constituindo uma natureza de segunda ordem, que acaba por se impor aos humanos, tais como os próprios fenômenos da physis. O
fato de podermos remeter sua origem a artifícios, ou imaginar cenários
que modifiquem suas manifestações contingentes, não oblitera a vigência
necessária dessas virtudes em qualquer ordem social minimamente
consistente. Em outras palavras, é da natureza da ordem social —
constituída por artifícios — ser dotada de diké e aidós.
- O critério de distribuição das artes — o “conhecimento necessário
para a vida” — aos humanos havia sido errático e desigual: “um só homem
com o conhecimento da medicina basta para muitos que a ignoram,
verificando o mesmo com todas as outras artes”.[32] Quando Zeus decide complementar tal distribuição originária com a concessão de diké e aidós, ele
convoca Hermes para a tarefa. Este, por sua vez, indaga a respeito do
modo pelo qual deveria distribuí-las, se para poucos ou entre todos os
humanos, na mesma medida. A indicação divina ordena a segunda
alternativa: “pois as cidades não poderão subsistir, se o pudor (aidós) e a justiça (diké) forem privilégio de poucos, como se dá com as demais artes”.[33] As cidades, na chave de Protágoras, são os lugares nos quais a medida humana é exercida. Com efeito, se associarmos o mito do Protágoras à famosa tese do sofista, reportada por Sócrates no Teeteto e no Cratilo —[34] o homem é a medida de todas as coisas —, temos um corolário preciso: são seres portadores de diké e aidós que
exercem a medida das coisas, por meio da linguagem e de um exercício
cívico que exclui o predomínio do princípio da indiferença. Ainda que
não se trate de uma adesão a uma ideia universal e abstrata de uma
humanidade comum e compartilhada, o avesso da indiferença acaba por
impor suas exigências. A obra de diké, que dita os termos legais e institucionais da cooperação, exige a copresença de aidós, como,
a um só tempo, requisito necessário e condição de fixação no mundo da
vida. Em outros termos, a ordem humana exige a presença de um horizonte
no qual se fundem obrigações políticas e obrigações morais. O que
resulta de tal fusão pode ser declinado no idioma do princípio da
não-indiferença. O laço social, portanto, ao mesmo tempo que exige a
presença de operadores de não-indiferença, é, ele mesmo, a própria
condição de existência desses operadores.
Em Protágoras, diké e aidós aparecem como condições
necessárias para a presença e efetividade de um princípio de
não-indiferença. Em outros termos, há aqui uma dissociação entre as
normas originárias da natureza — que indicavam dispersão e incerteza — e
a obra do artifício social. Mais uma vez, Eugene Dupréel parece ter
razão quando chamou nossa atenção para o caráter eminentemente
sociológico da observação de Protágoras a respeito dos humanos.[35]
Há, aqui, algum otimismo: a vida social, e seus artifícios, é o único
domínio no qual a disposição para a não-indiferença — uma das traduções
possíveis para aidós — traduz-se em não-indiferença ativa — pela
presença das obrigações postas por diké.
ROUSSEAU: A NÃO-INDIFERENÇA COMO ORIGEM E COMO FUNDAMENTO
O tema da indiferença inscreve-se no coração da filosofia política e
moral de Jean-Jacques Rousseau, um homem que se referiu a seu próprio
nascimento como a “primeira das minhas infelicidades”. Nascido
“enfermiço e doente”, Rousseau custou a vida à sua mãe e, ao fazer do
nascimento o primeiro evento de uma série de infortúnios, mais do que
pessimismo ou amargura, sua evocação sugere a presença de um operador de
não-indiferença, em registro autobiográfico.[36]
A esperança sociológica presente em Protágoras dificilmente poderá
ser encontrada em Rousseau, para quem “com facilidade se faria a
história das doenças humanas seguindo a das sociedades civis”?[37]
Ao contrário do sofista, para ele trata-se de indicar o império do
princípio da indiferença como condição mesma da vida social dos humanos
civilizados, e não como um acidente da interação social, a ser mitigado
e regulado pela combinação entre pudor e justiça. Se o princípio
contrário — o da não-indiferença — puder ser detectado e bem fundado,
isso exigirá que nos afastemos de todos os fatos, tal como ensina a
célebre cláusula metodológica do segundo Discours a respeito das fontes
da desigualdade.
Quero sustentar que, na verdade, trata-se de um duplo afastamento de
todos os fatos. Antes de tudo, importa retroceder às origens, a um
domínio anterior a toda narrativa histórica que, por definição, tem
parte com a experiência de uma espécie já socializada e descaracterizada
pelo processo civilizatório. O mundo dos fatos é, de modo imperativo, o
mundo da espécie socializada e já reflexiva: o homem que medita já é um
“animal depravado”, e não será a partir da descrição do que ele pensa e
faz que algo de sua natureza originária poder-nos-á ser revelado. Uma
etnografia de seus hábitos civilizados exibirá tão somente sua
degradação. É a busca da condição primordial dos humanos — o que de mais
verdadeiro há em sua espécie — que exige a suspensão dos fatos. Tal é o
movimento do segundo Discours, já insinuado no primeiro, a respeito das
ciências e das artes.[38]
Mas importa, ainda, a Rousseau promover uma segunda ordem de
afastamento dos fatos e, com igual ênfase, retroceder ao âmago de cada
um dos sujeitos humanos para, ali, encontrar a sede da maior de todas as
evidências. Uma evidência — isto é, uma certeza que é a condição mesma
de existência do sujeito — que não pode advir nem da razão nem da
experiência (ao contrário do que sustentavam, pela ordem, racionalistas e
empiristas), pois ambas têm parte com a história e com o abismo da
imperfeição progressiva dos humanos. Tal evidência é constituída por uma
sensibilidade moral, antes que pela razão ou pelo trabalho dos sentidos
e da experiência. São esses dois movimentos hipotéticos — um
arqueológico, outro introspectivo — que devem ser considerados para que o
poderoso argumento rousseauniano da não-indiferença ganhe pleno
sentido. O primeiro movimento, sustentado em um afastamento da
imediaticidade da história, foi exercitado no Discurso sobre as origens e
os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1753. O segundo,
vamos encontrá-lo no Emilio, de 1762, em particular no livro IV, no
segmento denominado “Profissão de fé do vigário de Saboia”.[39] Ambos serão aqui considerados segundo a ordem indicada.
O mergulho na rota da regressão arqueológica é o que resulta da
meditação a respeito das “primeiras e mais simples operações da alma
humana”. Aí, Rousseau encontrou a presença de dois princípios, ambos
“anteriores à razão”. O primeiro deles “interessa profundamente ao nosso
bem estar e à nossa conservação”. O segundo “nos inspira uma
repugnância natural por ver perecer ou sofrer qualquer ser sensível e
principalmente nossos semelhantes”.[40]
A fusão dos dois princípios é poderosa: eles são suficientes para deles
fazer decorrer nada menos do que “todas as regras do direito natural”.[41]
O cuidado com nossa conservação “é o menos prejudicial” aos demais e
inscreve-se em um estado mais propício à paz, sendo ainda “o mais
conveniente ao gênero humano”. Não há nada nesse exercício de
conservação que possa ser aproximado à ferocidade natural, implicada na
ideia hobbesiana de “direito de natureza” — o conatus que nos
compromete, antes de qualquer coisa, com a autopreservação. Em Rousseau,
tal ferocidade será adquirida no processo que transforma o homem
natural em um ser da cultura e da civilização. Nessa passagem, o cuidado
com a conservação faz-se amor próprio — e não mais amor-de-si — à
medida que avança o processo civilizatório.
Mas, é bem o outro princípio anterior à razão que importa destacar.
Trata-se de um princípio que Hobbes “não percebeu”: é possível aos
humanos suavizar a ferocidade do “amor-próprio” ou seu “desejo de
conservação” pelo tempero proporcionado por uma “repugnância inata de
ver sofrer o seu semelhante”.[42]
Tratar-se-ia de uma “virtude natural” que até mesmo “o detrator mais
acirrado das virtudes humanas teria de reconhecer”. Isto para Rousseau
constitui-se como uma evidência. O próprio autor da Fábula das abelhas —
o “frio e sutil” Bernard Mandeville — teria sido obrigado a reconhecer
“o homem como um ser compassivo e sensível”.[43]
Vejamos como Rousseau define tal princípio, por ele designado como “piedade”:
[A piedade é uma] disposição conveniente a seres tão fracos e
sujeitos a tantos males como o somos; virtude tanto mais universal e
tanto mais útil ao homem quando nele precede o uso de qualquer reflexão,
e tão natural que as próprias bestas às vezes dão dela alguns sinais
perceptíveis.[44]
É certo, pois, que a piedade representa um sentimento natural que,
moderando em cada indivíduo a ação do amor de si mesmo, concorre para a
conservação de toda a espécie. Ela nos faz, sem reflexão, socorrer
aqueles que vemos sofrer; ela, no estado de natureza, ocupa o lugar das
leis, dos costumes e da virtude, com a vantagem de ninguém sentir-se
tentado a desobedecer à sua doce voz…[45]
Victor Goldschmidt, com inteira pertinência, nota que a piedade, ou
compaixão, é um sentimento cuja essência releva da biologia, pois
pertence aos humanos enquanto seres dos sentidos, e não como seres
racionais.[46]
Esse ponto parece-me central, pois Rousseau recusa-se a atribuir à
razão qualquer papel de fundamento: ela é, na verdade, uma figura inscrita na história e
assalta os humanos quando já vão estes distantes de sua condição
originária. É esse o sentido da provocativa proposição, já aqui
mencionada, que sustenta que “o homem que medita é um animal depravado”.[47]
A piedade/compaixão, ao contrário, está posta em um plano de imanência
ao homem natural, fixada em seus sentidos. Aqui, Rousseau promove uma
aproximação entre os homens e os demais animais. Mas, mais do que se
limitar à afirmação de um laço biológico comum — nessa altura argumento
já nada original —, o que Rousseau está a fazer é incluir os demais
animais na esfera de ação da piedade humana. Em outros termos, há aqui
uma passagem da biologia para a moralidade, ou, com mais força, uma ideia de biologia que incorpora a moralidade.
Na tensão entre razão e piedade, esta última aparece como apoio para a
primeira. Se for possível pensar em “virtudes sociais” — ainda que a
expressão saiba um tanto a oxímoro —, todas elas decorrerão dessa
qualidade que recebe de Rousseau uma legião de heterônomos:
generosidade, clemência, humanidade, comiseração. O núcleo da virtude
natural da piedade — e de toda sua vasta sinonímia — reside em uma
dinâmica básica: a força da comiseração será maior tanto quanto o for a
identidade entre o “animal espectador” e o “animal sofredor”. A
maior identidade possível é a que se verifica no estado de natureza. O
contrário se dá no “estado de raciocínio”: “É a razão que engendra o
amor-próprio e a reflexão o fortifica; faz o homem voltar-se sobre si
mesmo; separa-o de quanto o perturba e aflige”.[48]
O “estado de raciocínio” é o abrigo por excelência do princípio da
indiferença. Com efeito, o homem socializado é aquele que assiste
impávido à visão da degola de um “seu semelhante sob a sua janela”.
Basta que pondere um pouco consigo mesmo para que o impulso natural da
comiseração ceda lugar à identidade “com aquele que assassina”.
Trata-se, para Rousseau, de um “talento admirável”: a indiferença não
decorre de relaxamento do espírito ou de mera e preguiçosa desatenção.
Há nela, ao contrário, um longo e sistemático esforço civilizatório,
cujo efeito é o apagamento da sensibilidade originária: a indiferença é
algo que se adquire e que requer reiterações sucessivas para que se
afirme como o enunciado da segunda natureza dos humanos. Ao “homem
selvagem” falta esse “talento admirável”: “por falta de sabedoria,
vêmo-lo cada dia entregar-se temerariamente ao primeiro sentimento de
humanidade”.[49]
É esse o princípio, segundo Rousseau, desconsiderado por Hobbes. O
animal natural que este pinta é o ser já depravado em algum momento do
abismo civilizatório. Goldschmidt tem razão quando apresenta o argumento
da piedade como um exercício anti-hobbesiano:
É necessário recordar que esse segundo “princípio” é estabelecido
contra Hobbes. A piedade, no estado de natureza, não é outra coisa
senão um limite imposto ao instinto de conservação: ela o impede de
tornar-se exorbitante, o mantém em seus limites naturais e não permite
que se extenda até os confins do universo. Ela garante que “a espécie
humana não seja formada unicamente para se destruir”.[50]
Se o segundo Discurso contém a revelação da origem da espécie e a narrativa do processo que a perdeu, o Livro IV do Emílio trata de uma questão filosófica central: como se configura a certeza? A questão é tratada na Profissão de fé do vigário de Saboia — que ocupa a maior parte do Livro IV —, segundo Luiz Roberto Salinas Fortes, uma espécie de Discurso do método de Rousseau.[51]
Com efeito, a profissão de fé do vigário saboiano pode ser percebida
como um discurso sobre a certeza, movido pelo amor à verdade. Narrada na
primeira pessoa, ela descreve tal busca, precedida por uma vida, e uma
formação, avessa a qualquer princípio de autonomia: “aprendi o que
quiseram que aprendesse, disse o que quiseram que dissesse, prometi o
que quiseram e fui feito padre”. Com a “idade madura” sobreveio a
incredulidade e as “disposições de incerteza e da dúvida”[52]. A passagem seguinte é reveladora da incerteza que assaltou o pobre vigário, em sua fase madura:
Meditei pois sobre a triste sorte dos mortais flutuando nesse mar
de opiniões humanas, sem bússola, e entregues a suas paixões
borrascosas, sem outro guia senão um piloto inexperiente que desconhece a
rota, que não sabe de onde vem nem de onde vai. Eu me dizia: amo a
verdade, procuro-a e não a posso reconhecer, que me mostrem e ficarei
apegado a ela: por que deverá fugir à ânsia de um coração feito para
adorá-la?[53]
O mergulho nos filósofos foi de nenhuma valia: são “todos orgulhosos,
afirmativos, dogmáticos, mesmo em seu pretenso ceticismo; nada
ignorando, nada provando, zombando uns dos outros”. Aversão aos
dogmáticos, mas não menor desgosto para com os céticos: “esses filósofos
não existem, ou são os mais desgraçados dos homens”.[54]
Dogmáticos ou céticos, todos eles são protagonistas de um “conflito
das filosofias” para empregar a expressão seminal de Oswaldo Porchat
Pereira,[55] que, para além de seu aspecto de diaphonía — isto
é, de desacordo indecidível, manifesta má-fé por parte dos contendores:
“cada um deles sabe que seu sistema não é mais bem alicerçado que o dos
outros, mas o sustenta porque é seu”.[56]
Dessa visão pessimista a respeito das possibilidades filosóficas de
esclarecimento do tema da verdade e da certeza, emerge uma questão
idêntica a que já havia sido proposta por Descartes: sobre o que apoiar
nossas certezas e nossas ideias a respeito do mundo e de nós mesmos? Na
notação introduzida por Fernando Gil, trata-se de buscar condições
consistentes para estabelecer um fundamento, algo que confere
ao sujeito uma certeza epistêmica anterior mesmo aos juízos que formula a
respeito das coisas que estão fora de si.[57]
Para tal, Rousseau apresenta o que parece ser a sua versão para a
navalha de Ockham: é necessário “limitar minhas pesquisas” às “coisas
que me importava saber”. O movimento, assim apresentado, o orienta na
direção de sua “luz interior”.[58]
Se o problema é idêntico ao de Descartes, o tratamento será distinto:
o que Rousseau toma como evidência é algo diverso do que havia sido
posto por Descartes. Neste, as bases da evidência são puramente
intelectuais e racionais: a certeza de uma ideia é dada ao sujeito se
ela corresponde aos critérios epistêmicos de clareza e distinção. Em Rousseau, ao contrário, a evidência da certeza é indissociável do trabalho dos sentidos e da experiência. Há, pois, uma teoria da experiência que exige a mobilização dos sentidos.
Mas, antes que se apresentem suspeitas empiristas, o trabalho dos
sentidos está diretamente associado à sensibilidade moral. Em outros
termos, não mais estamos sujeitos ao pêndulo que opõe racionalistas — em
busca de evidências intelectuais — a empiristas — que recusam à
evidência um estatuto distinto do da prova material. No confronto entre a
razão e os sentidos, é a sensibilidade moral que aparece como marcador
de certeza. Para que ela opere, é bem outro o órgão humano convocado
para a tarefa: Rousseau só admite como evidentes os conhecimentos “aos
quais na sinceridade de meu coração eu não poderia recusar o meu
consentimento”.[59] Desse fundamento, decorre a ordem das razões de
Rousseau: se eu não posso deixar de dar assentimento ao que é evidente
para a “sinceridade do meu coração”, será verdadeiro tudo que a mim
parece “ter uma ligação necessária com estas primeiras”.[60] O mais permanece na incerteza. Por outro lado, tudo aquilo que é “útil para a prática” é digno de inspeção.
O que o livro IV do Emílio sugere é que a atividade de
conhecer o mundo mobiliza um sujeito a um só tempo moral e passional. É
possível conhecer de modo seguro tudo aquilo que possui pregnância com
as paixões e a moralidade, um domínio que contém o que diz respeito à
sobrevivência e à felicidade dos humanos, assim como à conduta diante
dos outros. Essas são as questões que interessam, e sobre elas há
possível conhecimento seguro. Um conhecimento que se quer
não-metafísico, uma vez que movido por imperativos de ordem prática.[61]
Ainda na analogia com Descartes, o equivalente do cogito para
Rousseau é um domínio preenchido por um operador moral que encerra a
própria ideia de identidade pessoal. Não se trata de uma identidade que
possa ser definida por critérios puramente racionais ou fundados nos
sentidos, mas de um sentimento que faz com que a certeza de que eu
existo inclua, como condição necessária, a existência dos outros.
Uma certeza fundada em sentimentos morais, com implicações práticas.
No exercício dessa certeza, o que Rousseau deseja ver é um animal que
age por suas paixões, pelo que o emociona. Quanto mais envolvido, maior o
seu esclarecimento, maior a sua empatia para com os que sofrem, pois
apenas a imaginação movida pelos sentimentos morais pode produzir
solidariedade para com a dor alheia. Que o contrato rousseauniano —
descrito na obra Do contrato social –[62]
seja um pacto de associação e não de submissão, isso diz respeito à
necessária interposição do que é comum e geral para a definição do que
deve ser uma existência individual consistente.
Tanto o argumento arqueológico — do segundo Discurso — como o introspectivo — da Profissão de fé — adotam
a não-indiferença como fundamento da experiência humana. Detectado por
meio de um artificio teórico que afasta todos os fatos, o fundamento da
não-indiferença deve a eles retornar para aí exercer sua capacidade
regenerativa. Rousseau é claro a respeito do fundo alucinatório de seu
fundamento: trata-se de buscar um princípio que talvez nunca tenha
existido, mas “sobre o qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar
noções exatas para bem julgar de nosso estado presente”.[63] E não seria tal fundo alucinatório inerente a todo movimento no campo da filosofia política?
O princípio encontrado — o da piedade/compaixão e seus heterônomos — é
base para a refutação da ideia de que a associação humana se funda na
expectativa de vantagens recíprocas. Nessa perspectiva — presente em uma
linhagem que inclui Hobbes e Locke —, indivíduos racionais podem
ultrapassar o interesse individual estrito — o amor-próprio
rousseauniano — em prol de uma modalidade mais esclarecida de exercício
do próprio interesse. À combinação entre essa forma de promoção do
interesse individual e o estabelecimento de uma rede de dependências
mútuas entre os indivíduos, como base da sua associação, Rousseau
designou como “a obra-prima da política do nosso tempo”.[64]
Aviso: trata-se de ironia pura; a “obra-prima” representa uma obra
pérfida, responsável pelo estabelecimento de uma prosperidade e de uma
urbanidade aparentes, que encobrem os fatores reais de constituição da
sociedade: inveja, suspeita, ambição, exploração. Rousseau, dessa forma,
rejeita com clarividência o que mais tarde viria ser a combinação que,
da ciência política, fez a mais conservadora forma de conhecimento
social: o amálgama entre institucionalismo — como teoria do mundo
público voltada para desenhar “obras-primas” institucionais — e
utilitarismo — como psicologia e fundamento para a ação humana e marcas
das teorias da escolha racional que, vindas da Economia, foram acolhidas
pelo núcleo duro e conservador da Ciência Política contemporânea.
Por maior que seja o pessimismo de Rousseau, duas certezas parecem
derivar de sua reflexão: a primeira, a respeito das origens dos tempos
humanos, revela a piedade como parte fundamental da condição humana
originária; a segunda, indica a sede epistêmica de nossas certezas, o
“coração” — e não os sentidos e a razão —, preenchido pela moralidade.
Por ambos os caminhos, Rousseau opera um veto à indiferença e uma recusa
do que poderia ser designado como uma posição solipsista em filosofia
política. Tal posição poderia ser representada pelos que — como Thomas
Hobbes e John Locke — pensam a ordem social e política como um artifício
que deve decorrer de direitos individuais naturais. Neste caso, a
operação de um princípio de não-indiferença é menos relevante do que a
busca racional das melhores condições jurídicas e institucionais de
proteção de direitos naturais individuais.
Marcas finais
Em Protágoras e em Rousseau — ambos referências incontornáveis para a
refutação do princípio da indiferença —, encontram-se dois argumentos
distintos. Para o primeiro, o fato social é revelador, por si mesmo, da
presença de aidós (pudor) — por definição a virtude na não-indiferença — e de seu complemento diké (justiça).
Mais do que revelar supostas vantagens da associação, Protágoras
argumentou que a posse de tais virtudes capacitava os humanos a
constituir uma forma superior de vida, aquela que se materializa nas
cidades e constitui-se a partir do exercício da política do discurso. Em
Rousseau, são as certezas da filosofia da história, e de uma teoria do
conhecimento não dissociada de sentimentos morais, que dão a pista da
infalibilidade dos fundamentos. Ainda que pessimista e amargo diante do
que vê, Rousseau não admite a falibilidade ou obsolescência de seus
fundamentos. É a vida como ela é que, antes, deve ser reparada, e para
tal são inestimáveis os argumentos da não-indiferença.
David Hume, o adorável cético do século XVIII, ainda que convencido
das virtudes da simpatia — para ele uma paixão original e universal nos
humanos —, não estava seguro a respeito de sua infalibilidade. Avesso às
pretensões de demonstração da filosofia política de base solipsista —
crença em direitos individuais axiomáticos postos ex ante a
qualquer interação —, para Hume, assim como em Protágoras, o próprio
fato da vida social exige a presença ativa de uma virtude com
implicações fortes de não-indiferença. É nelas que se inscreve a fonte
de nossos juízos morais. O que em Rousseau aparece como uma virtude
originária, dissipada pelo tempo e pela civilização, para Hume é uma
“virtude natural”, coextensiva — e necessária — à própria experiência
social dos humanos.
A simpatia é uma emoção moral, que envolve motivações altruístas,
aberta, ainda, a aperfeiçoamento, pela educação moral e pela razão. Sua
dimensão moral está presente pelo fato de que é um mecanismo mental pelo
qual compartilhamos dos sentimentos dos outros. É, ainda, uma virtude,
que se expressa pelo pensamento, pelos sentimentos e pela ação. O travo
cético humiano se expressa na advertência de que não há passagem
automática do plano da virtude natural da simpatia para qualquer ideal
isonômico de imparcialidade.
Ao que tudo indica — para estabelecer um nexo comparativo em Rousseau
a piedade contém, em si mesma, como exercício irrefletido do sujeito,
um operador de isonomia: trata-se de uma mobilização diante de
qualquer sofrimento percebido; uma disposição sem reservas, sem métrica
e, por extensão, indistinta. Trata-se, pois, de um exercício da
não-indiferença, indiferente a seus alvos particulares. O homem genérico
de Rousseau pratica uma solidariedade igualmente genérica.
David Hume considera sujeitos por definição, socializados e inscritos
na história. Em outros termos, personagens de circunstâncias
particulares, sem a experiência natural da generalidade ou de qualquer
substância. É no exercício das interações postas pelas circunstâncias
que a virtude da simpatia opera, por pensamentos, palavras e ações. É
esse o sentido do travo prudente de Hume: é possível atribuir à virtude
da simpatia imparcialidade e aplicação isonômica, ou ela,
inevitavelmente, encerra modos erráticos de manifestação? Se for esse o
caso, o que pode/deve ser feito?
Com efeito, a simpatia é uma virtude caprichosa: “Simpatizamos mais
com as pessoas que nos estão próximas do que com as que estão distantes;
simpatizamos mais com nossos conhecidos do que com estranhos; mais com
nossos conterrâneos do que com estrangeiros”.[65] “Nossa situação, tanto no que se refere a pessoas como a coisas, sofre uma flutuação contínua…”[66]
A simpatia abriga uma parcialidade que se afasta de qualquer
perspectiva de imparcialidade. A teoria moral humana revela aqui uma
séria complexidade: a simpatia como princípio de indiferenciação — como
deflação do “enunciado Herzfeld” — se faz acompanhar por alguma
indiferença.
Atento à questão, Hume sugere que é necessário corrigir a simpatia,
pela adoção de um “ponto de vista firme e geral”, capaz de ajustar
nossos juízos morais: ” […] para impedir essas contínuas contradições, e
para chegarmos a um julgamento mais estável das coisas, fixamo-nos em
algum ponto de vista firme e geral; e, em nossos pensamentos, sempre nos
situamos nesse ponto de vista, qualquer que seja nossa situação
presente”.[67]
A correção dos sentimentos através da adoção de um ponto de vista
geral é o que permite alguma proteção diante do capricho das
circunstâncias particulares. Hume está a revelar um agente moral marcado
pela falibilidade e pela necessária particularidade de sua inserção no
mundo da vida. Mas, não há antagonismo existencial entre a capacidade da
simpatia e seu exercício errático e imperfeito. Somos capazes de corrigir — de modo imperfeito, é claro — as inclinações caprichosas da simpatia, pela adoção moral e cognitiva de princípios de natureza mais geral.
Hume fornece-nos, ainda, uma analogia entre as operações dos
sentimentos morais e as dos sentidos corporais: assim como é necessário
corrigir as sensações corporais, o mesmo se dá com os sentimentos
morais. O princípio da correção da aparência momentânea das coisas —
mencionado em Investigação acerca do entendimento humano — é que permite
nos livrarmos do erro perceptual de julgar que o remo semissubmerso na
água está partido, ou da sensação de duplicidade de imagens ao
pressionarmos os olhos.[68]
É um princípio análogo que pode corrigir os juízos morais. Ainda que
não disposto a abrir mão do postulado da falibilidade, Hume parece não
abrir mão da ideia de que corrigir a simpatia implica um esforço no
sentido de sua extensão e maior consistência.
A hipótese de um experimento humano no qual a indiferença seja banida
aparece como quimérica. Se, em princípio, nada nos for indiferente ou,
ao menos, passível de ênfases e atenções distintas, como estabelecer
escolhas e prioridades? Como sustentar juízos de natureza moral e ética
e, por essa via, definir obrigações?
Claro está que em tal cenário, as configurações do mundo humano nos
seriam impostas com idêntica capacidade de interpelação; e como que
imunes à indiferença. Um mundo dotado de tal atributo, por
indistintamente relevante, ensejaria tão somente o “sentimento
oceânico”, troçado por Freud e portador de uma sensação de vínculo com o
mundo inteiro. Nessa reedição estoica da experiência existencial no
mundo, qualquer distinção ou escolha soa como arbitrária e como
inadaptada à ordem indistinta das coisas. Nesse mundo, o amor exaustivo
ao comum nos tornaria indiferentes aos acidentes e aos pormenores. E
como nós, enquanto seres individuais, habitamos o acidente e o pormenor,
fica posta a aporia: o horror à indiferença exige atos de diferenciação
que, por sua vez, gerarão esferas de indiferença.
A indiferença é um fator instalado na condição humana. O grau de
pregnância é tal, que os esforços de refutação prática e teórica da
indiferença acabam por deslocar seus alvos, nunca por erradicá-los. Tudo
indica que a capacidade lógica e cognitiva de estabelecer distinções
esteja associada a movimentos de consideração e de desconsideração de
coisas e seres no mundo. O filósofo Nelson Goodman resumiu bem o ponto:
somos fazedores de mundos, mas nossa capacidade de não ver as coisas é
infinita.
Sendo assim, os esforços genuínos de aplicação de princípios de
não-indiferenciação acabam por definir esferas de indiferença. Toda a
atenção deve incidir, portanto, nos elos mais fracos e distantes da
longa cadeia de indiferenças. Quanto mais densas nossas obrigações para
com os que ali se situam, maior será a consistência dos demais círculos
concêntricos da moralidade. Essa parece ser uma consequência necessária
de um aggiornamento da posição humiana, a respeito das
possibilidades de correção dos nossos juízos morais. Em outros termos,
por um efeito um tanto dialético, o princípio da não-indiferença exige a
consideração do que fazemos com aqueles sobre os quais incide nossa
indiferença máxima como marcador privilegiado da qualidade e da extensão
de nossa sensibilidade moral.
Notas
[1] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Coleção Os Pensadores (São Paulo: Abril, 1978), p. 254.
[2] Ver Léon Robin, La morale antique (Paris: Presses Universitaires de France, 1947), pp. 21-22.
[3]
As inclinações morais de Demócrito podem ser inferidas de uma série de
fragmentos como:[…]”uma plenitude razoável é coisa mais segura do que
uma superplenitude” (Plutarco, Da tranquilidade da alma, frag.
3); “Não por medo, mas por dever, evitai os erros” (Demócrito de Abdera,
frag. 41); “Aqueles cujo caráter é bem ordenado vivem na boa ordem” (ibid., frag. 61); “Desejar algo violentamente cega a alma para o restante” (ibid., frag. 72). Cf. José Cavalcante de Souza (org.), Os pré-socráticos, Coleção Os Pensadores (São Paulo: Abril, 1978), pp. 315-326.
[4] Cf. Max Weber, “O conceito de burocracia: uma contribuição empírica”, em Edmundo Campos (org.), Sociologia da burocracia (Rio de Janeiro: Zahar, 1976), p. 28.
[5] Em edição para o inglês, de 1958, da Ética protestante e o espírito do capitalismo, Talcott Parsons traduziu stahlhartes Geháuse (a expressão original de Weber) como iron cage.
[6] Cf. Michael Herzfeld, The Social Production of Indifference: Exploring the Roots of Western Bureaucracy (Chicago: The University of Chicago Press, 1992), p. 1.
[7]
O livro de Herzfeld é mesmo excelente. Ainda que não prossiga com ele
neste texto, é reconfortante ler um antropólogo que emprega de modo
aberto, sem estar entre aspas, a expressão humanidade compartilhada. Antropólogos,
de forma usual, põem aspas em todas as palavras, como que a dizer
quanto somos parvos, os que vivemos em mundos não aspeados.
[8] Cf. Bernard Sève, “Indifference”, Philippe Desan (org.), Dictionnaire de Michel de Montaigne (Paris: Honoré Champion, 2004) pp.503-504
[9] Montaigne, Essais, livro II, ensaio 14 (Paris Flammarion, 1934), p. 611.
[10] Montaigne, Essais, livro II, ensaio 37 (Paris: Flammarion, 1934), p. 786.
[11]
Ambas as possibilidades — o caráter relativo da posição dos objetos no
mundo e do lugar ocupado pelos seus observadores — foram postas como
imperativos a qualquer percepção do mundo pelos antigos céticos. Ver, a
esse respeito, Sexto Empírico, “Outlines of Pyrrhonism, I”, 100-117, em
Sextus Empiricus, I, trad. R. G. Bury (Cambridge/London: Harvard University Press/William Heinemann, 1976), pp. 61-69.
[12] Cf. Judith Shklar, Ordinary Vices (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1984).
[13] Cf. Montaigne, Essais, livro II, ensaio 11 (Paris: Flammarion, 1934), p. 429.
[14] Cf. Judith Shklar, Ordinary Vices, cit., especialmente o capítulo 1, “Put Cruelty First”, pp. 7-44.
[15] A referência obrigatória é o ensaio “Da crueldade”. Ver Montaigne, Essais,cit. Ver ainda o excelente verbete “Cruauté”, de autoria de Fréderic Brahami, em Philippe Desan (org.), Dictionnaire de Michel de Montaigne, cit., pp. 236-238.
[16] Montaigne, Essais, cit., p. 430.
[17]
A crueldade nazista, por exemplo, envolveu a participação de diversas
camadas de perpetradores, mas foi viabilizada por imenso contingente de
observadores indiferentes. Esse ponto foi notavelmente explorado por
Raul Hillberg. Cf. Raul Hillberg, Perpetrators Victims Bystanders: the Jewish Catastrophe, 1933-1945 (Nova York: Harper Perennial, 1993).
[18] Para apresentar a solução protagoriana, tomo
como base meu ensaio “Relativismo e Universais: um argumento
não-gelneriano”, em Antonio Cícero & Wally Salomão (orgs.), Relativismo como visão de mundo (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994), pp. 39-62.
[19] Cf. Platão, “Protágoras”, 320c, passim, Platão: Diálogos. Protágoras, Górgias, Fedão, trad. Carlos Alberto Nunes (2 ed. rev. Belém: Editora Universitária da UFPA, 2002).
[20] Cf. Eugène Dupréel, Les sophistes (Neuchatel: Éditions du Griffon, 1948); William Guthrie, The Sophists
[21] Cf. William Guthrie, The Sophists, cit.,
p. 65. Carlos Alberto Nunes traduziu a expressão como “conhecimento
necessário para a vide. Ver Platão, “Protágoras”, 321d, cit., p. 65.
[22] Cf. Henry George Liddel & Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1′ ed.,1843. Oxford: Oxford University Press, 1977).
[23]
O termo aparece em Léon Robin, no contexto de uma discussão sabre a
imagem atomista do universo: natureza é a reserva universal dessas
sementes — panspermia impassíveis, permanentes, em quantidade infinita,
que, por meio de seus diversos movimentos e agregação, produzem todas as
coisas e todo o devir. Mas o movimento não pode acontecer sem o não-ser
do vazio, correlativo do ser sem vazio’ Cf. Léon Robin, La pensée grecque (Paris: Albin Michel, 1948), p. 140.
[24] Cf. Aristóteles, Política 1256a23, apud Henry George Liddel & Robert Scott, A Greek-English Lexicon, cit., p. 1313.
[25] Cf. Platão, “Protágoras”, 321d, cit., p. 65.
[26] Ibid., 322 a-b, p. 66.
[27] Ibid., 322c, p. 66.
[28] O léxico de Liddel & Scott nota, ainda, que diké, a partir de Homero, passa a estar associada a “proceedings instituted to determine legal rights” e à ideia de fazer justiça e ministrar punições. Cf. Henry George Liddel & Robert Scott, A Greek-English Lexicon, cit., p. 430.
[29] Cf. William Guthrie, The Sophists, cit. p. 66.
[30] Cf. Dupréel, Les sophistes, cit., p. 32.
[31] Cf Henry George Liddel 8( Robert Scott, A Greek-English Lexicon, cit., p. 36.
[32] Cf. Platão, “Protágoras”, 322c, cit., p. 66.
[33] Cf. Platão, “Protágoras”, 322d, cit., pp. 66-67.
[34]
Há duas menções socráticas à sentença de Protágoras. Ver “Teeteto”,
152a, e “Cratilo”, 396a. A do “Teete-to” é mais extensa: segundo
Sócrates, Protágoras “afirmava que o homem é a medida de todas as
coisas, da existência das que existem e da não existência das que não
existem”. Cf. Platão, Diálogos: Teeteto e Cratilo, trad. Carlos
Alberto Nunes (3. ed. Belém: Editora Universitária da UFPA, 2001). Fora
do contexto socrático, há ainda a referência clássica feita por Sexto
Empírico, nos Hipotiposeon (Esboços do Pirronismo). Ver Sexto Empírico, Outlines of Pyhrronism, 1,216-219, cit.
[35]
É de notar a observação de Dupréel: ” (…) a doutrina de Protágoras é,
no fundamental, um convencionalismo sociológico”. Cf. Eugène Dupréel, Les sophistes…, cit., p.25.
[36]
“(…) nasci enfermo e doente; custei a vida à minha mãe e o meu
nascimento foi a primeira das minhas infelicidades.” Cf. Jean-Jacques
Rousseau, “Les confessions”, em auvres completes, 1 (Paris: Bibliothèque du Pléiade, 1959), p. 7.
[37] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem, cit., p. 241.
[38] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre as ciências e as artes, Coleção Os Pensadores, cit.
[39] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Emílio, ou da Educação, trad. Sergio Milliet (São Paulo: Difel, 1973).
[40] Para todas as referências do parágrafo, cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem, cit., p. 230.
[41] Ibid., p. 231.
[42] Ibid., pp. 252-253.
[43] Ibid., p. 253.
[44] Ibidem.
[45] Ibid., p. 254.
[46] Cf. Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique: les principes du système de Rousseau (Paris: J. Vrin, 1983), p. 340.
[47] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem, cit., p. 241.
[48] Ibid., p. 254.
[49] Ibidem, para
todas as passagens do parágrafo. Há aqui uma curiosa passagem, na qual a
virtude natural do “homem selvagem” encontra paralelo na “populaça”:
“Nos motins, nas arruaças, a populaça se reúne, o homem prudente se
distancia: a canalha, as mulheres do mercado, é que separam os
contendores e impedem as pessoas de bem de se degolarem mutuamente”.
[50] Cf. Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 340.
[51] Cf. Luiz Roberto Salinas Fortes, Rousseau: o bom selvagem (São Paulo: Humanitas/Discurso, 2007), p. 39.
[52] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Emílio, Livro IV, cit., p. 300, para todas as referências do parágrafo.
[53] Ibid., p. 301.
[54] Ibidem, para todas as referências do parágrafo.
[55]
Cf. Oswaldo Porchat Pereira, “O conflito das filosofias”, em Bento
Prado Jr.; Oswaldo Porchat Pereira; Tércio Sampaio Ferraz, A filosofia e a visão comum do mundo (São Paulo: Brasiliense, 1981), pp. 9-21.
[56] Ibid., p. 302.
[57] Cf. Fernando Gil, A convicção (Porto: Campo das Letras, 2003).
[58] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Emílio, cit., p. 304.
[59] Ibidem.
[60] Ibidem.
[61] Para essa aproximação entre certeza epistêmica e moralidade, sigo a sugestão de Luiz Roberto Salinas Fortes em Rousseau: o bom selvagem, cit., P. 41.
[62] Cf. Jean-Jacques Rousseu, Do contrato social, Coleção Os Pensadores (São Paulo: Abril, 1973).
[63] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem, cit., pp. 228-229.
[64] Cf. Jean-Jacques Rousseau, “Preface du Narcisse”, auvres completes, 2 (Paris: Bibliothèque du Pléiade,1959), pp. 959-974.
[65] Cf. David Hume, Tratado da natureza humana (São Paulo: Editora Unesp, 2000), p. 620.
[66] Ibid., p. 621.
[67] Ibidem.
[68] Cf. David Hume, Investigação acerca do entendimento humano (São Paulo: Nacional, 1972),pp. 136-137.
*Renato Lessa é professor associado de filosofia política da PUC-RJ,
professor titular (aposentado) de filosofia política da UFF e
pesquisador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa. Pesquisador 1A do CNPq e membro da Ordem Nacional do Mérito
Científico (Brasil) e da Ordem da Instrução Pública (Portugal). Presidiu
a Biblioteca Nacional.
Fonte: https://artepensamento.ims.com.br/item/da-indiferenca-em-primeiro-lugar/