Por RICARDO ANTUNES*
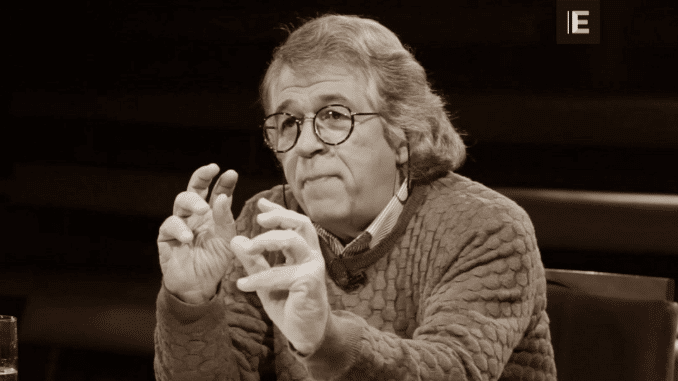
O sistema de reprodução sócio-metabólico do capital, além de ter uma engrenagem destrutiva, com a pandemia tornou-se também um sistema letal
Sobre a pandemia
Logo nos primeiros meses de pandemia, recebi um convite da Ivana Jinkings, da Editora Boitempo, para publicar um pequeno livro sobre a pandemia. Agradeci e disse que não, pois já estava fazendo lives e nelas tinha falado tudo que estava pensando sobre a tragédia. Ela pediu para eu pensar uns dias. Um ou dois dias depois de refletir, acabei por aceitar e pensei: vou pegar entrevistas que dei na época e colocá-las no papel, sob a forma de um texto-síntese. Porém, quando comecei a escrever este pequeno livro, com o título Coronavírus: o trabalho sob fogo cruzado – publicado em e-book – foi quando, de fato, comecei a refletir sobre o que significava essa pandemia.
Lembrei que minha mãe, nascida em 1918, falava muito da gripe espanhola, era algo forte na memória dela. Durante décadas ela se referia a isso como uma expressão de horror. Fui, então, pouco a pouco, ao refletir e escrever esse pequeno texto, que comecei a entender o tamanho da tragédia, o que me levou a uma conclusão central: o capitalismo, ou de modo ainda mais abrangente, o sistema de reprodução sócio-metabólico do capital, além de ter uma engrenagem destrutiva – e aqui sou herdeiro de uma tese de Marx, que foi exponencialmente desenvolvida por Mészáros – com a pandemia tornou-se também um sistema letal. Foi aí que cunhei a expressão “capitalismo virótico” ou “pandêmico”. É essa, então, a minha síntese do que foram os anos de 2020 e especialmente, de 2021, quando ultrapassamos, no Brasil, a marca de 600 mil mortos.
De modo mais do que resumido: a pandemia não é um evento da natureza. Por exemplo, os degelos cada vez mais frequentes, que liberam os vírus antes congelados que se esparramam para a superfície, têm a ver com aquecimento global, energia fóssil, queimadas, extração mineral, produção desenfreada, agroindústria, expansão de área destinada ao gado, emissão de gases de efeito estufa, enfim, tudo isso nos levou a uma situação não só destrutiva como letal, por isso capitalismo pandêmico ou virótico. Não se trata de uma aberração da natureza, portanto, os mais de cinco milhões de mortos pela pandemia, dados que estão subnotificados (imagine a Índia, por exemplo; é impossível saber tudo que se passa num lugar com tamanha indigência humana. E o Brasil segue na mesma linha).
Quando se tem cinco milhões de mortos, além da taxa de mortalidade “normal” de cada ano, por doenças e questões diversas, é porque o sistema chegou num nível completo de destruição, no qual a letalidade começa a se tornar normalidade. Tudo isso me faz lembrar recorrentemente a tese de Marx e Engels de que “tudo que é sólido se desmancha no ar”. Agora tudo que é sólido pode derreter, fenecer.
Assim, a primeira constatação é essa: a pandemia não causou a tragédia, ela desnudou, acentuou e exasperou o que já vinha em andamento. Basta citar três pontos que são anteriores à pandemia:
(1) a destruição humana do trabalho atinge níveis inimagináveis – certamente muito superior ao que se reconhece oficialmente. No Brasil são uns 18 milhões de desempregados, considerando também os desalentados. A População Economicamente Ativa (PEA) que já foi superior a 100 milhões, reduziu-se expressivamente durante a pandemia. O nível de informalidade está em torno de 40%. E em maio de 2020 nos deparamos com uma nova tragédia relatada pelo IBGE: “a informalidade diminuiu”, informava o instituto. Boa notícia? Não, porque significava que o trabalho informal, que recolhia aquele bolsão de desempregados, não conseguia sequer cumprir tal função. Ao contrário, naquele mês a informalidade também estava desempregando. Portanto, no mundo do trabalho, a devastação é completa e mesmo irreversível, do ponto de vista do sistema dominante. Ele pode minorar, em épocas de expansão, e regredir, nas fases de recessão. Pensar seriamente em pleno emprego, no capitalismo global, é um completo absurdo.
(2) Sobre a natureza, dizíamos, há 15 anos, que o futuro estava comprometido. Agora não faz mais sentido dizer isso, pois é o presente que está comprometido. E não sabemos se é possível reverter o curso atual de destruição. Sabemos que dá pra estancar, e a pandemia já deu pistas. Quando houve o fechamento das cidades e as pessoas pararam de circular, o ar melhorou. O transporte privado e as indústrias destrutivas são elementos fundamentais da destruição da natureza diante de seu consumo de energia fóssil. E como vamos fazer para estancar a destruição? Será preciso eliminar tudo que for supérfluo e social e ambientalmente destrutivo.
(3) a igualdade substantiva entre gêneros, raças, etnias, nunca esteve tão longe, com a intensificação e aprofundamento das desigualdades e da miserabilidade. A luta antirracista, a revolução feminista em curso no mundo, as magistrais rebeliões indígenas mostram que o sistema do capital nos levou ao fundo do poço, pois já estamos num degrau abaixo da barbárie.
Daí a atualidade da frase “tudo que é sólido se desmancha no ar”, porque não é mais possível continuarmos sob este modo de vida. A COP-26 em Glasgow sintetiza perfeitamente. Só blá-blá-blá, como resumiu a jovem ativista sueca Greta Thunberg. O capitalismo não tem nenhuma possibilidade de enfrentar essas tragédias e, se quisermos tratar as coisas com rigor, esse cenário só tende a piorar. Basta um simples exemplo: o Jeff Bezos (ou será Bozos?), poucos meses atrás, depois de acumular ilimitadamente em todos os cantos do mundo (até na China o triliardário atua intensamente) agora sonha em acumular explorando o espaço. Não basta ter devastado o nosso território, é chegada a hora de acumular no espaço sideral… Assim, se há tanta destruição da natureza, destruição do trabalho e obstáculos à igualdade substantiva, termo cunhado por Mészáros, é porque esse mundo não se sustenta mais. Ao contrário do There is no alternative, o imperativo crucial de nosso tempo é “reinventar um novo modo de vida”.
E, para não parecer algo utópico, como se os (des)valores do capital fossem eternamente intocáveis, vale olhar um pouco para a história. O feudalismo, por exemplo, parecia um sistema poderosíssimo, com uma nobreza fortíssima, rica e armada. A igreja ultraconservadora e controladora. Ao lado, um Estado Absolutista e despótico. Tudo isso foi derrubado, em 1789, com a primeira revolução burguesa radical na França. Ruiu, assim como ruiu o czarismo russo em 1917. Tal como nestes momentos históricos, a sociedade chegou a seu limite. Em 1917 tínhamos uma potência revolucionária nascente e poderosa, a classe operária com seus organismos de luta, como os sovietes ou conselhos, os sindicatos de classe e os partidos operários. Cito só estas duas grandes revoluções, sem aqui entrar em seus tantos desdobramentos, cada uma delas ao seu modo. Mas vale recordar que também a revolução burguesateve de recorrer ao seu instrumental revolucionário para poder desmontar a ordem feudal.
O Brasil de hoje é um laboratório da experimentação, para se testar até onde a indigência humana pode ser levada, assim como a Índia, os países africanos, a exemplo da África do Sul. A própria exclusão desse imenso e maravilhoso continente da vacinação em massa é exemplo do que estamos aludindo. E o Brasil, se tudo isso não bastasse, tem um governo cujo presidente é ditatorial, semibonapartista e neofascista (gerando o que caracterizei como “governo-de-tipo-lumpen”) que combina sua forma autocrática com uma política neoliberal primitiva, do que resultou um negacionismo científico que foi propulsor vital para a expansão da pandemia. A ideia era: “vamos soltar a boiada” e o resultado são os mais de 600 mil mortos.
Para resumir: vivemos um estágio da humanidade onde não há mais conserto para o atual sistema. Nunca estivemos tão perto do fim da história da humanidade. O capitalismo, pouco a pouco, acabou por comprometer irreversivelmente a sobrevivência humana, de modo mais intenso nas periferias, onde vive a ampla maioria da humanidade que depende de seu trabalho para sobreviver. Mas esta questão vital não se resume ao Sul do mundo. Vimos caminhões do exército levando idosos para enterro na região mais rica e avançada da Itália, pois não havia estrutura de saúde suficiente para acolher os idosos que trabalharam décadas para manter o país. E há os exemplos de França, Inglaterra, Alemanha, para não falar dos EUA e seu sistema de saúde todo privatizado.
Parece até que adentramos em outro patamar da dicotomia “socialismo ou barbárie”. Novamente recorrendo a Mészáros: agora é “socialismo ou barbárie, se tivermos sorte”. Porque na barbárie já estávamos antes da pandemia, agora descemos ainda mais alguns degraus.
No Brasil
No plano mais conjuntural, esta tragédia vai nos cobrar muitas décadas até sairmos do atoleiro. O que chamei de “era de desertificação neoliberal” iniciada nos anos 1990 se estendeu pelo século que começou de modo horroroso. Os porquês desse quadro atual são difíceis de explicar, vão exigir que estudemos mais. Podemos iniciar dizendo que “no meio do caminho tinha uma pandemia”, algo que não tinha ocorrido, salvo em 1918. Não podemos culpá-la totalmente, mas não dá pra tirar sua importância, uma vez que o mundo se viu aterrorizado pelo risco iminente da morte em todas as famílias.
No Brasil isso foi ainda mais acentuado, porque este governo implementouuma política reconhecidamente genocida. Investiu na ideia de “liberar” a população, sem fazer lockdown e assim forçar a imunidade de rebanho. Os mais vulneráveis seriam contaminados em massa – negros(as), indígenas, assalariados(as) pobres, das periferias – e isso, segundo o negacionismo, imunizaria a população branca, das classes médias urbanasque poderiam se defender com estratégias cotidianas de trabalho remoto, menos precário etc. A grosso modo, essafoi a política de liberalização da pandemia, por certo, um traço da letalidade do sistema, como ocorreu durante meses nos EUA, sob Donald Trump e em tantos outros países. Assim, não podemos dizer que Jair M. Bolsonaro não sabia o que fazer. Sabia perfeitamente. Trump também sabia, fez isso e só mudou quando viu que iria perder as eleições. O mesmo se deu com Bolsonaro, que só mudou parcialmente, quando a CPI aflorou a possibilidade real do seu impeachment.
Em uma analise mais ampla e estrutural, nunca tivemos aqui sequer uma revolução democrática burguesa, como Inglaterra, França e outros países. Alemanha, Itália e Japão também acabaram consolidando longos períodos democráticos, sempre no sentido burguês do termo. Consequentemente, aqui não tivemos nem isso, o que ajuda a entender porque as instituições, frente a uma vitória inesperada do neofascismo, se intimidaram e em vários momentos se acovardaram. Recentemente também tivemos governos do PT, com Lula saindo com alto nível de aprovação em seu segundo mandato. Mas é bom recordar que houve muita flexibilização e precarização do trabalho, ainda que, paralelamente, foram criados 20 milhões de empregos e o país cresceu e se expandiu. É verdade também que Lula foi muito generoso com a agroindústria (quanta injustiça em empurrá-lo para o cárcere), assim como foi generoso com a grande burguesia, indústria, bancos etc.
Mas sua derrocada, em especial no segundo governo Dilma Rousseff, resultado também da enorme manipulação política da opinião pública, levada a cabo pela mídia, somado ao desgaste natural dos seus governos, a partir das rebeliões de 2013 e da ampliação da crise no Brasil e do PT, todo este cenário foi propicio à deposição de Dilma. Se não há dúvida de que havia corrupção nos governos do PT (alguém pode imaginar que um governo possa ter apoio do Centrão sem corrupção?), vendeu-se a ideia que se tratava do “governo mais corrupto da história”, como se a corrupção tivesse em algum momento deixado de existir no Brasil. Basta relembrar da ditadura, coisa que a parte da juventude não tem ideia. O que se sabia na época, de escândalos de corrupção, a censura da ditadura proibia a imprensa de publicar.
A corrupção, vale acrescentar, é traço, uma marca do capitalismo, ela pode ser maior ou menor. Mas a direita destaca esse fato quando quer depor um governo, como foi aqui, que não mais lhe interessava. A Dilma, no plano estritamente pessoal, é uma mulher corajosa, nunca roubou nada. Seu maior limite deve-se ao fato de que ela não era apta a manter a conciliação estruturada por Lula. Aqui vale um parêntese: Lula é um gênio da conciliação, assim como Getúlio Vargas o foi em seu tempo. Há, entretanto, uma diferença entre eles: Getúlio era um estancieiro dos pampas, um latifundiário, dotado de fortes atributos para conciliar (visando dominar) amplos setores da classe trabalhadora. Já Lula, o ex-metalúrgico, foi ainda mais além: mostrou invulgar capacidade de conciliação com a classe dominante, mas não foi capaz de compreender que jamais conseguirá “dominá-la”. E, pelo que vem fazendo no presente, não é difícil antever novas turbulências, um pouco mais adiante. A Dilma faltava esse perfil de conciliação para manter seu governo.
Uma última nota pra se tentar entender o tamanho da crise política aberta. Bolsonaro, entre outras causas e contingências, ganhou a eleição apresentando-se como o candidato contra o sistema. E isso lhe fez conquistar forte votação popular na classe trabalhadora mais empobrecida, para não falar das classes médias conservadoras e do decisivo apoio da burguesia brasileira, que é incapaz de viver sem predação. Mas, se o candidato de extrema direita se dizia (por certo falsamente) contra o sistema, a maioria dos candidatos que se apresentavam como sendo de esquerda, se esmerava em apresentar propostas para consertar o sistema. É impressionante a capacidade que a esquerda tem (e aqui não me restrinjo somente ao caso brasileiro) em se apresentar na batalha eleitoral e afirmar que vai arrumar o sistema.
Precisamos reinventar uma esquerda que tenha coragem de afirmar que este sistema é destrutivo e letal; que recupere o sentido de esperança que se esgarçou ao longo de décadas de neoliberalismo, que não será possível ter emprego para a totalidade da classe trabalhadora sem mudanças estruturais profundas, que não vai conseguir preservar a natureza e que será impossível avançar na luta pela igualdade substantiva entre homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, sem ferir e confrontar os interesses do capital e da classe burguesa que hoje reina como intocável e inquestionável.
Veja-se o exemplo do Parlamento. Em meados do século XIX, quando houve o golpe de Luis Bonaparte na França, Marx escreveu (lembro aqui de memória): “o parlamento francês perdeu o mínimo da credibilidade que tinha diante da população”. Imagino o que escreveria se conhecesse o Brasil contemporâneo. Como proceder num país onde o Presidente da Câmara decide sozinho se tem impeachment ou não? A população percebeu que este parlamento está comprado pelo governo, de modo que os deputados só poderão abandonar Bolsonaro na reta final da eleição, se o barco chafurdar, quando os interesses do Centrão já estiverem totalmente garantidos. E não é difícil imaginar, então, se isso ocorrer, que esse mesmo pântano será a nova base de apoio do governo Lula. É por isso que o Brasil tem uma história interminável que combina e mescla farsa, tragédia e tragicomédia.
O princípio esperança
Por tudo isso, recordei de Ernst Bloch a necessidade de se resgatar o princípio de esperança. E isso não se faz com conciliação, mas através de mudanças estruturais profundas. Vejamos os exemplos das comunidades indígenas, em seus experimentos sociais que – antes de tudo – preservem a natureza não só para sua geração, mas para as gerações futuras, dos filhos, dos netos, para a humanidade. Apesar de todas as dificuldades, o MST como movimento coletivo sobrevive, tem escolas, experimentos cooperativos, realiza lutas femininas, da juventude, dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como o MTST em suas lutas por moradia e por uma vida melhor.
Os partidos continuam nos devendo. Lamento ver o PSOL que parece cada vez mais repetir a trajetória do PT. Falo como filiado ao PSOL, e não como opositor ou inimigo. Mas parece esquecer que, em seu início, o PT lutou muito para não ser a cauda eleitoral do PMDB, que sempre defendia a frente ampla, alardeando muito mudar para de fato tudo preservar. O PT nasceu contra essa ideia de Frente, mas isso já faz mais parte do passado do que do presente, ainda que dentro do PT também se possa encontrar militância crítica e que se preocupa com esse cenário.
Por fim, para compor o quadro de tantas dificuldades, hoje não está fácil fazer lutas operárias. As pessoas sabem do risco ainda maior do desemprego causado pela pandemia e sabem que mesmo sem fazer luta ou greve já tem o risco de ver seu nome na lista de demissões. A conjuntura tem um caro lado adverso para o movimento operário. Assim, estamos obrigados a avançar nas lutas que fazem parte da história da classe trabalhadora e também ter ousadia para inventar novas formas de luta social e de classes, que florescem no Brasil, América Latina, África, Ásia. O que deve, entretanto, ser fortemente enfatizado que o caminho aparentemente mais seguro da conciliação de classes acaba por nos distanciar ainda mais da “reinvenção de um novo modo de vida” para além dos constrangimentos impostos pelo capital, que já atingiu um nível de devastação – e contrarrevolução – que converteu a “democracia” atual em um tabuleiro onde, em última instância quem manda é o capital, as grandes corporações financeiras que nos impõem uma realidade ficcional, cujo objetivo não é outro senão escamotear o domínio das burguesias globais, nativas e forâneas, que são as que detêm o controle das riquezas e também de todos os governos do mundo, com raríssimas exceções.
É por isso que não há nenhum país capitalista que não tenha sua economia sob controle direto do capital financeiro, o mais destrutivo, o mais desprovido de qualquer sentido anímico. Lembro aqui a formulação de Marx. O sonho do capital, desde sua gênese, é fazer com que dinheiro (D) vire mais dinheiro (D’). Mas para que o dinheiro vire mais dinheiro, Marx demonstrou que é preciso produzir mercadorias para, ao final, gerar acumulação de capital. Daí sua fórmula interminável: D-M-D’, seguida de D’-M’-D”, depois D’’-M’’-D”’ e assim segue o curso interminável da lógica da acumulação de capital, dado que sem produção não se cria mais dinheiro, a produção de mais valia é vital para a acumulação de capital e o ciclo se torna interminável. E hoje ele só pode se reproduzir, como indicamos anteriormente, devastando e destruindo tudo que lhe obsta e atrapalha.
Nesse sentido, o mundo vive um momento horroroso, como vemos na briga entre Apple e Huawei pelo mercado global do 5G, grande símbolo das disputas globais e do tamanho do imbróglio em que se encontra a humanidade. Não tenho dúvidas de que, em meio a tantas tragédias, entraremos em uma era de convulsões sociais profundas. Não tenho o segredo de como serão tais convulsões, mas elas vão acontecer.
A experiência chilena
O Chile tem sido um grande laboratório social. Pela primeira vez, no período mais recente, com a eleição de Salvador Allende e a tentativa de implantar o socialismo por meio eleitoral. E acrescento que esse experimento teve um traço sublime de grandeza, que na época não víamos, em razão de nossas reservas quanto às possibilidades do socialismo pela via eleitoral. Mas é preciso dizer que a experiência de Allende foi grandiosa e derrotada pelo velho golpe militar, ditatorial, repressor, que tanto macula a América Latina. O segundo experimento, tivemos com a fusão da ditadura militar de Pinochet com o neoliberalismo. O Chile foi o primeiro país neoliberal do mundo, antes mesmo que a Inglaterra, que foi a primeira na Europa, seguida pela Alemanha de Helmut Kohl e, claro, os EUA de Reagan. A ditadura chilena implantou um neoliberalismo primitivo e sanguinário, não é à toa que foi lá que Paulo Guedes foi experimentar seus aprendizados obtidos na chamada Escola de Chicago.
As explosões sociais de 2019 no Chile davam a impressão de que as esquerdas sociais viviam um pleno domínio sobre o país. E as eleições mostraram que não era bem assim, pois o candidato neonazista (Jose Antonio Kast, filho de um oficial alemão nazista) ganhou no primeiro turno e assustou. É aqui que entra a tragédia que a democracia burguesa impõe às esquerdas. Gabriel Boric é liderança jovem, nascida nas lutas sociais e estudantis de dez anos atrás, um pouco à margem dos partidos tradicionais. Mas agora começa a ser testado: ou fazia as concessões ao centro, para ganhar as eleições, ou corria o risco de perder as eleições.
A situação de hoje, com pequenas variações locais, é mais ou menos assim: a tendência eleitoral dominante na América latina tem sido mais ou menos assim: um terço de esquerda, um terço direita aberta e mesmo fascista e um terço de centro, que vai para um ou outro lado conforme os contextos. A expansão da extrema direita é mundial, e a partir da eleição de Donald Trump, ou do Brexit, ela cresceu, a exemplo do leste europeu, Filipinas, até na Índia. Ela cresceu e a influência de movimentos neonazistas aumentou.
A esquerda foi pouco a pouco abandonando o que era seu elemento mais forte, que era de ser radical em suas formulações. E digo radical em termos etimológicos, isto é, de buscar as raízes dos problemas. E hoje a extrema direita abraçou o discurso radical, perdeu a vergonha de se apresentar assim. Ela nem mais se define como direita e sim como extrema-direita, como fascista ou mesmo nazista. E ela quer mudar o sistema, ao seu modo, assim como o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini também falavam em mudança do sistema. E em meio ao ressurgimento deste cenário, a esquerda majoritariamente, para defender o que resta de “liberdades democráticas”, vem se tornando a via de concertação do sistema. Não é difícil imaginar onde isso vai acabar.
No caso brasileiro, depois de 2013 não vimos nada parecido com os grandes levantes iniciados em 2019 no Chile e que se mantiveram mesmo na pandemia. A causa imediata foi o aumento do preço do transporte, tal como em 2013 por aqui. E o Chile vinha sendo um barril de pólvora há anos. Era certo que o país ia explodir em algum momento. Havia uma latência, algo parecido com um vulcão. Se você olhá-lo por cima verá que mesmo sem a erupção está tudo borbulhando lá dentro. Era assim que o país se encontrava já há anos. Pude estar várias vezes no Chile nesta última década. A privatização do país criou bolsões de pobreza num povo que cada vez mais buscava recordar e reviver a experiência de Allende.
As alternativas no Brasil
O Brasil vive algo parecido, embora ainda não se tenha dado conta plenamente (os primeiros sinais estão se evidenciando), depois de cinco anos de destruição, para citar somente os anos mais recentes. O povo olha hoje o período Temer-Bolsonaro e pensa: “quero Lula de volta”. Se chegamos num nível onde as pessoas põem o osso na panela pra ter o cheiro da carne… Isso começa a ser entendido, pois no governo Lula tinha carne ou frango na mesa de amplos setores da classe trabalhadora, ao menos uma vez por semana. Qualquer comparativo, então, é favorável ao PT, mesmo tendo sido um governo social-liberal e não antineoliberal. Sem nenhum traço reformista comparável ao governo João Goulart, que em 1964 caiu por isso. O PT não caiu por ser reformista. O PT caiu porque a conciliação não interessa mais. A democracia virou o tabuleiro das grandes corporações e, ou a esquerda joga de acordo com o que a burguesia quer, ou a burguesia aparece com a opção fascista pra colocar a faca no pescoço das esquerdas.
Temerosa, as esquerdas acabam aceitando esse jogo. Até o Alckmin é cobiçado para vice, assim como foi Temer anteriormente. E Lula diz que dorme tranquilo. Mas alguém acha que Lula imaginou um golpista em Temer? Não, até porque é a realidade que faz o golpista. Temer, com sua sutileza horripilante, se fez golpista na hora em que as classes dominantes dele precisaram. E foi assim que ele conseguiu, recentemente, segurar Bolsonaro, seu “companheiro de batalhas”, que assinou o papel que Temer escreveu sem hesitar. “Não quer cair? Vem comigo, faz assim”. E Bolsonaro respondeu: “escreve que eu assino”.
"O PT caiu porque a conciliação não interessa mais. A democracia virou o tabuleiro das grandes corporações e, ou a esquerda joga de acordo com o que a burguesia quer, ou a burguesia aparece com a opção fascista pra colocar a faca no pescoço das esquerdas".
Reconheço que estamos numa situação delicada. O que eu não quero mais viver depois de quase quatro décadas? Não quero mais uma ditadura militar e menos ainda uma ditadura fascista. Na ditadura militar de 1964, não sabíamos se iriamos presos na calada da noite. Portanto, claro que numa eleição entre um fascista e um não fascista, se assim for o segundo turno, a nossa opção é obvia. Até pra poder salvar o mínimo e último resquício da Constituição de 1988. Ela foi resultado de um pacto social também conservador. Lembro de vastos setores da esquerda que éramos contra a Constituição Federal de 1988, não foi à toa que o PT não a assinou e parlamentares que o fizeram foram expulsos do partido.
É uma Constituição que hoje se mostra progressista, mas que na época sabíamos que podia ter sido muito mais avançada, bem melhor. Na hora final o Centrão – que já existia – foi lá e fez seus acertos e contrabandos. Era um avanço em relação à ditadura, claro, mas a luta de classe no Brasil dos anos 80 foi das mais fortes da história do século XX. A Constituinte foi um avanço, mas o pântano era poderoso ali também; os conservadores de então fizeram o que precisava para manter traços de clara conservação. Foi assim que chegamos até aqui.
Qual alternativa posta por Lula? Um repeteco ainda mais moderado de 2002. Se ele ganhar, vamos respirar a sensação de mais liberdade democrática, de que nos distanciamos um pouco do fascismo. No entanto, não dá para imaginar mudanças profundas. Qualquer governo de esquerda deveria revogar todas as medidas de governo de Temer pra cá: PEC dos gastos não financeiros, contrarreformas trabalhista e previdenciária, leis de terceirização, liberação geral de agrotóxicos, todo o desmonte social e ambiental. E também a lei antiterrorismo editada por Dilma, entre outras medidas até do governo do PT, reestatizaçãodas empresas estratégicas, ativos estratégicos como aeroportos… Vão fazer isso com Alckmin? Ele não é um boneco, tem expressão, sempre foi de centro-direita, ainda que não seja um fascista.
Não por acaso Bolsonaro teve apoio popular amplo. O profundo desgaste sofrido pelo petismo nas massas trabalhadoras encontrou em Bolsonaro o único candidato que se dizia contra o sistema. Assim, ainda estamos numa quadra histórica terrível, de contrarrevolução preventiva, para lembrar nosso querido Florestan Fernandes, e as esquerdas seguem ainda muito acuadas.
Só não é pior o quadro porque a situação do capitalismo é de crise profunda. Falamos da crise das esquerdas e dos massacres contra a classe trabalhadora. Mas é possível sustentar um sistema que destrói a humanidade e natureza em todas as suas dimensões, para enriquecer de forma brutal 1% ou pouco mais da população mundial, que por sua vez vai concentrar 90% da riqueza e levá-la ao espaço sideral, porque aqui já não tem mais espaço – inclusive físico – para saquear a humanidade e destroçar a natureza?
Portanto, volto ao início: “tudo que é sólido pode derreter”. E as esquerdas têm esse desafio pela frente, que não é consertar o sistema – que é, repito, “inconsertável” – mas “reinventar um novo modo de vida”. O desafio das esquerdas sociais, da revolução feminista anticapitalista, do movimento antirracista está em curso. Temos muito a aprender com as comunidades indígenas, que viveram sua história inteira sem propriedade privada, sem mercadoria, sem lucro. Por que tudo isso é indiscutível e intocável? Por que falamos tanto em diminuir os direitos da classe trabalhadora? Por que não falamos em diminuir os direitos da propriedade privada? Precisamos aprender com as comunidades à margem do capital, com as periferias e suas experiências de auto-organização, com os sindicatos de classe e espero que os partidos de esquerda sejam capazes de voltarem a ser abertamente contra a ordem. As esquerdasdevem recusar a batalha na linha de menor resistência, para recordar a metáfora de Mészáros. O capital apresenta o seu parlamento como tablado para a luta. E a esquerda vai lá. Apresenta as eleições e as esquerdas jogam todo o oxigênio nelas.
A pandemia nos mostrou que devemos reinventar um novo modo de vida. Estamos obrigados a isso, uma vez que o modo de vida atual é destrutivo e cada vez mais letal. Mas dizem “ah, o socialismo acabou”. É brincadeira dizerem isso. O socialismo teve 150 anos pra derrotar o capitalismo e ainda não o fez. É verdade. Do mesmo modo que o capitalismo demorou mais ou menos três séculos pra derrotar o feudalismo. As primeiras lutas capitalistas remetem à revolução comercial de Veneza, pra não irmos na Revolução de Avis em Portugal. O renascimento comercial data dos inícios do século XVI. E o capitalismo só foi vitorioso, na França e na Inglaterra, ao final do século XVIII. Na Alemanha, Itália e Japão, no final do século XIX. Por que o socialismo teria obrigatoriamente que derrotar o capitalismo em um século e meio?
O capitalismo não tem mais como se sustentar, senão pela via autocrática que tem a aparência de democrática. Se os seus interesses começam a ser deslocados, o capital remove o tabuleiro, e o jogo precisa começar de novo.
Em 2021 completamos 150 anos do mais belo experimento socialista. Durou 71 dias. Uma experiência monumental. A Comuna de Paris não caiu pelas suas deformações internas, como as repúblicas da antiga URSS. Caiu porque o exército de Versalhes, do absolutismo francês se aliou ao prussiano, pararam de lutar entre si e se uniram para massacrar e derrotar os comunardos. Uma experiência que caiu pelos seus méritos, não suas deformações. Que a Comuna seja nosso ponto de partida e não de despedida.
A questão militar
Se há alguma coisa hoje evidente que os governos petistas foram incapazes de enfrentar, foi a questão militar. Quando Lula foi eleito, em 2002, com mais de 53 milhões de votos, e os militares ainda eram lembrados pelos horrores da ditadura, era o momento de se enfrentar a questão militar. Na Argentina foi um liberal (Raúl Alfonsín) que iniciou os processos contra os militares da ditadura de 1976-82, acusados de torturas, assassinatos e crimes dos mais bárbaros, como apropriação de crianças filhas das militantes que eram adotadas pelos burgueses, que recebiam de presente de militares comprometidos até a medula com os crimes cometidos, coisa que tem clara semelhança com a desumanidade típica do nazismo. Foi um governo liberal e conservador quem fez tal enfrentamento.
No Uruguai também foram processados os militares praticantes de vilipêndios como censura e mortes de militantes. No Chile o horror do Exército “quase prussiano” e das Forças Armadas postergaram o acerto de contas. Aqui tem uma couraça que protege os militares, e grande parte do ódio dos militares ao governo do PT se deve às medidas tomadas pelo governo Dilma, com a implantação da Comissão da Verdade. O governo Lula sempre evitou medidas que descontentassem militares. Vemos o preço dessas ações hoje, quando militares da caserna descobriram que podem se locupletar no aparelho administrativo e civil, duplicando e às vezes triplicando seus salários.
As consequências nefastas são presenciadas a cada dia. Ao se ter como Ministro da saúde um chefe de tropa “especialista em logística” abriu-se o caminho para a tragédia que vimos, no descaso com a pandemia, da qual Pazuello é corresponsável. Mas há uma consequência positiva no meio de tantos horrores: está se derretendo a imagem “santificada” dos militares, como seres “incorruptíveis”. É só ter uma boquinha que tudo se mostra diferente, não necessariamente para o conjunto da tropa, mas para parcela expressiva, inclusive da ativa. E também está se desintegrando a ideia de que só político é corrupto, como creem os setores mais toscos e ignorantes das camadas médias, por exemplo.
Mas a resolução disso é difícil. O processo de politização das Forças Armadas terá que ser, mais dia ou menos dia, efetivamente enfrentado, assim como a reiteração da sua absoluta impossibilidade – sob pena grave – de atuar politicamente. Quem tem arsenal bélico, não pode exercer função política, deve sair da caserna, se assim quiser atuar. E Bolsonaro, sabendo que a generalização do sentimento popular de que ele faz o pior governo de todos os tempos, cada vez mais procura encontrar alternativas de apoio nas milícias e nas PMs; não à toa está tentando diminuir o controle dos governos estaduais sobre elas. Assim, a resolução da questão militar passa efetivamente pela ação popular, pela decisão soberana da população, ao deliberar o que pode e o que não pode ser feito.
Por certo, nada se pode esperar da classe dominante, que é predatória e sempre flertou com o fascismo. Sempre é bom lembrar que a burguesia brasileira encheu de recursos próprios o aparelho de repressão criado pela ditadura militar. Portanto, a questão militar será de difícil enfrentamento. E, francamente, não será sob o governo Lula que enfrentaremos essa questão. Ele não tem nem nunca teve estrutura política pra tal enfrentamento. Nunca teve postura ousada frente a militares, nem mesmo na época das grandes greves que o projetaram nos anos 1970. Nesse sentido Dilma Rousseff foi mais corajosa. Não à toa a Comissão da Verdade aconteceu sob seu governo, não com Lula, o que foi suficiente pra deixar os militares ensandecidos contra o PT de Dilma, uma vez que a Comissão reconheceu os crimes como tendo responsáveis dentro das Forças Armadas.
Se imaginarmos que nossa república nasce de golpe militar e ao longo de sua história as intervenções militares se sucederam, teremos dificuldades. Mas em algum momento isso terá de ser enfrentado.
Até nos EUA, onde existe uma clara separação jurídica dos militares, que não podem atuar na política interna, sabemos que Trump tentou desesperadamente, especialmente no final do seu mandato, incentivar os núcleos golpistas existentes nos EUA. Ele acreditou que a invasão do Capitólio contaria com apoio de setores importantes das forças armadas, o que não ocorreu. Assim, não será fácil enfrentar a questão militar, ainda mais depois da politização exacerbada que as FA sofreram, agora sob o governo Bolsonaro.
O novo mundo do trabalho
Eu não queria estar na pele de Lula em plena lula de mel com o santo Alckmin, se a dupla vencer a eleição e tomar o poder. Imaginemos o represamento presente nos que sentem fome, miséria, perda de direitos, informalidade, destruição da proteção social e trabalhista, desemprego, a frustração de trabalhadores e trabalhadoras que estão fora do sistema de previdência… Se a classe trabalhadora votar em Lula é na esperança de reconquistar uma situação anterior positiva. Como fazer isso com um governo que pretende reeditar, nesta situação gravíssima em que nos encontramos, a política da conciliação? Não será nada fácil.
Se Alckmin é um grande símbolo do conservadorismo, como avançar na reforma agrária, só pra dar um exemplo? Como revogar todas as medidas de devastação da era Temer-Bolsonaro?
Há um segundo ponto, importante, e mais conceitual: a nova morfologia do trabalho nos obriga a entender que adentramos em uma era de lutas sociais. Como enfrentar a questão do trabalho uberizado? Ninguém poderá falar de julho de 2020 sem falar no breque dos apps, a greve dos trabalhadores de aplicativos. Esse episódio já é parte da história da luta da nova classe trabalhadora brasileira. Daqui a 30 anos, quando escreverem a história da luta da classe trabalhadora no século 21, terão de citar o dia 1 de julho de 2020 e sinalizá-lo como uma greve das mais importantes, o #BrequeDosApps, que abriu um ciclo novo de revoltas em várias partes do mundo.
Recentemente, uma liderança chinesa desse setor sofreu forte perseguição; na Inglaterra, França, Itália, em vários países da América Latina as greves de apps se esparramaram… Há, por consequência, sinais de avanços nas lutas. A Comissão Europeia definiu recentemente que trabalhadores de Uber e assemelhados têm direitos protetivos, sim, não são autônomos, são assalariados. A Espanha já reconheceu, em 2021, que tais trabalhadores devem ser abarcados na legislação protetora do trabalho. A Índia teve greves de mais de 200 milhões de operários há cerca de 3, 4 anos, e mais recentemente de pequenos proprietários camponeses contra políticas neoliberais. São exemplos de distintas lutas que tendem a se expandir e se generalizar.
Temos ainda a proletarização do setor de serviços. Este deixou de estar à margem do capitalismo, uma vez que se encontra cada vez mais privatizado. A comoditização, mercadorização e privatização dos serviços os converteram em grandes empresas lucrativas que não param de crescer. Há uma imensidão de empresas, como a Amazon, que não param de crescer em cima da superexploração do trabalho.
Qual o pulo do gato dessas empresas? Converter o assalariado em aparente não assalariado. Transfigurar uma pessoa proletarizada em “autônoma”. Na medida em que isso avança, e trabalhadores e trabalhadoras viram “empreendedores”, isso ocorre para que sejam excluídos da legislação do trabalho. E o proletariado de serviços não para de se ampliar. Lembremos quantas greves tivemos em call-centers, na indústria hoteleira, nas cadeias de fast food, na última década.
Isso tudo ainda causará muitas explosões sociais, pois não houve nenhum período, nem nos mais difíceis, em que a classe trabalhadora não procurasse se organizar. Em seu início, como mostra Engels no livro A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tivemos o ludismo, isto é, a quebra de máquinas. Seguiram-se inúmeras greves, depois veio a criação dos sindicatos, o movimento cartista etc. Foram assim as lutas do proletariado industrial ao longo do tempo e o mesmo vale para as lutas do proletariado rural.
Pouca gente lembra hoje, mas pouco depois do ciclo das greves do ABC houve espetaculares greves dos boias-frias na região de Ribeirão Preto e interior de SP, onde a agroindústria devastava tudo. Agora adentramos um período histórico que inclui o setor de serviços na dinâmica das grandes lutas.
Por fim, quero enfatizar aqui a crise atual do capitalismo, cujo sistema não oferece nenhuma perspectiva de futuro para a humanidade. E nenhuma perspectiva de presente que não passe por destruição e letalidade, algo tipificado pela atual fase pandêmica. Mudaremos tal estado de coisas na medida em que recuperarmos este mosaico de lutas sociais que se veem em todos os continentes. Entraremos em uma era de fortes turbulências. Quem diz ser impossível, despreza a história. O império romano caiu, a sociedade feudal caiu, os impérios teocráticos orientais também; a União Soviética, o segundo país mais potente do mundo na época, caiu sem nenhuma invasão de um exército capitalista. Caiu como castelo de cartas. Eu não sei quem de nós verá o mesmo sobre o capitalismo. Não tenho ilusão de que ter ei olhos para comemorar isso, mas entraremos numa era de muitas lutas sociais.
Pela primeira vez na história, a humanidade corre risco profundo. Portanto, se o fim da humanidade se apresenta como possível, o imperativo crucial do nosso tempo é reinventar um modo de vida onde o trabalho tenha sentido humano e social, autodeterminado; que a igualdade entre gêneros, raças, etnias e gerações seja substantiva e que a natureza seja preservada. E este novo modo de vida é incompatível com qualquer modalidade de capitalismo.
*Ricardo Antunes é professor titular de sociologia do trabalho no IFCH-UNICAMP. Autor, entre outros livros, de O privilégio da servidão (Boitempo).
Texto estabelecido a partir de entrevista concedida a Gabriel Brito para o jornal Correio da Cidadania.
Fonte: https://aterraeredonda.com.br/capitalismo-virotico/?utm_term=2021-12-29&doing_wp_cron=1640801179.8399169445037841796875


