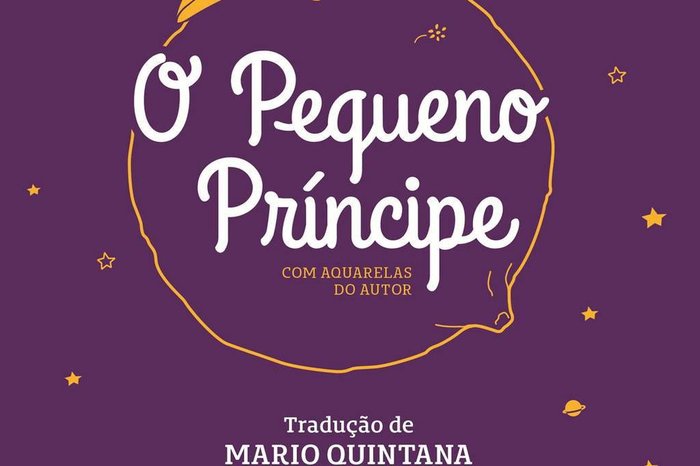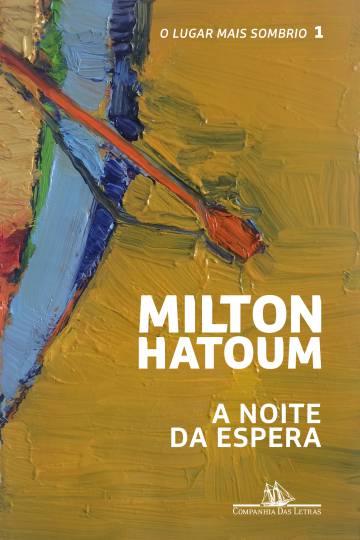Oitocentas Estátuas de
Martinho Lutero de instalação
do artista Ottmar Hoerl em praça em
Wittenberg,
cidade ao Leste da Alemanha,
onde o religioso protestou
contra a Igreja Católica.
Por João Luiz Rosa/ De São Paulo
"Quebra
tudo! Todo mal tem de ser desfeito em nome de Jesus", diz o homem, sem
aparecer no vídeo, enquanto a mulher, que ele chama de "capeta
chefe", quebra vasos e utensílios religiosos. O local é o Morro do Dendê,
na Ilha do Governador, zona norte do Rio; o homem, um traficante supostamente
evangélico; e a mulher, a mãe de santo obrigada a destruir o próprio terreiro.
Outra cena: em Manhattan, membros da Igreja Presbiteriana da 5ª Avenida entram em
seu templo histórico - construído em 1875, pelo mesmo arquiteto que projetou a
Bolsa de Valores de Nova York - para ouvir o sermão dominical. Ao púlpito, em
vez do pastor, está Timothy Dolan, arcebispo de Nova York e maior autoridade
católica da cidade.
A
primeira cena foi fartamente exibida na TV e na internet nas últimas semanas; a
segunda ainda não ocorreu - está marcada para domingo, numa comemoração pelo
Dia da Reforma Protestante, o movimento religioso que completa 500 anos no dia
31. Qual cena representa melhor a herança da Reforma? O que persiste do cisma
que quebrou a hegemonia da Igreja Católica Romana e abriu espaço para a
multiplicidade do pensamento religioso no Ocidente?
Para
muitos, os dois casos são extremos. Após a divulgação do vídeo, líderes
evangélicos vieram a público para criticar a ação e dizer que é impossível ser
evangélico e traficante ao mesmo tempo. Da mesma forma, tentativas de reaproximação
entre católicos e protestantes são vistas com desconfiança por muitos segmentos
nos dois rebanhos. Os episódios mostram, porém, como um movimento iniciado no
século XVI continua a desencadear ações tão diferentes, sob um amplo espectro
de pensamento. Como em qualquer revolução, julgar a Reforma por um ou outro aspecto
isolado não dá conta da sua complexidade.
Em sua
origem, a Reforma não era um movimento separatista. A história começou em 31 de
outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixou 95 teses
na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. O documento trazia
críticas severas à Igreja Católica Romana, em especial ao comércio das
indulgências, uma declaração de perdão dos pecados que Roma vendia para
financiar a construção da Basílica de São Pedro.
Quatro
anos depois, Lutero foi excomungado, mas o descontentamento já se espalhara
pela Europa, lançando as bases da Reforma. O movimento se apoiou em cinco
princípios - os chamados "solas" em latim: somente a fé, somente a
Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. O termo
"protestante" vem de uma tentativa do Sacro Império Romano-Germânico
de reverter a liberdade concedida às novas igrejas, em 1529. Príncipes alemães
que haviam se convertido protestaram contra as medidas - e o nome
"pegou".
A pedido do
imperador Carlos V, Martinho Lutero se apresentou em 17 e 18 de abril
de 1521 em assembleia
na cidade de Worms, para responder a acusações de
heresia
Da Europa, a Reforma se espalhou para a América do Norte, em especial os Estados
Unidos, país fundado por puritanos ingleses, e, bem mais tarde, para o
hemisfério Sul, incluindo América Latina, África e Ásia. É onde, hoje, o
protestantismo mais cresce. No Brasil, ganhou contornos bem específicos.
"[A religião] nunca chega [a outro lugar] da maneira que era
originalmente", diz o reverendo Davi Charles Gomes, chanceler da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Duas
forças atuam no processo, explica o pastor. Uma é centrípeta: vai de fora para
o centro e exige uma adaptação rigorosa do indivíduo aos princípios religiosos.
A outra, centrífuga, é a que predomina no Brasil. Vai do centro para as bordas,
o que significa que a pessoa abraça novas convicções religiosas sem,
necessariamente, abandonar as anteriores. É uma definição do sincretismo
predominante no país. "Como em 'Macunaíma', o índio não consegue ver o
loiro porque um é parte do outro", afirma Gomes, em uma alusão ao romance
de Mário de Andrade. No livro, obra central do modernismo, o protagonista é um
índio negro que entra em uma poça de água encantada e vira branco de olhos
azuis.
O Brasil
é cada vez menos católico romano, mas isso não significa que o futuro do país
seja protestante - pelo menos não no sentido clássico do termo. Em um século,
de 1872 a 1970, a participação católica variou muito pouco, caindo de 99,7% para 91,8% da população. Desde então,
porém, essa redução vem se acelerando rapidamente. Em 40 anos, até 2010, os
católicos saíram do patamar de quase 92% para 64,6%. Enquanto isso, a presença
evangélica quadruplicou, saindo de 5,2% para 22,2%.
Mas não são as igrejas históricas, nascidas na Reforma ou fortemente
influenciadas por ela, as que mais crescem no país. Esse grupo - que reúne
luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas e outras denominações
tradicionais - permaneceu praticamente estável entre 2000 e 2010, data do mais
recente censo do IBGE. A participação apresentou até uma retração discreta, de
4,1% para 4%. Foram as igrejas pentecostais, surgidas a partir do início do
século XX, e as neopentecostais, ainda mais recentes, que puxaram o
crescimento, aumentando de 10,4% para 13,3%. A questão, para alguns
especialistas e religiosos, é que essas igrejas se distanciaram tanto das
doutrinas dos primeiros reformadores que muitas delas nem podem ser
consideradas protestantes.
Em 40 anos, até 2010, a
proporção de católicos no país caiu de 92% para 64,6%, e a presença evangélica
quadruplicou,
passou de 5,2% para 22,2%
"A
Reforma precedeu o Iluminismo e foi um dos eventos mais importantes da
história. Graças a ela passamos a ver como naturais situações de insatisfação e
contestação", diz o bispo Robson Rodovalho, presidente e fundador da
Igreja Sara Nossa Terra, uma denominação neopentecostal. A Sara Nossa Terra foi
criada na década de 80, em meio a um movimento de renovação ocorrido entre as
próprias igrejas evangélicas, afirma o bispo.
Como é
comum entre os neopentecostais, na Sara Nossa Terra são estimulados fenômenos
como curas divinas e "falar em línguas" - a capacidade de se
expressar em idiomas irreconhecíveis, que teriam natureza divina. São os chamados
"carismas", também apreciados por alguns grupos católicos, os
"carismáticos". Nada disso foi defendido na Reforma, mas Rodovalho
afirma que esses dons estão previstos na Bíblia e que os reformadores não
tiveram tempo de abordá-los porque tinham questões mais relevantes para tratar,
como a autoridade das Escrituras.
Outro
ponto de discórdia é a teologia da prosperidade, a ideia de que a vontade de
Deus é que os cristãos sejam abençoados com bens materiais. Como numa espécie
de contrato cósmico, se a pessoa for fiel nas contribuições, Deus cumprirá a
promessa de enriquecimento. O princípio, visto como veneno nas igrejas
históricas, é um esteio neopentecostal. O bispo Rodovalho reconhece que há
exageros nessa linha, principalmente em programas religiosos de TV. "Mas
concordo com prosperidade na essência", afirma. "Prosperidade é o
suficiente de tudo, não o excesso. Se a pessoa não muda sua convicção, vai ser
pobre a vida toda."
Não é de
hoje que as igrejas reformadas se dividem por causa de questões doutrinárias ou
mesmo administrativas, como formas de governo. A existência de tantas
denominações é uma prova disso. No Brasil, onde o protestantismo só se
estabeleceu a partir do século XIX, com a chegada de imigrantes europeus e
missionários americanos, é ainda mais difícil compreender a complexidade desse
cenário. Alguns colocam todas as igrejas sob o mesmo rótulo, o de evangélicas.
Outros identificam como protestantes
as igrejas históricas, classificando as demais como evangélicas. Oficialmente,
o critério do censo populacional estabelece dois subgrupos: os evangélicos de
missão, como luteranos e batistas, e os pentecostais. Nesse último grupo
estariam tanto essas denominações propriamente ditas, como Assembleia de Deus e
Congregação Cristã do Brasil, como as neopentecostais, caso da Igreja Universal
do Reino de Deus, da Renascer em Cristo e da Sara Nossa Terra.
O desafio
adicional para as igrejas reformadas é que, agora, além dos pontos teológicos,
questões práticas têm provocado ruído na relação interdenominacional. São temas
como direito ao aborto, uso de células-tronco e pena de morte.
No domingo, dia 22, famílias que frequentam a Catedral Anglicana de São Paulo,
no bairro do Alto da Boa Vista, zona sul da capital, reuniram-se em um gramado
ao lado do templo para almoçar juntos. "Mas família para nós não significa
só casais heterossexuais. É mais amplo", diz o reverendo Aldo Quintão,
pároco da catedral. Quintão dá a eucaristia a divorciados, realiza uniões
homossexuais e batiza filhos desses casais, o que causa desconforto entre seus
pares. Recentemente, ele foi excluído de um grupo de pastores no WhatsApp por
causa de suas atitudes polêmicas. Na catedral, também não há restrições quanto
à participação dos membros na administração. "Onde tem hetero pode ter
gay, e onde tem casado pode ter divorciado", diz.
Nos
Estados Unidos, ainda profundamente religioso, e na Europa, secularizada, essas
questões têm provocado muita discussão e separado alguns rebanhos. A Igreja
Católica começou a receber sacerdotes anglicanos, inclusive casados, que
deixaram suas congregações depois que foi aprovada a participação de mulheres
no sacerdócio, inclusive no papel de bispos. A PCUSA, maior igreja
presbiteriana dos Estados Unidos, viu dezenas de congregações pedirem para
abandonar a denominação em 2015, depois que seus líderes aprovaram, em
assembleia, o casamento gay.
Um
levantamento do Pew Research Center, respeitada instituição de pesquisa de
Washington, mostra que o número de pessoas que frequentam as chamadas
"mainline protestants" - os grupos protestantes mais tradicionais dos
EUA e, também, os mais liberais - caiu de 18,1% da população adulta americana
para 14,7% entre 2007 e 2014. Isso significa uma perda de 5 milhões de membros,
com o rebanho diminuindo de 41 milhões para 36 milhões de pessoas.
Gravura de
1882 posteriormente colorizada que retrata Martinho Lutero afixando
suas
95 teses na porta de igreja em Wittenberg, em 1517,
que deram início à
Reforma Protestante
Para
observadores, o fato de temas como sociedade, política e cultura - em vez da
religião e da espiritualidade - ocuparem muito espaço nessas igrejas é um dos
motivos de seu declínio. Para discutir esses temas, as pessoas já teriam outros
fóruns, como a universidade, a mídia e mesmo partidos políticos. Ao aderir sem
questionamentos às agendas liberais, as igrejas ficariam invisíveis.
"Alienação gera irrelevância, mas acomodação também", afirma o
reverendo Gomes, do Mackenzie. "A vitalidade da igreja tem a ver com sua
autenticidade."
Na
Catedral Anglicana, a despeito dos posicionamentos pouco ortodoxos, o rebanho
tem crescido, com a atração até de sacerdotes de outras tradições. "Neste
mês recebemos seis padres católicos", conta o reverendo Quintão. Três
deles planejam se casar, o que é impossível na Igreja Católica, que estabelece
o celibato obrigatório. Os outros três pretendem manter-se celibatários, mas
decidiram mudar de igreja mesmo assim.
A Igreja
Anglicana mistura elementos protestantes e católico romanos. "Alguns
sacerdotes preferem ser chamados de padre e outros, de pastor. E tem gente que
fala em culto enquanto outros chamam de missa", diz o reverendo Quintão. A
catedral tem atuação autônoma. Não está ligada a outras igrejas anglicanas
existentes no país. A Bíblia ocupa um papel central na doutrina, como nas
igrejas reformadas, mas há mais espaço para a tradição, como gostam os
católicos. A característica que não pode faltar, afirma o pároco, é a
participação da comunidade. Um dos mais recentes projetos é a abertura de uma
casa de transição para crianças vítimas de abuso. Uma lista de casamento está
circulando entre os frequentadores para mobiliar a casa. Juízes, arquitetos,
engenheiros e pedagogos que frequentam a igreja estão ajudando com orientações,
e mães vão se revezar na casa para fazer bolos, contar histórias etc., como
numa família de verdade.
"Família para nós não
significa só casais heterossexuais.
É mais amplo",
diz o reverendo Aldo
Quintão,
pároco da Catedral Anglicana
Com a
comemoração dos 500 anos em curso, protestantes do mundo inteiro promovem
seminários, cultos comemorativos, cursos, concertos. Edições especiais da Bíblia
e uma infinidade de livros estão sendo lançados, ao lado de selos e produtos de
consumo. Em meio aos festejos, é curioso ver como uma instituição que seria
persona non grata apenas décadas atrás, hoje tem convite para entrar na festa -
a Igreja Católica Romana, antiga opositora.
Isso tem muito a ver com o papa Francisco. Nenhum outro papa pareceu tão
disposto ao diálogo com outras religiões como ele, dizem especialistas.
"Francisco é fruto do Concílio Vaticano II", afirma João Décio
Passos, autor e professor do departamento de teologia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O Vaticano II foi um grande encontro
da igreja que durou pouco mais de três anos - de 1962 a 1965 - e mudou várias
regras vigentes. Por exemplo, permitiu que as missas fossem feitas nas línguas
de cada país, em vez do latim, como antes. Ao todo, foram produzidos 16
documentos, que receberam a contribuição de protestantes, convidados como
observadores.
Do ponto de vista do diálogo inter-religioso, foi um avanço radical. Desde o
Concílio de Trento, ocorrido entre 1545 e 1563, Roma só fez duas coisas em
relação à Reforma Protestante - condená-la e combatê-la, diz Passos. Demorou
400 anos para que essa posição fosse revista no Concílio Vaticano II.
As
posições de Francisco remetem a João XXIII, o papa que convocou o concílio na
década de 60. Eleito quando já tinha 77 anos, João XXIII teve um curto
pontificado, entre 1958 e 1963. Ele só dirigiu o primeiro dos quatro encontros
do concílio, mas ditou o tom progressista que modernizaria a Igreja Católica.
Depois dele, houve uma espécie de hiato conservador. Paulo XI, o sucessor,
tinha preocupações sociais porque vinha de Milão, uma cidade industrial, e
valorizava o trabalho, mas não era tão progressista em relação às doutrinas da
igreja, afirma Passos. João Paulo II trouxe para o papado sua bagagem polonesa.
A Polônia sofreu várias invasões ao longo de sua história e passou momentos difíceis
tanto sob o nazismo como dentro da chamada "Cortina de Ferro",
estabelecida pela extinta União Soviética. Durante todo esse tempo, o
catolicismo foi uma força de resistência na afirmação da identidade do país.
"Ser polonês é ser católico", resume o professor da PUC. Com esse
perfil, João Paulo II fez um pontificado conservador.
O maior retrocesso, no entanto, veio com Bento XVI. No Concílio Vaticano II
houve uma grande discussão a respeito de uma frase segundo a qual a Igreja
Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Parece um detalhe, mas não é. A ala mais
progressista observou que a frase denotaria que só a igreja de Roma seria a
verdadeira, fechando as portas para o diálogo com outros grupos cristãos. Ao
fim, a expressão foi modificada para dizer que na igreja de Roma subsiste a
Igreja de Cristo, uma forma de reconhecer a expressão cristã de outras
tradições. Bento XVI voltou a inflamar os ânimos ao dizer que "é" e
"subsiste" têm significado idêntico, o que equivaleu rebaixar as
igrejas protestantes à condição de seitas, quando muito.
Esse
posicionamento contrasta frontalmente com as ações de Francisco. No ano
passado, o papa foi à Suécia, majoritariamente protestante, para participar,
com pastores luteranos, da abertura das comemorações dos 500 anos da Reforma.
Francisco reconheceu a contribuição de Lutero para dar um papel central à
Bíblia na igreja e disse que era preciso superar as polêmicas que impediram o
entendimento entre os dois lados.
Outro
levantamento do Pew Research Center mostra que entre os protestantes europeus,
58% veem sua religião como mais parecida que diferente do catolicismo. A
opinião é compartilhada por 57% dos protestantes americanos. Entre os
católicos, 50% dos europeus e 65% dos americanos consideram as duas tradições
mais como semelhantes que diferentes.
A
reaproximação, porém, não é fácil. Durante séculos, eventos históricos
sangrentos pontuaram a divisão religiosa na Europa. Na França, em 1572, a
coroa, que era católica, ordenou o massacre dos huguenotes, como eram chamados
os calvinistas franceses, na Noite de São Bartolomeu. Na Inglaterra, os
católicos viram seus direitos diminuírem - com o confisco de terras, inclusive
- durante o governo puritano de Oliver Cromwell, entre 1649 e 1653. E esses são
apenas alguns episódios.
De acordo com alguns
especialistas,
as igrejas pentecostais e neopentecostais
não podem ser
consideradas protestantes
No
Brasil, houve duas tentativas de implantar o protestantismo antes do século
XIX, mesmo que esse não fosse o fim principal. Uma delas, a "França
Antártica", começou com uma expedição comandada por Nicolas de Villegagnon
para estabelecer uma colônia no Rio de Janeiro. Foram enviados protestantes de
Genebra - centro de difusão do protestantismo que tinha à frente o reformador
João Calvino - para avaliar a possibilidade de o local servir de refúgio para
os protestantes franceses. Os holandeses também trouxeram a prática protestante
durante suas incursões ao Brasil, a partir de 1624. Nenhuma das duas progrediu.
Até 1891, o catolicismo permaneceu como a religião oficial do país. Antes
disso, protestantes não podiam ser enterrados na maioria dos cemitérios, nem
construir templos. Isso fez com que o protestantismo nacional se desenvolvesse,
em grande parte, como oposição ao catolicismo. Vitrais, cruzes, velas e o uso
de togas por sacerdotes, que são comuns em igrejas protestantes de outros
países, até hoje enfrentam resistência em muitas congregações evangélicas
brasileiras.
Fora dos
limites religiosos, a Reforma Protestante também exerceu uma forte influência
na formação das culturas nacionais. Uma das bandeiras de Lutero e dos demais
reformadores foi a tradução da Bíblia para os idiomas locais, de maneira que as
pessoas pudessem ler as Escrituras. Até então, o livro sagrado só estava
disponível em latim ou grego e sua leitura cabia exclusivamente aos padres. Com
a tradução da Bíblia veio também um esforço para alfabetizar a população, o que
gerou um efeito positivo na educação e na produtividade dos países
protestantes.
O
pensamento econômico, em particular, foi muito influenciado pelos pensadores
reformados. O estudo "A Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo", do alemão Max Weber (1864-1920), tornou-se um clássico ao
fazer a correlação entre racionalismo econômico e filiação religiosa. Mas a
influência protestante vai muito além disso. Algumas das maiores e mais
conceituadas universidades americanas - Harvard, Columbia, Yale e Princeton -
foram criadas por instituições religiosas reformadas. Até o início do século
XX, essas escolas de elite faziam restrições a católicos e judeus, seja como
professores ou alunos. E mesmo quando receberam permissão para dar aula, foi
difícil aos não protestantes encontrar trabalho para ensinar disciplinas como
literatura ou história americana, escreveu Bradley W. Bateman, reitor da
Universidade Randolph, na Virgínia, em artigo na revista "The
Atlantic".
A influência
protestante nos Estados Unidos ajudou a estabelecer a economia como uma
disciplina acadêmica, com efeitos diferentes ao longo do tempo, segundo
Bateman. A princípio, alguns textos diziam que fazer greve era um violação, por
parte dos trabalhadores, do contrato de trabalho firmado com os empregadores.
Mais tarde, muitos pensadores protestantes passaram a se ocupar da injustiça
social, com ataques ao trabalho infantil e jornadas muito longas de trabalho.
No
Brasil, as igrejas protestantes históricas também criaram muitas universidades,
o que aumentou sua influência social, apesar do contingente numérico
relativamente pequeno frente à maioria católica. Nas últimas décadas, a política
também entrou na agenda, mas sob um vetor marcadamente pentecostal e
neopentecostal. Em agosto, 87 parlamentares participavam da bancada evangélica
no Congresso, formada por 85 deputados federais e 2 senadores, de acordo com o
Grupo de Pesquisa, Mídia, Religião e Cultura da Universidade Metodista de São
Paulo. Considerada uma das frentes mais influentes no Parlamento, a bancada
evangélica costuma se alinhar em torno do que seus membros classificam de
valores familiares, como a restrição às uniões gays e ao aborto. A questão que
os políticos evangélicos terão de enfrentar é como tratar desses temas frente
às mudanças de opinião entre a população, e mesmo em algumas igrejas. "Na maioria
das igrejas não passa a ideia da homoafetividade. É uma discussão que está no
olho do furacão e depende dos estatutos, das lideranças e assembleias de cada
igreja. Não é consenso", diz o bispo Rodovalho, que já foi deputado.
A julgar
pelo histórico de cinco séculos, será difícil unificar os protestantes em torno
de convicções únicas, pela própria natureza do movimento que os originou. A
inquietude provocada por Lutero se mantém acesa.
Fonte: http://www.valor.com.br/cultura/5171954/fe-em-movimento
27/10/2017
 Lya Luft*
Lya Luft*