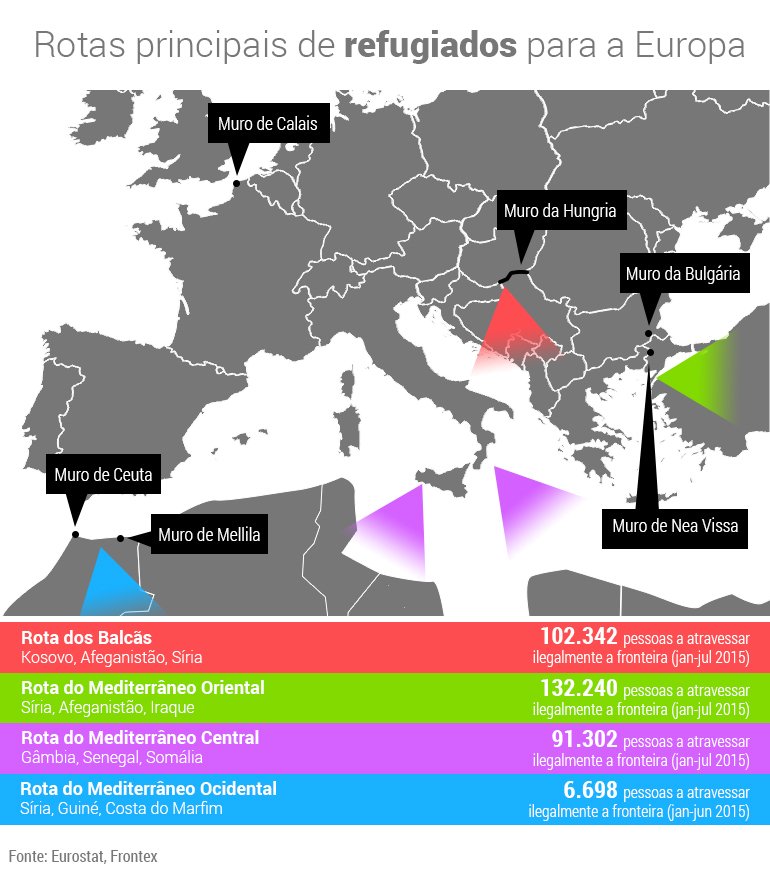Apocalípticos e Integrados desperta interrogações oportunas, talvez até mais necessárias do que nunca, sobre a importância que o prazer, o consolo, a evasão ou o pensamento têm na relação que cada um estabelece com a literatura, a música e a banda desenhada, entre outras artes
Numa reedição da Relógio D'Água, Apocalípticos e Integrados,
de Umberto Eco, regressa ao espaço público português com os ensaios e
artigos que o tornaram numa das obras mais comentadas das ciências
sociais e dos estudos da comunicação. O seu impacto foi tão amplo que a
dicotomia explícita no título persiste noutros contextos e discursos,
com frequência acerca de controvérsias semelhantes. Onde começa e acaba o
mau gosto? A cultura de massas desapareceu ou degradou-se ainda mais?
Ainda existem artes superiores e inferiores? A boa literatura é melhor
do que o bom hip-hop? O cinema morreu?
Umberto Eco
não responde propriamente a estas perguntas (não poderia fazê-lo), mas, a
par dos prefácios, as análises incluídas em Apocalípticos e Integrados
merecem ser revisitadas. Reler ou ler pela primeira vez os textos sobre
a canção de consumo, a breve e certeira interpretação de Peanuts, de Charles Schulz, ou os ensaios dedicados ao kitsch
não é um exercício estéril. Desperta interrogações oportunas, talvez
até mais necessárias do que nunca, sobre a importância que o prazer, o
consolo, a evasão ou o pensamento têm na relação que cada um estabelece
com a literatura, a música e a banda desenhada, entre outras artes.
Confrontar
o legado desta obra com a actualidade implica recordar o contexto do
seu aparecimento em 1964, data da primeira edição em Itália. “[O livro]
surgiu num momento em que se multiplicavam os números de consumidores
dos media, em que se impunha reflectir sobre a teoria da
comunicação, da cultura de massas e da indústria cultural”, recorda o
professor universitário e ensaísta Arnaldo Saraiva. Umberto Eco
juntava-se, assim, a um conjunto de autores que estudavam os mass media, como
Marshall McLuhan, Abraham Moles, Clement Greenberg, Edgar Morin, Roland
Barthes. A sua entrada nesse campo apresentava, contudo, contornos
específicos, dados os antecedentes: “Foi depois de elaborar estudos
sobre textos da Idade Média. Ele tinha uma invulgar cultura literária,
linguística, histórica, sociológica, psicanalítica. E a sua escrita
revelava um humor e uma verve inusuais em estudiosos ou pensadores. Não
negavam, acentuavam a seriedade e a novidade das suas análises.”
Um enfant-terrible
O impacto dos ensaios de Umberto Eco tardou a sentir-se em Portugal. As edições das suas principais obras realizaram-se com atrasos de décadas (Apocalípticos e Integrados, por exemplo, só surgiu em 1991 numa tradução da Difel), ao contrário do que aconteceu em França, na Espanha ou no Brasil. “Nenhuma foi imediatamente conhecida em Portugal nem suscitou nos anos 60 e 70 seguintes o interesse dos nossos editores e intelectuais. É com a tradução de O Nome da Rosa, em 1983, que Eco se torna popular em Portugal”, assinala Saraiva. O que pode explicar esse alheamento? A nossa “condição periférica”? O desinteresse pelos temas tratados? “Nos anos 60, a intelligentsia portuguesa ainda vivia obcecada pela cultura francesa, embora começasse a voltar-se para a anglo-americana. Interessava-se por alguns romancistas e cineastas italianos, mas não, por exemplo, pelos poetas Novissimi e pelos ensaístas. E manifestava evidentes preconceitos contra a cultura de massas. Mesmo quando realista, ou neo-neo-realista, despreza o que considerava a cultura baixa e géneros e textos híbridos, a banda desenhada, a canção popular."
Três décadas depois, numa
universidade lisboeta, Pedro Moura, crítico e estudioso de BD,
encontrava-se, embora em circunstâncias mais favoráveis, com a obra de
Umberto Eco: “O meu curso tinha a cadeira de Linguística e interessei-me
por semiologia. Lembro-me de ter comprado vários ensaios dessa
disciplina. Em Apocalípticos e Integrados, o que mais me chamou
a atenção foi o destaque dado à banda desenhada. O Eco tratava com
rigor académico a banda desenhada. Outros já tinham escrito sobre o
tema, mas sem os mesmos instrumentos de análise, em textos
impressionistas, de opinião. Ele não, nisso foi claramente pioneiro.”
Os
tempos, entretanto, tinham mudado. Nos anos 90, pareciam esbatidas as
fronteiras entre alta e baixa cultura e, a par da semiologia, os
contributos dos Estudos da Recepção e da Escola de Birmingham traziam um
alívio a muitos leitores e espectadores. Parafraseando Eco, o
entretenimento, a evasão, o jogo e o consolo já não tinham de ser
sinónimo de automatismo, irresponsabilidade e gulodice desregrada, ideia
partilhada por Pedro Mexia: “A descoberta de Apocalípticos e Integrados
coincidiu com a minha propensão para gostar da alta e da baixa cultura.
Sempre gostei muito de cinema, de música pop, e achei interessante o
argumentário do Eco, a legitimação cultural que fez no livro."
Para o crítico literário, poeta e cronista do Expresso,
interrogar a pertinência actual do debate desenvolvido pelo autor
italiano conduz a uma reflexão curiosa. “Este artigo sai num suplemento
que resolveu essa questão, ao tratar, ao mesmo tempo, de cinema,
literatura, música pop, banda desenhada. Ainda há pessoas que acham que
as coisas pertencem a patamares diferentes, mas creio que na prática a
querela se resolveu, é pacífica."
Mas reler Apocalípticos e Integrados
permite imaginar, pelo tom cauteloso e elegante da escrita de Umberto
Eco, o ambiente do debate no interior da Universidade. “Em algumas
passagens talvez esteja a pedir desculpa, mas temos de ter em conta o
contexto em que o livro apareceu. Nos anos 60, o Eco parece um enfant-terrible,
tem a capacidade de abordar assuntos que não eram considerados
respeitáveis. Havia alguma provocação por um lado, humor até, mas também
um interesse genuíno, um prazer”, diz Pedro Moura.
Arnaldo Saraiva fala de uma sensibilidade, mas também da
capacidade de projectar um olhar distinto sobre as coisas. “Foi hábil e
ecléctico o suficiente para não se colocar do lado dos integrados, ou
para não arrumar em compartimentos fechados a alta, a média e a baixa
cultura. Diz quais são os prós e os contras da cultura ou da sociedade
de massas e não deixa de mostrar o que há de complexo em mensagens
aparentemente simples, o que há de interessante no kitsch, o que há de significativo e criativo no esforço de produção de efeitos ou na maquilhagem ideológica e publicitária."
Cultura(s) de nicho
Um dos aspectos que Pedro Mexia recorta da sua leitura é a ideia de uma estética da recepção, que terá levado, entretanto, a inevitáveis sobre-interpretações. “Para um crítico inteligente, todos os objectos são interessantes e creio que o Eco é um autor que vê coisas que nós não vimos. Mas tenho uma colecção de artigos e livros sobre a música dos The Smiths – e algumas canções aguentam as interpretações feitas, mas outras não. No livro, o artigo sobre o Charlie Brown justamente aguenta a leitura, as ideias do Eco. Gosto muito da descrição que ele faz da série como uma enciclopédia das fraquezas humanas. Encontra aí uma mundividência, como eu a encontro na obra dos The Smiths. Julgo que as coisas que nos marcaram quando éramos novos têm um valor que é independente do seu valor estético."
O ponto de vista de Pedro Moura sobre O Mundo de Charlie Brown
não só é mais académico, como sinaliza uma transformação. “Há um lado
emocional que não impede a análise crítica, mas vale a pena lembrar que
esse artigo foi escrito, porventura, nos primeiros anos da década de 60,
numa época em que a BD não tinha memória de si, não existiam edições
históricas. Acaba por ser um texto impressionista, com considerações
genéricas, sem prejuízo da interpretação sensível que faz." Para o
estudioso de BD, a conclusão é muito clara. Já não é possível considerar
esta disciplina artística como fazendo parte da cultura de massas, pois
em quase todos os países ocidentais a sua circulação presente é muito
mais diminuta do que nos anos 1960-1970. “Há uma fragmentação e uma
atomização de culturas de nicho, e uma restruturação variada da sua
produção. A BD, mesmo das personagens que têm presença nos grandes
ecrãs, não vende assim tanto. Logo a análise cultural que se faz dela,
hoje em dia, deve ser diferente daquela que o Eco cumpriu, por mais
importante que tenha sido."
Se a música pop e a banda desenhada
ganharam um estatuto académico, a verdade é que só com muito boa-vontade
se nega a degradação dos sucedâneos hodiernos da cultura de massas.
Basta ligar a televisão e rádio. Qualquer leitor concordará, por exemplo
que acabaram traídas as expectativas cautelosas de Umberto Eco sobre a
capacidade educativa da televisão. Pedro Mexia não discorda, mas
complementa com um comentário que se articula com as mutações sofridas
pela banda desenhada em termos de produção, circulação e recepção. “Uma
pessoa letrada terá horror à televisão, sobretudo depois do espectáculo
dos reality-shows, e, no entanto, a mesma pessoa concordará que
tem havido melhor ficção nas séries americanas do que no cinema
americano. Não é fácil negar a qualidade de séries com Os Sopranos, The Wire ou Mad Men. É claro que a televisão por cabo concorreu para isso. As coisas segmentaram-se, tribalizaram-se."
Cidadão, consumidor?
O mundo tornou-se mais complexo, mas as velhas dicotomias insistem em sobreviver. Se, como Pedro Mexia sugere, a controvérsia sobre a legitimidade cultural de certas artes parece sanada, a chama dos apocalípticos continua bem acesa. “Há a ideia de que a cultura chegou a um estado de exaustão, de que o cinema morreu, de que nas livrarias não há nada de interessante. É um discurso que se tornou muito comum. A hostilidade à massificação que o Eco refere, e identifica em autores com diferentes orientações políticas, não desapareceu”, afirma o crítico literário, que vislumbra nessa posição uma nota nostálgica. “Lembro-me de uma frase que julgo ser de George Steiner [ensaísta e crítico literário americano] em que ele diz que que as edições escolares têm cada vez mais notas de rodapé porque hoje os estudantes não sabem quem é Zeus. Há aí um lamento sobre uma progressiva perda de memória cultural."
Não será esse um lamento cada vez mais urgente? Afinal a
situação ideal a que se refere Umberto Eco – a de um consumidor que
também é cidadão – parece cada vez mais difícil de manter. “Acho que é
muito complicado ou problemático impor qualquer dirigismo cultural,
dizendo às pessoas o que devem querer, do que devem gostar”, responde
Pedro Mexia. “Há aí uma dimensão que, não sendo equivalente, pode ser
considerada paralela, que é a do cidadão enquanto votante. Não temos de
dar, julgo eu, a sua escolha como boa ou má, apenas como válida. De
outro modo, [muitos] não votariam. É verdade que há 50 mil pessoas que
já viram O Pátio das Cantigas… Era melhor que acompanhassem o ciclo do Tati? Talvez, mas que alternativa nos resta?”
Pedro
Mexia não se considera um optimista, mas elogia o acesso das pessoas à
cultura e a importância da divulgação das grandes obras, posição em que
Pedro Moura também se revê não sem enfatizar, no âmbito do seu trabalho,
certas condições: “Para se criar um discurso crítico, temos de ser
exaustivos e por vezes movidos pelos nossos princípios éticos, que têm
de ser inabaláveis, ou não o serão, mas ao mesmo tempo é isso que o Eco
discute como o equilíbrio entre ser-se apocalíptico ou integrado. Um
excesso dessas posições não é bom." Arnaldo Saraiva procura o mesmo
equilíbrio. Inspirado pelo contributo de Umberto Eco – uma referência
incontornável, com Roland Barthes, para os ensaios de Literatura Marginalizada (1975-1980) e do livro Canções de Sérgio Godinho
(1977-1983), títulos relevantes, a (re)descobrir na sua produção
intelectual –, o professor e investigador não se vê como um
apocalíptico: “Não, não sou. Mas não esqueço a advertência de Eco. Por
vezes os apocalípticos fazem o jogo dos integrados, e vice-versa. O
jornal, a rádio, o cinema, a televisão, o computador produziram grandes
acelerações na educação e na democratização das sociedades. Mas sei do
mal que fazem quando se submetem aos poderes económicos, políticos e
religiosos, ou manipulam, narcotizam e imbecilizam as pessoas. As
televisões de hoje cumprem quase todas, despudoradamente, este papel. E a
Internet, com todo o bem que trouxe à humanidade, veio favorecer e
facilitar as maiores perversões e falsificações."
-----------------
Reportagem