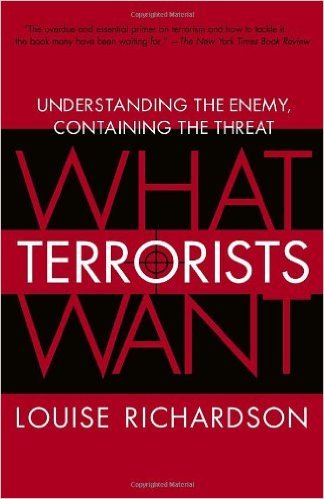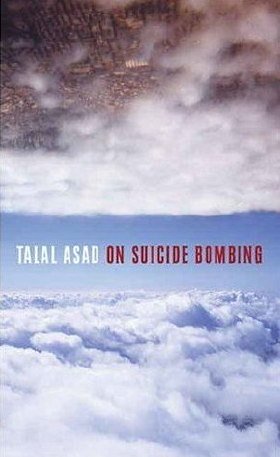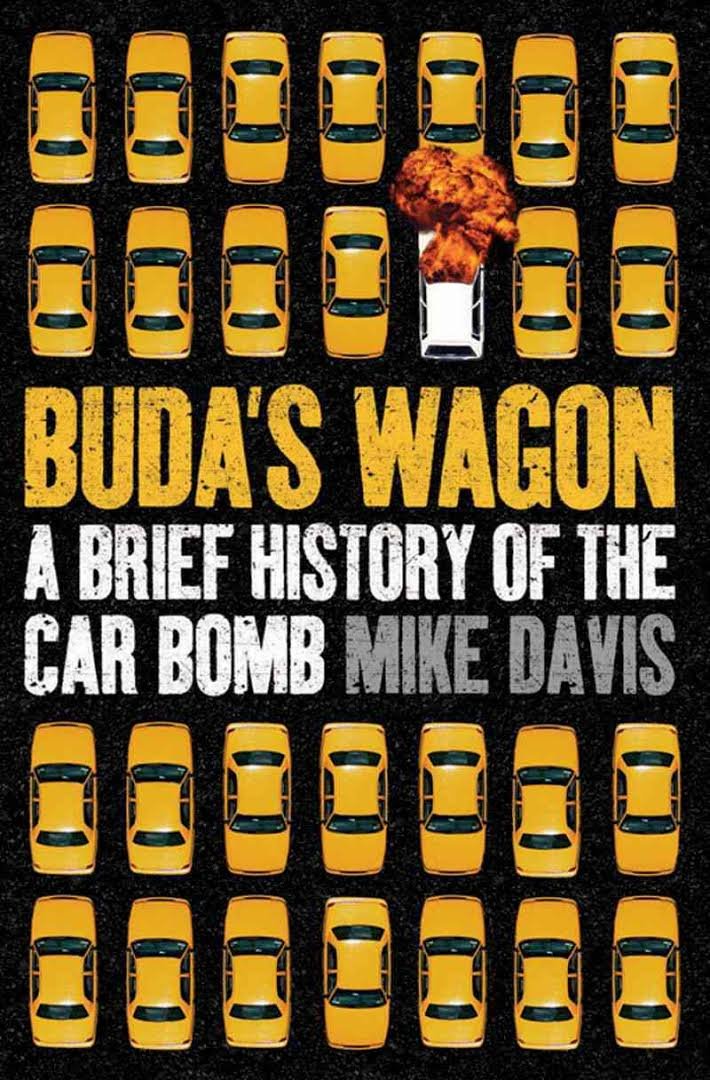Michel Maffesoli*

A palavra crise está em todas as bocas. Fala-se em
crise política, crise econômica, até mesmo em crise espiritual. A
etimologia da palavra crise remete ao grego « krinein »: passar o grão
no crivo. Ou seja, fazer a triagem. Como se diz, separar o joio do
trigo. Os velhos valores da modernidade estão saturados e os novos
valores custam a emergir.
Essa saturação dos valores é especialmente evidente na cena política:
nada mais parece fazer sentido; os resultados eleitorais traduzem uma
volubilidade aguda dos eleitores, espelho da transformação em espetáculo
das políticas nacionais.
No Brasil, por exemplo, todo mundo sabe que a corrupção é inerente ao
modo de agir de parte considerável dos políticos. É difícil, ou quase
impossível, ganhar eleições e governar sem o apoio financeiro das forças
econômicas que financiam campanhas e fazem pressão sobre os eleitos.
Mas, de certo modo, há um fingimento de espanto. Faz de conta que se
está descobrindo tudo isso. A surpresa inclui a percepção, como se fosse
uma novidade, de que o Estado, reduzido a uma encenação de suas
atribuições, está impotente, sem condições para resolver os problemas
cotidianos da cidadania.
Na França, a cena política também chegou ao ponto máximo do
espetáculo. Votam-se leis desprovidas de conteúdo, que não satisfazem a
situação nem a oposição. Em paralelo ao jogo parlamentar, multiplicam-se
as graves e as manifestações numa espécie de remake da Frente Popular
dos anos 1930, sem que ninguém, de fato, acredite nisso. A verdade é que
o rei está nu e que, como no conto de Andersen, até agora ninguém ousou
dizer isto: O Estado não tem condições de garantir a manutenção dos
serviços públicos; os eleitos não conseguem executar os programas de
campanha e não realizam as reformas necessárias ao dia a dia dos países.
As eleições recentes na Itália, com o descrédito, após um começo
voluntarista do chefe de governo, Matteo Renzi, último símbolo da
reforma e da recuperação do Estado, também indicam uma enorme perda de
significado da política.
O povo não espera coisa alguma desses sábios e racionais gestores,
assim como não se sente protegido pelo Estado, por sua polícia, seu
exército, sua justiça. Se é para chutar o balde, que seja sem meio
termo: daí a participação, ou o apoio, em manifestações ou contestações
que só tem por programa e objetivo reunir pessoas, promovendo um
estar-junto (Noites em pé na França), um encantamento com a encenação de
justiceiros, responsáveis, no caso do Brasil, no entender de uma parte
do país, pelo afastamento da pessoa que seria a menos diretamente
atingida pela corrupção no meio político, e a eleição de personalidades
totalmente novas na política, como na Itália, que justamente não querem
se comportar como políticos profissionais e tentam apostar em uma nova
forma de fazer política.
A esse movimento profundo é possível acrescentar o crescimento da
abstenção eleitoral e os diversos modos mais emocionais do que políticos
de congraçamento coletivo. Tudo isso parece remeter menos a uma crise
do que a uma transfiguração da política. É o modelo da democracia
representativa e da autoridade tutelar e totalizante do Estado que não
funciona mais. O povo não confia mais nas suas elites e estas só se
preocupam com a própria sobrevivência. O senso do interesse geral
acabou. Os eleitos não representam mais os eleitores.
Mas, em vez de se lamentar diante da decadência de um modelo de
regulação da vida coletiva, na verdade, bastante recente (datado do
século XVIII), o melhor é prestarmos atenção no surgimento de forças
alternativas, não mais vindas de cima, do alto, mas de baixo; não mais
propondo um programa nacional e prospectivo, mas experimentando, por
toda parte, de diferentes modos, soluções mais pontuais, locais,
singulares, adequadas a problemas específicos. É nesse nível que se
podem identificar os diversos tipos de solidariedade, as criações
culturais e as alternativas cotidianas formuladas contra o marasmo
político dominante. Pois o fim de um mundo não é o fim do mundo.
Termino este artigo com uma palavra sobre o Brexit, cuja repercussão
continua e se estenderá por muito tempo. Ou seja, termino falando da
vontade afirmada nas urnas pelos eleitores britânicos de deixar a União
Europeia. Eis um exemplo claro dessa secessio plebis da qual eu
anuncio desde muito tempos os riscos. É preciso salientar que a
permanência na União Europeia só foi defendida com argumentos
econômicos, ou até mesmo economicistas, sustentados por tecnocratas ou
banqueiros. Nada se falou que pudesse remeter ao imaginário das pessoas
ou dos povos. Vale lembrar que a alma coletiva da Europa não pode ser
definida exclusivamente por uma moeda única e pelos auxílios e subsídios
feitos aos seus membros por um orçamento público comum.
O povo britânico não foi convencido pelos argumentos racionalistas
das elites, que não souberam utilizar ou acionar imagens e mitos comuns.
Sem dúvida, também nesse ponto, será preciso reconstruir uma maneira de
convivência, de compartilhamento, de estar-juntos e de adesão e apego a
uma terra comum a partir de baixo. Uma Europa das regiões mais do que
uma Europa das nações. Uma Europa do consenso popular mais do que uma
Europa das negociações tecnocráticas e financeiras. Teremos de recuperar
o dinamismo das trocas e das cooperações que deram sustentação ao
triunfo das catedrais góticas e dos mosteiros, das descobertas culturais
e científicas do Renascimento e das criações e obras desses grandes
europeus que foram os romancistas e poetas dos últimas séculos.
-----------------
* Michel Maffesoli, sociólogo, 71 anos, é professor emérito da Sorbonne. Autor, entre tantas obras, de A transfiguração do político, a tribalização do mundo e O conformismo dos intelectuais (Sulina).
Neste texto, publicado no Caderno de Sábado do Correio do Povo, Maffesoli reflete sobre a crise na política.
Fonte: http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=8891 - 31/07/2016