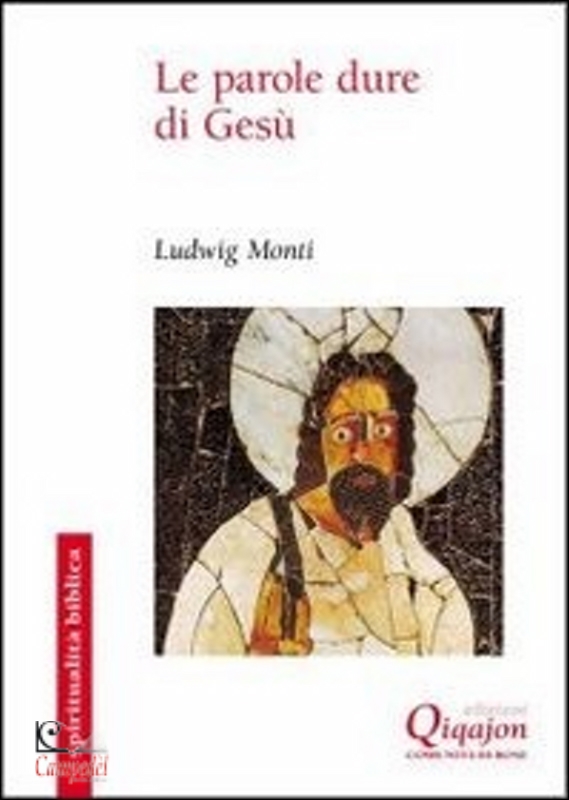IVAN MARTINS*
Por que a gente só descobre que ama depois que pessoa foi embora?
Vinícius de Moraes disse uma vez que as mulheres nunca são tão belas
quanto no momento em que vão embora. É uma frase bonita que descreve uma
situação triste – os homens, costumeiramente, esperam as mulheres
partir para descobrirem, logo depois, que cometeram um erro terrível. A
mulher que foi embora se transforma, instantaneamente, na mulher da vida
deles, única e insubstituível.
As mulheres conhecem essa história de cor e salteado. Converse com
qualquer uma delas e você vai descobrir que o homem bumerangue está na
área desde que elas têm 14 anos. O sujeito enjoa do namoro, começa a
tratar a moça mal e dá um pé na bunda dela – ou leva, depois de
repetidas desatenções. Dias depois, porém, ou mesmo horas depois, lá
está o mesmo cidadão ao telefone, transtornado, pedindo para voltar e
usando expressões definitivas como “eu te amo”, “não sei viver sem você”
e, claro, a melhor de todas, “você é a mulher da minha vida”.
Quem nunca fez esse papelão levante a mão!
Muitos já fizeram, mas há muitos que transformam esse comportamento
errático em modo de vida. Eles estão sempre apaixonados por uma de duas
mulheres – aquela que já foi embora ou aquela que ainda não apareceu. A
mulher do agora, com quem ele dorme, viaja e vai ao cinema, essa nunca é
tão bacana. Mas, basta ela se cansar do enfado dele e retirar o time de
campo para se tornar, instantaneamente, a mulher mais linda e mais
desejada do mundo – a (ex) mulher da vida dele.
Já ouvi dezenas de amigas me perguntarem, ao longo dos anos, sobre o
que passa na cabeça dos homens que agem assim. Na nossa cabeça, afinal.
Eu não sei. Meu melhor palpite é que se trata de uma terrível ilusão
romântica. Ela desloca a felicidade para outro momento da vida,
diferente do agora. Produz insatisfação crônica. Quando está no modo
nostálgico, o sujeito imagina que o melhor ficou para trás: a ex é que
era engraçada, bacana, a melhor foda do universo. No outro modo, o
futurista, o sujeito se põe a fantasiar furiosamente sobre uma nova
mulher, que ele acaba de conhecer. Ela, sim, bonita desse jeito,
divertida, poderá fazê-lo feliz pelo resto da vida!
Cientistas que estudam o otimismo humano dizem que muitas pessoas
acreditam, sem razão objetiva, e muitas vezes contrariando as
evidências, que a vida vai lhes dar coisas cada vez melhores. Amor,
inclusive. Talvez esses tipos que estão sempre olhando para o futuro, à
espera de uma pessoa melhor, sejam apenas otimistas incorrigíveis. Ou
tolos. O que é o otimismo sem fundamento senão uma espécie esperançosa
de burrice?
Escrevo sobre homens porque esse comportamento inquieto parece ser mais
comum entre nós, mas as mulheres não estão livres dele. Com o fim das
convenções sociais que as obrigavam a serem fiéis e bem comportadas –
mulher de um homem só, pela vida toda – elas também começam a agir como
Don Juan, o sedutor serial da literatura: olham, querem, seduzem, se
decepcionam, começam a sonhar de olhos abertos, terminam o
relacionamento, começam tudo de novo. Feito homem. Foram contaminadas
pela inquietação do amor perfeito.
Muita gente acredita que essa insatisfação permanente é a única forma
real da existência humana. Dizem que relações e sentimentos duradouros
seriam, na verdade, uma violência contra a nossa natureza de bichos.
Afinal, não estamos sexualmente interessados em outras pessoas o tempo
inteiro? Se fôssemos honestos, afirmam, teríamos de admitir que nosso
desejo é múltiplo e está sempre à procura do próximo objeto. Por isso,
não deveríamos estabelecer relações de exclusividade com ninguém.
Eu não vejo as coisas desse modo.
Acho que podemos escolher entre viver de forma auto-indulgente,
correndo atrás do nosso desejo insaciável, ou negociar com ele. O
relacionamento é um espaço negociado. Eu e você decidimos que estaremos
aqui dentro, juntos, sabendo que uma parte de nós gostaria de estar lá
fora, na pluralidade. Mas, lá fora, você e eu sabemos, há sempre uma
vontade enorme de estar aqui dentro. Então ficamos, apertamos os nossos
vínculos, e desfrutamos da nossa rica intimidade, nos privando de muitas
coisas que gostaríamos de tentar, embora não necessariamente de todas.
Se o esforço para ficar aqui dentro tornar-se grande demais, caímos
fora. E começamos de novo, com muita dor.
Acho essa uma proposição honesta e realista, romântica de uma maneira
moderna. Ela é melhor, a meu ver, do que a ilusão de que o
grande-amor-definitivo-e-arrebatador surgirá a qualquer momento, e, por
isso, devemos estar emocionalmente livres para recebê-lo, sem nos
envolver de forma profunda com ninguém no presente. É melhor, também, do
que a sensação de que a mulher que deixamos partir (ou o homem que
escolhemos deixar) era a única que tinha o poder de nos fazer felizes.
Sei que isso é um clichê miserável, mas o fato é que não existe uma
pessoa que nos fará magicamente felizes. A tal felicidade, se existe,
depende de nós. Nós deveríamos ser capazes de escolher e ficar contentes
com a pessoa que escolhemos. Ou, se não for esse o caso, ao menos
deveríamos estar contentes com o estilo de vida desprendido que
adotamos. Tudo aqui e agora. Não adianta ser feliz no ontem, que já
passou, ou no amanhã, que talvez nunca venha.
----------
*
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/ivan-martins/noticia/2013/01/ex-mulher-da-minha-vida.html
Imagem da Internet