
O que dizem os livros sobre os terroristas? Miguel Freitas da
Costa foi à procura das respostas, descobriu centenas de páginas e a
certeza de que não se ganha nada em ver o fenómeno como insanidadade.
“A polícia turca fez esta manhã uma série de raides em Istambul e
na cidade costeira de Izmir. Foram detidas 13 pessoas. A polícia
encontrou três espingardas de caça.” Os movimentos “terroristas” sempre
se distinguiram pela economia de meios – embora normalmente mais
destrutivos do que um punhado de “espingardas de caça”. Em Istambul,
como em Bruxelas, os bombistas suicidas apanharam banalmente um táxi
para o lugar onde iam morrer, matando. Este sábado, em Cabul, no
Afeganistão, dezenas de pessoas morreram num atentado já reivindicado
pelo Estado Islâmico. Mas também toda a gente já sabe que os atentados
bombistas organizados – suicidas ou não – implicam “estruturas de apoio”
não necessariamente armadas.
Tudo o que se pode dizer e perguntar sobre os bombistas suicidas está escrito. E está escrito há muito tempo.
Podiam encher-se muitas páginas elucidativas alinhando uma mínima
antologia dos muitos milhões de palavras que as mais sabedoras e
autorizadas penas – se penas é a palavra – já escreveram. Quase que
basta alinhá-las umas atrás das outras.
Não sei se precisamos de compreender os bombistas suicidas ou
só aprendermos a defender-nos deles – mas é uma ambição que muita gente
já quis satisfazer, mais ou menos em vão. Há, talvez, explicações a
mais. Já lá vão mais de dez anos, em 2005, Louise Richardson, com a
reticência de eminente especialista na matéria, retirou mais dúvidas do
que conclusões de três dos livros que nesse mesmo ano foram publicados
nos Estados Unidos e no Reino Unido (era no tempo em que tínhamos Reino
Unido) e ela recenseou no Financial Times. O livro que a própria Louise
Richardson escreveu no ano seguinte ainda é uma síntese lúcida e atual
do estado da arte de explicar e responder ao terrorismo: What terrorists want (“O que os terroristas querem”). Uma coisa é certa: não se ganha nada em tomar o fenómeno por uma manifestação de insanidade de uns quantos tresloucados. Há método na sua temível “loucura’”.
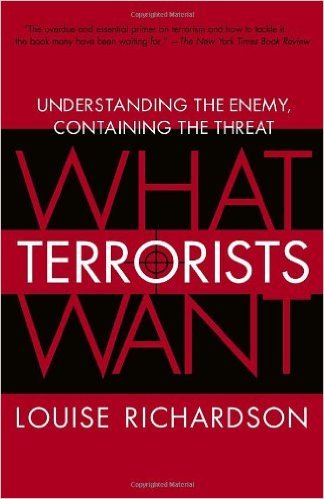
Os livros de que falava L. Richardson eram: Making Sense of Suicide Missions, uma coleção de ensaios de vários académicos, coordenada por Diego Gambetta, The Road to Martyr’s Square,
de Anne Marie Olivier e Paul Steinberg, uma “viagem ao mundo do
bombista suicida”, como se diz no esclarecedor subtítulo (“A Journey
Into the World of the Suicide Bomber”: os autores visitaram os antros de
bombistas e avistaram-se com suicidas em estágio – e testemunharam a
sua exaltação, a sua “exuberância irracional”, o seu “êxtase” de
prometidos esposos do apocalipse) e Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror,
de Mia Bloom, um título cuja facécia talvez já augurasse que o livro
“pouco contribua para a nossa compreensão do fenómeno”, nas palavras da
crítica – mas “mortos por matar” já veio à boca de outros especialistas
de melhor reputação. É um jogo de palavras a que é difícil resistir.
A coragem do desespero
Uma coisa ela observava com segurança e pertinência: o bombista
suicida “eviscerou”, muito simplesmente, “o princípio da dissuasão” que
tantos serviços prestou na era MAD (da Mutual Assured Destruction). Em Os homens do terror – Ensaio sobre o perdedor radical (edição portuguesa de Schreckens Männer – Versuch über den radikalen Verlierer),
Hans Magnus Enzensberger, mais literariamente, escreveu, nos mesmos e
tão pródigos anos de 2005-06: “A forma mais pura do terror islâmico é o
atentado suicida. Ele exerce uma atração irresistível sobre o perdedor
radical; pois lhe permite expressar a sua mania das grandezas assim como
o ódio a si próprio. De resto, cobardia é a última coisa pela qual pode
ser censurado. A coragem que o distingue é a coragem do desespero. O seu triunfo reside no facto de que não se pode lutar contra ele nem castigá-lo, porque disso se encarrega ele próprio”.

“Os Homens do Terror”, de Hans Magnus Enzenberger (Sextante)
(Talvez com a ajuda de substâncias “controladas”?) Esse dilema tinha
sido sucintamente expresso num romance de “Andy McNab” em 1999 (dois
anos antes do ataque às Torres): “these people don’t care, survival
isn’t an issue”. Falava-se da alegada inverosimilhança de um plano em
que os terroristas às ordens de Bin Laden que supostamente preparavam um
atentado contra a Casa Branca “nunca sairiam dali vivos”. “McNab” não é
o nome de mais um teórico: é o pseudónimo de um antigo e condecorado
sargento-comando e depois escritor do notável Bravo Two Zero
sobre uma operação verdadeira na guerra do Iraque de 1991 (honradamente
filmado para a televisão por Tom Clegg) e de numerosos thrillers de
grande êxito.
“Mc Nab”, que se especializou em operações de
anti-terrorismo e anti-guerrilha, participou em ações abertas e
clandestinas dos Serviços Especiais na Irlanda do Norte, na América do
Sul, no Extremo Oriente – e no Médio Oriente. Nas palavras dos próprios,
“Eles amam a vida, nós a morte” – dizia uma proclamação da Al-Qaeda
após o 9/11: “Venceremos”. Que querem os terroristas? Na versão
que actualmente nos preocupa, o terrorismo “político” é, como observa
Enzensberger, “apolítico”: não há nada que seja negociável.
John Arquilla e outros tinham avisado que o terror estava a passar “from
episodic efforts at coercion to a form of protracted warfare”. E como
disse um combatente do Islão sobre as hipóteses de umas conversações de
paz: “We don’t want peace, we want victory” ou ainda, na expressão de um
antigo director da CIA, “Não querem sentar-se à mesa, querem partir a
mesa”.
Louise Richardson chama aos bombistas suicidas "a arma
terrorista por excelência". Ninguém sabe quanto tempo teremos de viver
com eles. As palavras para salvar a humanidade estão todas inventadas.
Só falta salvar a humanidade, como dizia Almada.
Nessa época ainda estava longe de ser proclamado – autoproclamado,
como se tornou obrigatório dizer – o famigerado Estado Islâmico do
Iraque e da Síria e o seu Califado, um salto no tempo, para tempos que
até à aparição da Al-Qaeda estavam perdidos nas brumas do passado ou nas
sombras de algumas prédicas mais ou menos clandestinas. (Mais ou menos:
sem falar no Médio-Oriente, era um lugar-comum desde os anos 80 e 90 do
século passado, por exemplo, chamar a Londres “Londonistão”; a mesquita
de Finsbury Park e o seu capitão Gancho zarolho, Abu Hamza, eram bem
conhecidos. Os jornalistas ingleses Sean O’Neill e Daniel McGrory que
escreveram a sua história chamaram-lhe, em 2006 – outra vez – “The
Suicide Factory”.)
Do espanto à rotina
Mas as características do terrorismo pós-moderno – dessa maneira de
“ser moderno” (este importante livro de John Gray também foi traduzido
para português: Al qaeda e o significado de ser moderno)
estavam claramente definidas: a nova operacionalidade das “redes”, os
meios tecnológicos, o uso dos media, a importância da “descentralização”
e o papel do free-lancing na gestão do terror. É o ar do tempo: “As
multinacionais do futuro – escreveu Peter Drucker – serão provavelmente
governadas por uma estratégia – e a estratégia será o cimento da sua
união. Cada vez mais haverá confederações cujos elementos serão
alianças, joint ventures, participações minoritárias, acordos e
contratos de utilização de know-how“. (Drucker não estava a
falar do terrorismo, mas escrevia depois dos atentados do 11 de
Setembro.) E é cada vez mais claro que se tornou especialmente nebulosa a
fronteira entre política externa e interna.
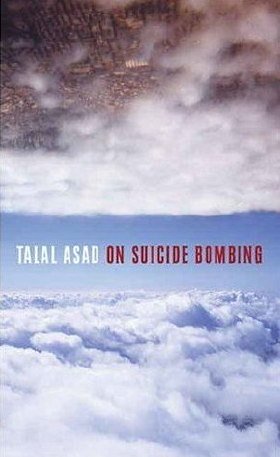
“On Suicide Bombing”, de Talal Asad
O “terrorismo”, político ou milenarista, não nasceu ontem. É tão
antigo como o mundo e a guerra. Esqueçamos de momento a mais intrincada
discussão e todas as subtilezas da moralidade e da legitimidade
comparativas do “terrorismo” e da aplicação da violência contra
populações indefesas de que os Estados não estão inocentes (bons pontos
de partida são On suicide bombing, do antropólogo Talal Asad,
por muito que às vezes nos possa irritar tanta imparcialidade, ou as
teses cínicas da “guerra sem restrições” de dois brilhantes descendentes
de Sun Tzu, os coronéis chineses Quiao Liang e Wang Xiangui, que a CIA
prestimosamente traduziu para inglês em 2002, com o subtítulo alarmante
de “O plano chinês para destruir a América”).
Quando os
aviões transformados em bombas embateram nas Torres, para “choque e
temor” de todos nós, os atentados suicidas eram uma pavorosa rotina em
Israel e tinham antecedentes noutros quadrantes como o Líbano ou o Iémen
ou vários outros “pontos quentes” do mundo – não
necessariamente islâmicos: até recentemente os Tigres Tamil do Sri
Lanka, nacionalistas, ateus e “marxistas-leninistas” detinham o recorde
dos atentados suicidas (Mas no caso do antigo Ceilão, só se matavam uns
aos outros). O carro bomba também é velho. Em Buda’s Wagon,
Mike Davis inicia a sua “breve história do carro bomba” com a carroça
que o anarquista Mario Buda fez explodir em Wall Street em 1920. Guiados
pelos suicidas, os carros-bomba, “a força aérea dos fracos”, são quase
impossíveis de deter.
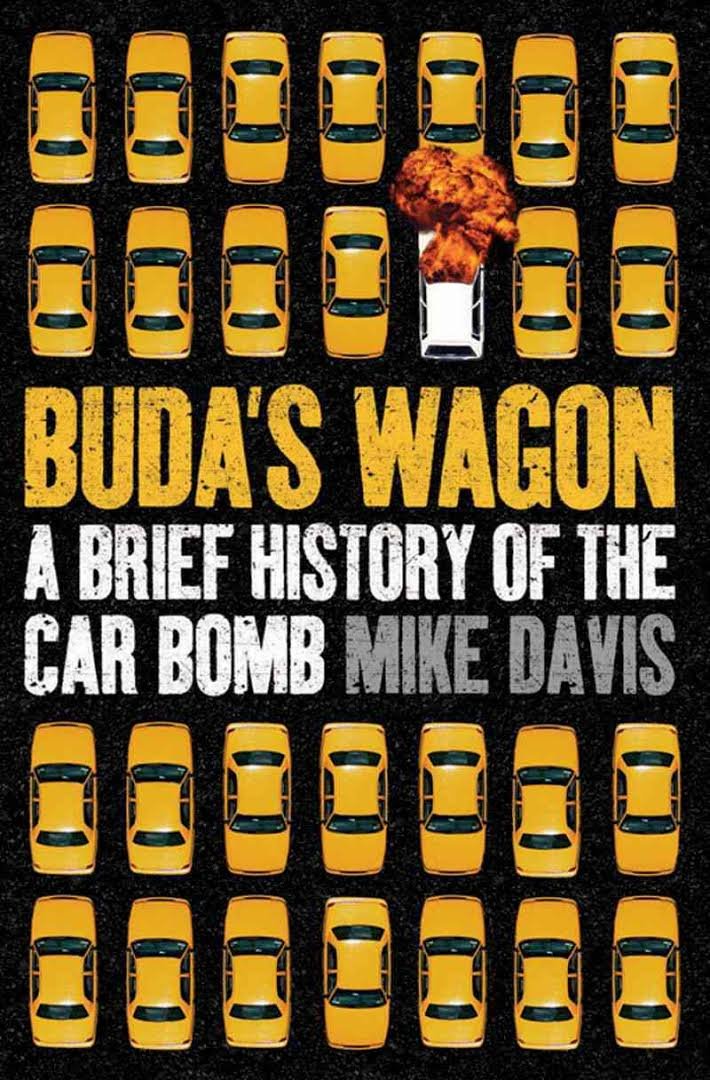
“Buda’s Wagon”, de Mike Davis
Louise Richardson chama aos bombistas suicidas “a arma terrorista por
excelência”. Ninguém sabe quanto tempo teremos de viver com eles. As
palavras para salvar a humanidade estão todas inventadas. Só falta
salvar a humanidade, como dizia Almada (e salvo erro se pode ler na
parede da estação de metro de Lisboa que lhe foi dedicada).
------------------
* Miguel Freitas da Costa, secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).
Fonte: http://observador.pt/especiais/terroristas-tudo-o-que-ha-a-saber-ja-foi-escrito/
Nenhum comentário:
Postar um comentário