Nuno
Crato*
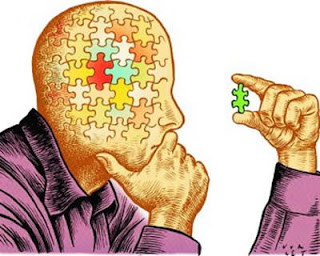
A partir de experiências clássicas desenvolvidas nas últimas décadas, a
psicologia cognitiva concluiu que as capacidades não podem ser adquiridas
independentemente das matérias concretas estudadas.
Por ocasião do seu doutoramento honoris causa na Universidade de
Lisboa, António Guterres fez um discurso que teve grande eco na imprensa. Mas entre aquilo que foi destacado nas notícias e
nos títulos apareceram afirmações sobre educação que julgo deverem ser lidas
com algum sentido crítico. Disse, por exemplo, que “o que fundamentalmente hoje
interessa nas universidades e no sistema educativo não é tanto o tipo de coisas
que aí se aprende, mas a possibilidade de aí se aprender a aprender”.
Será que isto se pode dizer, e de forma tão geral? Na realidade, o “tipo
de coisas que se aprendem” tem a sua importância. Muita importância!
Gostaria algum de nós de ser tratado por um médico que, na universidade,
tivesse aprendido Literatura Germânica, não tivesse prestado grande atenção à
Anatomia nem à Histologia, mas que tivesse sido fantástico a “aprender a
aprender”? Gostaria algum de nós de andar num avião mantido por uma equipa de
mecânicos que, na sua escola de formação técnica, tivessem estudado Anatomia
Patológica, nada sobre motores nem sobre aeronáutica, mas que fossem
extraordinários a “aprender a aprender”?
Exagero? Pensemos na mensagem que, no limite, se está a transmitir aos
estudantes: aprendam a aprender, não interessa tanto o que aprendem. Não parece
uma mensagem feliz.
Mais à frente, Guterres afirmou que tem netas com menos de dez anos e
disse que “o seu êxito dependerá essencialmente das oportunidades de educação
que vão ter, da capacidade que lhes derem para serem capazes de se adaptar à
mudança, de desenvolver novas formas de intervenção na sociedade, novas
atividades profissionais.”
Julgo que todos estamos de acordo. Mas em seguida acrescentou:
“seguramente, os conteúdos concretos que vão ter na escola vão estar
completamente ultrapassados quando exercerem as suas atividades profissionais
ou outras formas de intervenção na sociedade.”
Ser-me-á permitido discordar? Façamos então um pequeno exercício mental:
pensemos no que aprendemos na escola (no meu caso há várias décadas…), ou
pensemos no que hoje se aprende: aritmética, geometria, história de Portugal, história
mundial, português, inglês, geografia, ciências, etc., etc. De tudo isto, qual
é a fração que será ultrapassada? 99%? 50%? 10%? Eu arriscaria dizer que, mesmo
que 50% estivessem ultrapassados, valeria a pena ter estudado para saber os
outros 50%. Mas arrisco mais: direi que talvez apenas 1% do conhecimento que
adquirimos na escola estará ultrapassado; “completamente ultrapassado”, talvez
nem metade disso.
Repito: não devemos passar nenhuma mensagem de desprezo pelos “conteúdos
concretos”.
Vou citar Larry Sanger, fundador da Wikipedia, certamente alguém à
frente do seu tempo: “as capacidades específicas necessárias para o mundo do
trabalho eram, e em larga medida continuam a ser, aprendidas no próprio
emprego. Então vejamos, o que terá sido para mim mais útil aprender em 1985,
quando tinha 17 anos: todos os processos e truques do WordPerfect [processador
de texto então em voga] e do BASIC [linguagem de programação muito usada na
altura] ou a História dos Estados Unidos? Não há que haver dúvidas: o que
aprendi sobre história mantém-se aproximadamente o mesmo, sujeito a algumas
correções; as competências de WordPerfect e de BASIC deixaram de ser necessárias”.
A conclusão é simples: há matérias – “conteúdos concretos” – que
perduram. E quanto mais universais e mais antigas mais deverão perdurar. Ou
seja, quando eu tiver a sorte de ter netos, que espero vir a ter, vou
dizer-lhes “aprendam matemática, aprendam história, aprendam geografia,
aprendam literatura, aprendam línguas, pois esses conteúdos concretos não vão
estar ultrapassados quando exercerem as vossas atividades profissionais ou
outras formas de intervenção na sociedade”.
Mas o problema é muito mais vasto. Prometo a mim mesmo uma outra crónica
para breve. Adianto apenas dois resultados científicos sobre a aprendizagem.
Primeiro. Não existe capacidade sem conhecimento específico, ou seja, as
ditas “competências gerais” são essencialmente uma invenção. Por exemplo, para
a leitura crítica de um texto é essencial ter um vocabulário rico, conhecer o
tema discutido – política? história? ciência? arte? – e beneficiar de
conhecimento de textos semelhantes ou sobre temas semelhantes. Como diz o
educador norte-americano E. D. Hirsch, “a capacidade de leitura, de
comunicação, de leitura crítica e tudo o mais são intrinsecamente conhecimento
específico. Mais ainda: se tivermos conhecimento do tema em causa e nos faltar
apenas a proficiência técnica, teremos mesmo assim um desempenho melhor (na
análise do texto e na sua crítica) do que alguém proficiente, mas a quem falte
o conhecimento relevante.”
Segundo. A partir de uma série de experiências clássicas iniciadas nos
anos 40 do século passado e desenvolvidas nas últimas décadas, a psicologia
cognitiva concluiu que as capacidades não podem ser adquiridas
independentemente das matérias concretas estudadas. O pensamento crítico, o
“aprender a aprender”, a capacidade de análise lógica não existem
independentemente dos “conteúdos concretos”. Como explica o cientista cognitivo Daniel T. Willingham, “o pensamento
crítico (tal como o pensamento científico e outro pensamento específico) não é
uma capacidade. Não há um conjunto de capacidades de pensamento crítico que
possam ser adquiridas e utilizadas independentemente da sua aplicação.”
Conclusão: ‘aprender a aprender’ em vez de aprender, é o caminho direto
para nada aprender, nem sequer ‘aprender a aprender’.
---------------
* Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato é um conhecido matemático e
estatístico português que tem tido uma extensa atividade de promoção da
cultura científica. Conhecido pelas suas crônicas.








