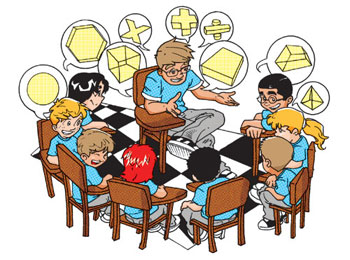Walter Laqueur - Entrevista
Imagem da Internet
O historiador alemão naturalizado americano
diz que a atual crise econômica na região
não é grave o suficiente para forçar os europeus
a aprofundar a união
de suas nações.
Em 2007, o historiador Walter Laqueur escreveu que a Europa enfrentava problemas estruturais graves que levariam à sua decadência num futuro próximo. Foi acusado de excesso de pessimismo. “Agora, as mesmas vozes que contestaram minhas ideias produzem manchetes apocalípticas sobre a Europa", diz Laqueur, de 90 anos. Nascido na Alemanha e naturalizado americano, o autor de mais de 25 livros sobre Europa, Oriente Médio e holocausto acaba de lançar nos Estados Unidos a obra Depois da Queda: o Fim do Sonho Europeu e o Declínio de um Continente. Ex-diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, ele falou a VEJA de Londres, onde moram seus filhos, sobre como a Europa pode reencontrar seu lugar no mundo.
(...)
O que esse declínio significará para a ordem global?
A região já havia deixado de ser o centro do mundo depois da II Guerra, mas ainda era uma fonte de inspiração por seus valores civilizatórios. Agora, ficará mais difícil para a Europa promover a liberdade e os direitos humanos para o resto do mundo. Mesmo internamente, será um desafio preservar a democracia em um momento em que, em meio a uma recessão, se tornou inevitável a adoção da austeridade nos gastos públicos. Pobres em recursos naturais e energéticos, os europeus lutarão para manter seu padrão de vida e suas conquistas sociais. A opção por solucionar questões externas com base na convivência pacífica e na cooperação também será posta à prova, pois entre 2020 e 2030 a proliferação de armas de destruição em massa de longo alcance terá se consolidado em países do Oriente Médio.
Como a Europa enfrentará essas ameaças?
A origem de muitos problemas da região está na resistência dos membros da União Europeia em rumar para a integração completa, para a criação dos Estados Unidos da Europa, ou seja, uma configuração política semelhante ao sistema federativo americano. Para poder fazer frente aos desafios externos será imperativo adotar uma política de defesa comum, da mesma forma que para resolver os problemas estruturais será preciso centralizar as decisões sobre as questões econômicas. Para seguirem esse caminho, contudo, os países europeus teriam de fazer concessões radicais de soberania. Mas não existem muitas opções ao alcance. Ou a União Europeia se desintegra de vez, liberando os países para tomar seu próprio rumo, ou tenta atravessar as turbulências atuais do jeito que dá, sem mexer muito na atual configuração institucional do bloco. Essa segunda opção é a mais provável, porque a história mostra que as instituições, uma vez instaladas, tendem a se manter por inércia. O mais preocupante, contudo, é que mesmo um continente europeu unido pode não reunir a fortaleza necessária para sustentar de modo consistente uma posição relevante nos assuntos mundiais. Talvez optar por uma postura modesta seja o mais fácil e menos arriscado para a Europa. As ambições dos países europeus, antes acostumados a ser fortes e influentes, terão de ser reduzidas.
"... os jovens europeus não têm ambição
e não estão preocupados em criar riquezas.
(...) Querem curtir a vida e esperam
que o estado os sustente."
Crises econômicas, como se sabe, são cíclicas. Passada a atual fase, os europeus não podem reaver seu antigo poder de alguma forma?
A crise que a Europa enfrenta é grave, talvez a mais profunda desde o fim da II Guerra, mas não é de vida ou morte. A recessão de 2008 teve certo efeito, pois induziu a Alemanha e a França a criar um fundo de estabilidade financeira para resgatar a Grécia e a Irlanda. Isso é suficiente para evitar o desastre iminente, mas não basta.
A meu ver, só uma crise de sobrevivência levaria os europeus a sair do estado coletivo de abulia em que se encontram.
Como assim?
A abulia era uma expressão consagrada pelos psiquiatras na França do fim do século XIX para descrever a total falta de ânimo e de vontade de um paciente. Os países europeus, alguns mais do que os outros, perderam o ímpeto de empreender e de exercer o poder político. A Europa sofre de abulia política e econômica. O desejo de ter poder e de exercê-lo se esvaneceu.
O nacionalismo agressivo que prevaleceu na região até 1950 se converteu em um nacionalismo passivo. Até os fascistas de hoje são defensivos. Os países europeus não sonham, como no passado, em se expandir territorialmente, mas sim em se fechar para o mundo.
Os europeus querem ser deixados em paz. A história mostra que as grandes mudanças muitas vezes ocorrem quando há a ascensão de uma nova geração otimista e ambiciosa. Isso não está ocorrendo na Europa.
Por quê?
Primeiro, porque a sociedade europeia está envelhecendo. As pessoas vivem mais e a parcela da população economicamente ativa diminuiu, o que explica em parte o fato de o sistema de bem-estar social ser cada vez menos viável. Segundo, porque os jovens europeus não têm ambição e não estão preocupados em criar riqueza. Eles também sofrem da mesma abulia coletiva. Querem curtir a vida e esperam que o estado os sustente. Eis o dilema dos países europeus: eles precisam que seus jovens trabalhem em dobro para pagar o custo das aposentadorias, mas a rapaziada também só quer viver dos benefícios sociais. A conta não fecha.
Como tirar a Europa dessa apatia?
Uma saída seria o surgimento de um nacionalismo europeu forte, mas esse sentimento é incipiente. Uma pesquisa de opinião mostrou que apenas a metade dos europeus se sentem “europeus”.
O nacionalismo pressupõe que um cidadão esteja disposto a se sacrificar por aqueles com quem compartilha da mesma identidade. Quanto maior o vínculo emocional, maior a propensão à solidariedade. O fato de os alemães não gastarem da ideia de pagar para salvar da falência outros cidadãos que abusaram dos benefícios sociais, como os gregos, mostra que a solidariedade europeia é mera ficção. Prevalece lealdade do indivíduo ao país em que ele nasceu. Várias tentativas foram feitas para fortalecer o sentimento da herança cultural comum, incluindo a criação de uma bandeira e de um hino europeu. Tudo em vão. A solidariedade e o sentimento nacional europeus podem se desenvolver a longo prazo, se impulsionados pela pura necessidade ou pela pressão econômica e política. Por essa razão, repito, só mesmo uma crise que ameace para valer seu existência fará a Europa se mexer.
Como seria essa crise?
Acho que a população europeia se uniria caso seis países entrassem em falência simultaneamente e outros tantos afundassem em dificuldades financeiras, com a duplicação das taxas de desemprego atuais.
Afinal, o que os europeus têm em comum?
Os valores democráticos, a tolerância, a promoção dos direitos humanos e o bem-estar social Muitas nações europeias enfrentam também os mesmos problemas, com a imigração descontrolada, que impõe desafios à identidade nacional. Alguns demógrafos preferem que, em um futuro não muito distante, os imigrantes e seus descendentes serão maioria nas cidades de Marselha, na França, Amsterdã, na Holanda, Bruxelas, na Bélgica, e Birmingham, na Inglaterra. A Europa precisa de imigrante, mas ainda não encontrou uma maneira de atrair aqueles com a qualificação adequada e dispostos a se submeter às normas e aos costumes locais.
"... o futuro da Europa deve ser focado
na vanguarda da tecnologia,
da ciência e
dos produtos de luxo".
A União Europeia e o euro podem desaparecer?
Isso é improvável. A ideia de uma moeda comum não foi ruim. O euro não foi a principal causa da atual crise e, mesmo se desmoronasse agora, é provável que depois de alguns anos haveria outra tentativa de criar uma moeda única. O problema é que o euro não deveria ter sido criado sem que houvesse um governo unificado responsável por sua coordenação. Não é possível ter uma moeda comum quando os países do bloco decidem individualmente seu orçamento anual. Como as opções de reverter a integração dos países europeus e de acabar com o euro sairiam mais caras do que seguir em frente, o melhor a fazer agora é intensificar ainda mais a unificação política e econômica da região. A criação de um governo europeu que possa ditar os rumos da economia parece o mais provável, ainda que as negociações para isso demorem muito. Sem um controle central, o euro não seria capaz de sobreviver.
Que lugar na economia mundial o futuro reserva para a Europa?
A indústria de alguns países europeus ainda pode competir com os mercados emergentes, exportando bens de luxo e itens de alta tecnologia. A Alemanha é um exemplo notável de como a recuperação é possível. Depois de se reerguer da devastação da II Guerra, a Alemanha voltou a enfrentar um momento desafiador, em 1990, ao absorver sua porção oriental, comunista e empobrecida. Como consequência da reunificação, os alemães enfrentaram o desemprego e salários não competitivos. Parte da imprensa europeia passou a se referir ao país como o “homem doente da Europa”. Com o passar dos anos, as empresas alemãs fizeram ajustes estruturais, reduzindo custos e se tornando mais flexíveis. A situação hoje é completamente diferente. A Alemanha é um dos maiores exportadores do mundo. Já as nações menores da região precisam repensar a sua economia. Como não contam com recursos naturais para exportar nem com indústrias de ponta, aquelas que basearam sua fonte de renda em manufatura com mão de obra barata não podem mais competir com o custo agressivamente menor de países como a China. É por essa razão que o futuro econômico da Europa deve ser focado na vanguarda da tecnologia, da ciência e dos produtos de luxo. A região também tem vocação para se tornar um grande parque temático.
Parque temático?
Esse cenário pode parecer fantástico neste momento, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada. Em vários países da região, o setor turístico tem se tornado o mais vibrante da economia e o principal receptor de moeda estrangeira. A capital francesa, por exemplo, virou uma espécie de Disneylândia de alto padrão para visitantes ricos de países emergentes como China e Índia, que já estão entre os que mais compram nas lojas de grifes parisienses. Nesses estabelecimentos, ter vendedores fluentes em mandarim já é quase uma obrigação. Os chineses recentemente superaram os russos como os maiores compradores de bens de luxo da Europa Ocidental. Muitos outros chineses virão. Esse pode ser o lugar da Europa na nova ordem mundial. Um lugar mais modesto, mas ainda respeitável.
-------------------------
Fonte: Revista VEJA impressa, Ed. 2254, nº 5, 1º de fevereiro de 2012, pp.15/19 para ler a entrevista completa.
Para saber mais
Livros
Uma visão norte-americana sobre o declínio europeu
Apesar de seus exageros,
'After the Fall', de Walter Laqueur,
tem vários bons momentos em
sua análise da decadência europeia
Um importante historiador europeu que agora vive e trabalha nos Estados Unidos, Walter Laqueur se transformou no principal profeta do declínio europeu. Seu novo livro, After the Fall: The End of the European Dream and the Decline of a Continent (“Após a Queda: O Fim do Sonho Europeu e o Declínio de um Continente”), se parece com um sumário de muitos de seus temas favoritos: a Europa tem uma economia fraca, com um estado de bem-estar social excessivo, e pouca capacidade de reforma, além de uma população em declínio, e o pior de tudo, muitos imigrantes muçulmanos.
Laqueur faz muito em sentido em vários momentos. A crise do euro (que, como muitos observadores, ele não previu) expôs muitos dos males econômicos do continente. Ela confirmou a indiferença dos países mediterrâneos quanto à necessidade de melhorar sua competitividade. O cenário demográfico da Europa é preocupante, com uma população envelhecida e dependente de uma força de trabalho cada vez menor – e esse cenário piora nos países mais ao leste. E nenhum país europeu conseguiu ter sucesso na assimilação dos imigrantes, especialmente daqueles vindos de países muçulmanos.
Ainda assim, seu tom sombrio ainda é excessivo. O desempenho econômico da Europa na última década não foi particularmente pior que o dos Estados Unidos. Embora alguns países estejam em situações preocupantes, o continente tem algumas das economias mais fortes e mais competitivas do planeta. Além disso, a crise do euro está gerando reformas mais extensivas para reparar as arrasadas finanças públicas, aumentar o liberalismo e impulsionar a competição que poderia ter sido possível anos atrás.
Um grande problema do livro é a repetitiva e excessiva ênfase nos supostamente prejudiciais efeitos da imigração muçulmana, e Laqueur chega perto de se render aos piores temores da “Eurábia”, um termo que já foi comum entre a direita norte-americana. Mas ele exagera a expansão do islã (existem 20 milhões de muçulmanos na Europa, o que seria equivalente a 4% da população do continente). E ele certamente está errado ao afirmar que os muçulmanos não podem ser assimilados, de que a sharia se espalhará ou de grandes partes das cidades europeias vão se assemelhar ao norte da África. Um continente envelhecido precisa de imigrantes. Além disso, tanto a Turquia (de quem Laqueur fala mal na maior parte do tempo) e a Primavera Árabe (que ele menciona brevemente) sugerem que reformas e uma democracia liberal podem, ainda que com uma certa dificuldade, ser compatíveis com o islã.
Na sua conclusão, Laqueur reconhece que “os profetas do declinismo têm feito previsões erradas com frequência”, antes de afirmar que a União Europeia pode se desintegrar. Ainda que suas previsões sejam um tanto duvidosas, sua análise merece ser lida e refletida, especialmente por aqueles que, antes da crise do euro, gostavam de afirmar que a Europa estava mostrando ao mundo o caminho para um futuro melhor.
-------------------
Fontes: The Economist - A declinist’s case