Por GUILHERME RODRIGUES*
Talvez revisitar o Fausto de Fernando Pessoa possa nos indicar que a realidade é esta miséria estática que só a morte dá
Ah que nunca a verdade definida
Mate a alma, que vive de não tel-a!
Talvez que nunca, ó negra sprança linda!,
A alma encontre o horror definitivo
Da verdade absoluta, onde se acabe
Que ser, que ter, que procurar.
Cada Deus seja falso e, onde é, supremo;
Sol centro d’um systema de verdades
E systemas solares de illusão
No espaço da verdade sem limite
E sem definição – inexistente
Para quanto é o sujeito[i]
Este fragmento do Fausto é mais um entre tantos em que o protagonista desta tragédia infinita de Fernando Pessoa se queixa da realidade, como se, à consciência de qualquer coisa que se chamaria verdadeira, se apresentasse em verdade o horror da banalidade, da superficialidade e, na pior das hipóteses, do fim mesmo de um empuxo em direção a alguma coisa significativa.
O Fausto pessoano é, portanto, este buscador incansável do mysterio (como o autor redige a palavra, com o y que puxa para o abismo, mas sempre olha para cima – uma ortografia sempre conscientemente poética, como ele mesmo apontava em alguns de seus inúmeros fragmentos), sem em realidade acreditar que algo possa ser dele revelado, pois “o unico mysterio, tudo em tudo / É haver um mysterio do universo, / É haver o universo, qualquer coisa, / É haver haver.”[ii] O horror que o protagonista tem da morte é se encontrar com este mysterio, e que ali algo se revele; para ele é melhor se misturar à noite, pois ele tem “forma informe / Da sombra”;[iii] a morte é, neste sentido, o terrível despertar de um sonho da vida:
Sim, este mundo com o seu ceu e terra
Com seus mares e rios e montanha,
Com seus arbustos, aves, bichos, homens,
Com o que o homem, com translata arte
De qualquer construção divina, faz –
Casas, cidades, carros, modas –
Este mundo, que sonho reconheço,
Por sonho amo e por ser sonho o não
Quizera deixar nunca (…)[iv]
Fernando Pessoa produz uma inversão de um lugar comum: a morte é a verdadeira vida, e, estática e terrível, é melhor fugir dela para sonhar esta vida, melhor e mais bela, mais humana, em que cada homem é um Deus que dá forma ao mundo imaginado. Nada muito diferente do único drama completo publicado pelo escritor em vida – O Marinheiro. Ali, as três veladoras relatam um passado falso, que nunca existiu, mas, por isso mesmo, é mais belo; e dele sai o sonho de um sonho: um marinheiro que, impossibilitado de retornar à pátria, sonha com um país falso, e constrói casas, amigos, família, ruas: “Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edificio impossivel”[v]. Quando, porém, quer se recordar de sua pátria verdadeira, “viu que não se lembrava de nada, que ella não existia para elle… Meninice de que se lembrasse, era a na sua patria de sonho; adolescencia que recordasse, era aquella que se creara… Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara”.[vi]
O horror que isso causa imediatamente nas irmãs que conversam durante aquela noite é oriundo de uma liberação da palavra poética, como se ela pudesse criar algo que é mais real do que a realidade, sobrepondo-a.
Digamos que este entendimento da imaginação e do sonho – da palavra poética – que moldam o mundo é algo que atravessa a obra de Fernando Pessoa, e, como é de se esperar deste poeta, tem sua marca na heteronímia. Os escritores e críticos que foram criados por ele muitas vezes são mais reais do que autores reais, e, se não é o caso, pelo menos agem como se fossem. Não somente possuem suas obras próprias, com estilos únicos, mas sabidamente têm biografias e descrições físicas, mapas astrais, comentários críticos sobre a obra de um e outro (além de debates mais ou menos acalorados sobre a poesia do mestre Caeiro, da política fascista de Mussolini e do próprio Fernando Pessoa – Alvaro de Campos desgosta, por exemplo, d’O marinheiro) e, para os que ainda não se convencem, até mesmo assinatura própria.
A invenção é, em Fernando Pessoa, a grande criação do mundo, e por isso mesmo a literatura teria um papel proeminente neste saber fáustico pessoano: o pacto é pela criação do Mundo, para que se deixe o inferno daquilo que é só possível para a morte. O difícil debate interno de Alvaro de Campos em “Tabacaria” pode ser lido por aí: ter em mim todos os sonhos do mundo, mas ser um homem que não ;e nada, apesar dos estudos, do amor e da crença; “porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada d’isso”.[vii] O amor de Ricardo Reis às rosas do jardim de Adonis, “Que e o dia em que nascem, / Em esse dia morrem”, pode ser também entendido nessas linhas: a vida que se dá conscientemente insciente “Que há noite antes e após / O pouco que duramos”.
Num tempo de Guerra e desmoronamento, a poesia de Fernando Pessoa conseguiu ver como o sonho e a imaginação são capazes de criar algo mais real do que a miséria da realidade; “Endireitar, como uma boa dona de Realidade, / As cortinas nas janellas da Sensação / (…) E limpar o pó das idéas simples”,[viii] esta é a vida do poeta Alberto Caeiro, verso a verso. Ao publicar seu livro Mensagem, já durante o regime fascista de Salazar, o escritor lança mão deste mito português nacional: um nada que é tudo, uma lenda a se escorrer na realidade, que, enfim, da de frente ao nevoeiro; com aquilo que ainda não tem nome, não tem forma e está imiscuído com a noite e a sombra – um mergulho, enfim, fáustico. Isso tudo, é claro, sem perder de vista o que é a criação do país sonhado do marinheiro. O momento do sonho e da incerteza é o momento da emergência, do novo, gestado durante a noite e a prece; a invenção – trazer do impossível o que agora existe, porque ele assim impera e move os afetos da palavra poética.
Se já durante a arquitetura de ruínas do neoliberalismo foi Mark Fisher que fez uma das mais brilhantes análises do capitalismo tardio nas últimas décadas ao apontar a capacidade de amputar sonhos revolucionários (o que capturou sobremaneira até mesmo as correntes mais críticas do pensamento de esquerda), talvez revisitar o Fausto de Fernando Pessoa possa nos indicar que a realidade é esta miséria estática que só a morte dá. O Fausto sempre foi uma obra com que o autor nunca esteve satisfeito, um conjunto inacabável mais do que inacabado – infinito pelas suas várias sugestões de montagens e possibilidades, lacunas e fragmentos, rascunhos e observações; como o Livro do desassossego, como os Intervalos de Alvaro de Campos.
Seus primeiros fragmentos datam do ano do regicídio do último monarca português, na véspera da proclamação da Primeira República de 1910, e atravessam toda a vida do autor, com seus diversos papéis e tintas de várias naturezas diferentes; como se, como seu Fausto, Fernando Pessoa hesitasse a montar uma obra final, mas sugerisse a todo momento que, pela suspensão, dali emerge uma poesia cujos símbolos e linguagem criam algo diferente, informe como a noite.
Seria o caso de lembrar, para hoje, então, que, para que haja o diferente, um mundo que não é esta miséria, é primeiro preciso sonhá-lo. Sonhar um mundo igualitário, sem fome, com o meio ambiente vivendo conosco sem o predarmos destrutivamente é, portanto, uma tarefa poética, mas que não deixa de ser profundamente Real, por sua capacidade de sobrepor a miséria da realidade: é, enfim, um modo de afastar a morte, é fazer temer aqueles que já querem simplesmente sepultar este mundo agora.
*Guilherme Rodrigues é doutor em teoria literária pelo IEL da Unicamp.
Notas
[i] F. Pessoa, Fausto, fr. 95, c. 1915 (Seguimos a edição dos fragmentos organizada por Carlos Pitella (PESSOA, Fernando. Fausto. ed. de Carlos Pitella. Lisboa: Tinta da China, 2018).
[ii] id. fr. 90.
[iii] if. fr. 85.
[iv] id. fr. 116.
[v] id. In: Orpheu, n. 1, 1915, p. 34.
[vi] id. ibid. p. 35.
[vii] “Tabacaria”, v. 108.
[viii] CAEIRO, Alberto. Poemas Inconjuntos.
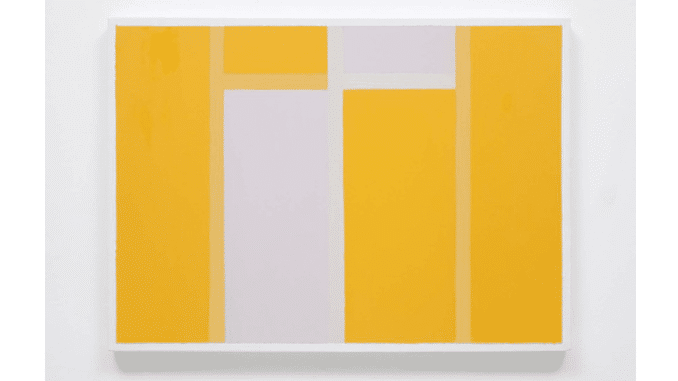
Nenhum comentário:
Postar um comentário