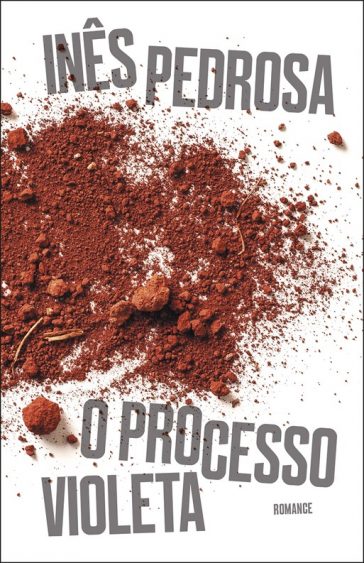Christian Ingo Lenz Dunker*
A culpa é um afeto pouco transformativo. Assim como criticar tornou-se o mesmo que desqualificar e agredir, autocrítica tornou-se sinônimo de admissão de culpa.
Agora que o castelo de areia criado pelo
ódio e pela desinformação começa a ser varrido pelas ondas de corrupção e
lama que vêm caracterizando as primeiras semanas do governo Bolsonaro,
talvez tenha chegado a hora da autocrítica da esquerda. Qual parte lhe
cabe nesse latifúndio de miséria, ignorância e regressão? Imagino que
vários outros (bem mais qualificados em ciência política e no
entendimento de processos institucionais, que efetivamente comandam o
chão de fábrica da política) tenham muito mais e melhor a dizer do que
eu. Mas aqui vai minha contribuição lateral para esse começo de conversa
que teve bons e maus motivos para ser adiada.
Uma das razões para este adiamento
decorre do fato de que fazer autocrítica é reconhecer que esta teria
sido insuficientemente realizada até então. A tentação de deter o
monopólio da crítica tem suas raízes na afinidade histórica entre a
esquerda e a invenção de outros modelos de mundo, de vida e de Estado,
caracterizando, ainda que provisoriamente, a direita como campo da
conservação e manutenção de um determinado estado de coisas. Por isso,
reconhecer o atraso nesta matéria não é apenas assunto de correção e
ajuste de rota, mas discussão de essências, pertinências e prerrogativas
no uso do qualificativo: esquerda. Afinal, o estado natural da esquerda
é ou deveria ser a crítica.
A autocrítica, como reverso interno e
necessário da crítica, tem também suas patologias. Assim como criticar
tornou-se o mesmo que desqualificar e agredir, autocrítica tornou-se
sinônimo de admissão de culpa. Desde que certa esquerda chegou ao poder,
o afeto político ascendente, neste quadrante, tornou-se a culpa. Culpa
por não ser suficientemente representativa e por não estar à altura
daqueles a quem se representa. Culpa por representar imperfeitamente
aqueles até estão excluídos ou minorizados. Culpa de frequentar
universidades, de possuir um pouco ou um muito a mais de capital
cultural, social ou econômico. Culpa de pertencer à classe média, de ser
elite, ainda que operária, negra, feminista ou LGBTI+. Culpa por sentir
que não se está fazendo nada de “realmente relevante” (o que
seria isso mesmo?). Culpa porque as mesas de congressos não contemplam
proporcionalmente indígenas, ou porque não nos dedicamos de forma mais
radical e comprometida à redução do preconceito à da desigualdade
social. Culpa porque não exercemos controle crítico do Estado, dos
partidos ou grupos que nos são próximos, ou de causas ecológicas e de
sustentabilidade. Culpa e sentimento de impostura por invadir o lugar de
fala alheio.
A culpa tornou-se afeto característico do
sofrimento de classe. Percebe-se, por meio de uma enumeração errática
como esta, que isso abriu espaço para a emergência do gozo cínico, que
instrumentalizará a culpa alheia dizendo que ela é apenas vitimização,
“mimimi” ou ritual narcísico de desimplicação. Creio que Francisco Bosco
estava tentando nos alertar para isso. A culpa é um afeto
individualizante que trava a ação coletiva. Isso se vê também no fato de
que em estado de massa ou de anonimato digital perdemos de vista a
função inibidora da culpa, nos tornando assim falsamente corajosos e
hipercríticos. O sujeito pode sair orgulhoso do debate ou da reunião de
condomínio, por destruir aquele colega que pisou em falso naquela
expressão inconveniente ou que se excedeu nos argumentos, mas a disputa
em torno da culpa é assim: o que hoje você expurga em cima de outro,
amanhã lhe será retribuído em dobro. A anestesia provisória, criada pela
superioridade moral vai sendo corroída pela culpa, que precisa cada vez
de mais atos de exibição purificadores. Nesse ciclo, quem vence é
sempre a culpa. Dois dias depois do #EleNão, perdeu-se a chance de uma
virada no discurso, quando embarcamos na conversa da culpa.
Uma determinada culpa existencial, de
extração católica, acompanhou a formação da esquerda no Brasil desde a
Juventude Universitária Católica (JUC) até as Comunidades Eclesiais de
Base. Uma culpa raiz que não servia nem à evasão nem à punição moral.
Uma culpa que nos fazia pensar com Antônio Cândido e Alfredo Bosi, com
Paulo Freire e Darcy Ribeiro, com João Cabral de Melo Neto e Clarice
Lispector. Gradativamente, o universo dessa “terra em transe” baseada na
autocontradição e na angústia que vinha da tomada de consciência sobre o
que significa Brasil, derivou para outra economia moral. Mais simples e
pragmática, essa nova consciência sedimentou-se na ideia de que culpa é
apenas transgressão da norma, e a norma é bem posta, com exemplos
claros e distintos. Aqui se diria que estou falando do
neopentecostalismo, mas não é este o caso, pois trata-se de um movimento
mais amplo e capilar. É a culpa dos professores impotentes porque lhes
impingem mais e mais ideais, com menos e menos condições de cumpri-los. É
a culpa dos trabalhadores massacrados por sua própria empregabilidade,
dos apaixonados pelo compliance de suas corporações, das
relações dietéticas e disciplinares com seus corpos, das relações
veementes com seus desejos e palavras, dos axiomas de saúde que nos
levam a uma série de pequenas resignações e ao recolhimento em uma vida
funcional.
Bem antes de inventarem a Lava Jato –
aliás, uma benfeitoria de Dilma – já estávamos culpados. Este é o ponto
que quero trazer para a discussão. É certo que o chamado campo
progressista, a esquerda ampla, partidária ou comunitária, organizada ou
“meio intelectual meio de esquerda”, como formulou Antonio
Prata, esquerda “caviar” ou popular, organizada em coletivos ou
escrevendo textões nas redes sociais, enfim, todos nós (me incluo nisso)
que nos engajamos nesse projeto de mudar a face miserável e faminta do
Brasil nos vimos, durante todos estes anos, diante de coisas que não
considerávamos corretas (deixo a lista para a próxima coluna). Mas a
atitude era de aposta. Olhávamos para o lado e víamos a barbárie de
sempre no outro lado e dizíamos a nós mesmos: melhor assim, porque outra coisa não dá.
O preço por essa união à base do mal
menor foi alto. Quando renegamos nossos desejos, quando deixamos de nos
implicar com o que queremos, quando barganhamos nossa responsabilidade
com relação às nossas aspirações, o resultado é um só: culpa. Para a
psicanálise, este é um ponto inegociável: cedeu de seu desejo, pode
esperar que a fatura da culpa virá, cedo ou tarde, clara ou obscura. Uma
esquerda culpada só pode operar por divisões cada vez mais fragmentadas
de si mesmo, buscando saber quem é mais culpado do que eu e eliminando
impurezas até chegar à solidão solipsista final. Quando entrei nesta
conversa, esquerda era transgressão, confronto e desafio de normas, como
bem colocou Kleber Mendonça, na pele de Sonia Braga, em Aquarius. Trinta anos depois, nos acostumamos a jogar para não perder.
Em determinado momento da história, a
direita parece ter descoberto essa fragilidade. A coisa começou pela
imputação de culpa e imoralidade generalizada. Traição aos ideais éticos
praticada pelos líderes. A resposta, ainda que vacilante, confiava na
ideia de que a Lava Jato era parte da autocrítica e que, na roleta geral
da culpa, a esquerda ainda tinha farto capital moral para gastar. O
erro impercebido foi ignorar que do outro lado emergia um adversário que
tinha outra gramática para a culpa. Um adversário que fazia política na
base da teologia da prosperidade, e na equação de que: se tenho mais, mais me é devido.
Isso não é meritocracia, mas autojustificação do poder. É claro que
essa retórica exige massiva repressão da culpa. Se você pensou que isso
se faz à base do reforço delirante da convicção de que a culpa é do outro e somente do outro, acertou.
Portanto, há um fragmento de verdade na
acusação de que faltou autocrítica. Faltou autocrítica e sobrou culpa.
Certamente isso influiu nos julgamentos decisivos nos quais começamos a
perceber matizes de vingança e parcialidade, bem como personagens
“imunes” a culpa. Há um fragmento de verdade no déficit de autocrítica,
na impossibilidade de reconhecer erros e na resistência a voltar a trás.
Esse fragmento não foi o pedalinho do Lula, mas a gramática da culpa
que se viu revertida e assumida pela direita como máquina de guerra. Foi
assim que pessoas imorais, indecentes e com ficha corrida na corrupção
puderam elevar-se à condição de acusadores. Isso só foi possível porque o
lugar do acusador já estava feito, polido e esperando seu novo
ocupante.
Quando dizíamos, generalizando o consenso
de uma conversa interna, que o outro era fascista, machista, misógino,
preconceituoso e homofóbico, nos vimos, estarrecidos e desprevenidos,
diante de um interlocutor que dizia: “Sou sim, sem culpa alguma! Aliás, a culpa é do PT!” O argumento transitivista, próprio a toda narrativa de sofrimento, abriu o flanco para ouvirmos: “Se você é feminista, eu posso ser machista! Se
você tem direito de achar que a terra é redonda, minha opinião de que a
terra é plana tem que ter o mesmo valor e importância!” Essa
parasitagem de argumentos, essa instrumentalização retórica talvez não
tivesse acontecido se o afeto político hegemônico na esquerda não fosse a
culpa.
A culpa é um afeto pouco transformativo.
Em geral, assim que achamos o culpado nos desimplicamos do processo.
Confundimos culpa e responsabilidade. Ser responsável é reparar,
manter-se fiel ao processo, interessar-se pela sua continuidade. Ser
culpado é o que basta para punirmos o outro, ou a nós mesmos, pela nossa
própria impotência e cair fora. A lógica da culpa serve para
esquecermos de nossa responsabilidade e implicação, por isso ela tem uma
função catártica: uma espécie de alívio imediato, mas seguido de um
aumento gradual da carga de angústia. No longo prazo, é pela culpa que
nos devora o superego, este glutão que sempre quer mais, que nos diz
sempre que ainda não está bom e que não chegamos… ainda, na perfeição.
Quanto mais respondemos ao superego, mais ele pede e mais nos sentimos
inadequados, infelizes e impotentes. Gozam pelo superego estes que se
apaixonaram pela correção e pela acusação dos impuros. Gozam com a força
da lei e com a humilhação do outro o seu parceiro fantasmático. Uma
nova nova esquerda pode beneficiar-se com um deslocamento de afetos,
permitindo que a autocrítica se separe da imputação de culpa colocando
em sua cúspide o desejo de transformação.
***
* Christian Ingo Lenz Dunker
é psicanalista, professor Livre-Docente do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (USP), Analista Membro de Escola (A.M.E.) do
Fórum do Campo Lacaniano e fundador do Laboratório de Teoria Social,
Filosofia e Psicanálise da USP. Autor de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (AnnaBlume, 2011) vencedor do prêmio Jabuti de melhor livro em Psicologia e Psicanálise em 2012 e um dos autores da coletânea Bala Perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua superação (Boitempo, 2015). Seu livro mais recente é Mal-estar, sofrimento e sintoma: a psicopatologia do Brasil entre muros (Boitempo,
2015), também vencedor do prêmio Jabuti na categoria de Psicologia e
Psicanálise. Desde 2008 coordena, junto com Vladimir Safatle e Nelson da
Silva Junior, o projeto de pesquisa Patologias do Social: crítica da razão diagnóstica em psicanálise. Colabora com o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.
Fonte: https://blogdaboitempo.com.br/2019/01/31/a-culpa-e-da-esquerda/