 Em 2016 na Faculdade de Medicina da USP: o espaço vazio, agora por restrições da pandemia, lhe causa tristeza - Foto por Léo Ramos Chaves
Em 2016 na Faculdade de Medicina da USP: o espaço vazio, agora por restrições da pandemia, lhe causa tristeza - Foto por Léo Ramos Chaves
O
médico patologista Paulo Saldiva se preparava para um período sabático,
mas diante da pandemia decidiu ir para a linha de frente das autopsias
de Covid-19 na Faculdade de Medicina da USP
Quando a pandemia chegou, todos os meus planos mudaram. Depois de dirigir o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo [IEA-USP] por quatro anos, eu planejava tirar um período sabático, ou mudar minha linha de pesquisa e começar algo novo. Mas uma das coisas que mantive foi a capacidade de fazer autopsias, e foi como se o destino me dissesse: “Você precisa fazer isso”. As autopsias tradicionais de Covid-19 ficaram proibidas em todo o Brasil, pelo alto risco de contágio e por não haver salas com proteção de nível 3 no país. Por isso, fizemos a proposta de testar as minimamente invasivas. Nessa técnica, não é preciso abrir os corpos, retiramos amostras de tecidos usando uma agulha muito fina. As autopsias são essenciais para ajudar a entender os mecanismos de funcionamento da doença.
No começo, meu grupo de pesquisa foi contra porque, além de mais velho, sou asmático. Mas eu queria muito contribuir e tive o apoio da minha família. Como nos primeiros meses não tínhamos certeza da segurança do procedimento em casos de Covid-19, me mantive isolado até dentro de casa. Meus dois filhos já não moram mais conosco, então dormia em quarto separado da minha mulher e usava outro banheiro. Montamos um sistema muito seguro para mim e para ela, eu entrava pela porta de serviço, tirava toda a roupa, já deixava na máquina de lavar e ia tomar banho. Por sorte aguentamos bem, ficamos assim por uns três meses até ver que era seguro. Embora na sala de autopsias o ambiente seja muito contaminado, inclusive o ar, ninguém ficou doente em todo esse período. Usamos boa proteção e nosso sistema se mostrou eficiente.
Nas autopsias, somos eu e a radiologista Renata Monteiro, doutoranda da Faculdade de Medicina da USP que trabalha com ultrassom post mortem. Só nós dominávamos a técnica no Brasil. Temos ainda o apoio de um técnico, o Jair Teodoro. Até agora, nós três fizemos cerca de 180 autopsias, desde março de 2020. Nem todas são de Covid-19 porque, às vezes, a doença é descartada depois da autopsia. Além disso, autopsias minimamente invasivas de outras doenças raras também passaram a ser pedidas pelo HC [Hospital das Clínicas].
Antes da pandemia, já falávamos da importância da autopsia minimamente invasiva, algo que a gente estudou em um projeto anterior, com apoio da FAPESP. Basicamente, modifiquei uma técnica que já existia. Antigamente, quando ocorriam as doenças endêmicas, como a malária, a esquistossomose ou o calazar [esquistossomose visceral], existia um serviço no Ministério da Saúde que usava uma agulha grande para fazer a retirada post mortem de fragmentos de fígado das pessoas pelo interior do Brasil. Isso funcionou até 1963, mais ou menos. Nosso grupo introduziu o uso do ultrassom. Ele serve como guia para localizarmos o melhor local para retirar a amostra de tecido. Com a chegada da pandemia, comecei praticamente do zero, estudando como utilizar a técnica com a doença. Passei a ser uma pessoa com foco em Covid-19, em vez de alguém concentrado na parte ambiental e nos determinantes sociais das doenças.
Durante esse tempo, tenho trabalhado aos sábados e domingos, quando é preciso. Já não temos a necessidade de estudar tanto a doença do seu ponto de vista geral. Mas, quando aparece morte de gestantes, crianças, jovens ou pessoas infectadas com a variante P.1, que surgiu em Manaus, há interesse para o entendimento da doença.
Ajudamos a esclarecer o mecanismo de morte das crianças que tinham Covid-19 e sofreram com a síndrome inflamatória sistêmica pediátrica. Geralmente a doença age de forma diferente nelas e nos jovens. O comprometimento pulmonar não é tão intenso como nos adultos, mas percebemos fortes alterações cardíacas. O sistema imune das crianças e dos jovens monta uma resposta inflamatória tão exuberante que, no afã de matar o vírus, também destrói outros tecidos. Isso já foi visto na febre amarela. O que acontece é que crianças infartam. Imagine, uma criança de 11 anos ter um infarto…
Há algumas semanas vimos uma menina cheia de áreas de microinfartos. Em parte das nossas pesquisas, com base nos dados dessas autopsias, indicamos que talvez o tratamento das crianças precise ser diferente daquele dos adultos. Descrever esse mecanismo foi uma grande contribuição do nosso grupo de pesquisa. Além disso, estamos analisando as complicações tardias, de gente que tem alta e morre. Ou que estava bem, já na enfermaria, e morre rapidamente, geralmente por eventos trombóticos. Também temos ajudado a ver as complicações da ventilação mecânica de longo prazo.
Temos um artigo já aprovado no qual mostramos como esse modelo de autopsia minimamente invasiva pode ser usado em pandemias por agentes de alta contagiosidade. Nosso grupo de pesquisa produziu 19 artigos científicos até agora, somando os publicados e já aceitos. A USP é a instituição que tem mais publicações científicas sobre autopsias de Covid-19 no mundo. Acredito que isso ocorreu porque nosso hospital tinha muitos pacientes, usamos uma técnica que permite fazer o procedimento com segurança e as famílias dessas pessoas foram generosas. Explicamos que, além de ser pouco invasiva, a autopsia pode levar a descobertas que podem salvar outras vidas.
A pandemia paralisou totalmente um projeto, apoiado pela FAPESP, que pretendia analisar a exposição de crianças à poluição do ar em creches de São Paulo. Pretendemos instalar sensores de poluição nas instituições e nas mochilas de 300 crianças para comparar os níveis de poluentes nas creches e em suas casas. Queremos ver o tamanho do impacto na saúde infantil e o que é preciso fazer para melhorar. Estamos esperando as aulas voltarem com regularidade para retomar.
Além das autopsias, continuo com as aulas – a distância. Trabalho a discussão de casos clínicos com os alunos, unindo o conteúdo básico ao aplicado. Sinto muita falta dos encontros presenciais. Se eu encontrar na rua algum aluno das duas turmas que ensino, não reconhecerei. É um pessoal com quem não pude sentar junto no refeitório para comer e conversar, isso é muito difícil para mim.
Acho que poucas vezes trabalhei tanto quanto agora. Dei várias entrevistas para a mídia, faço participações no jornal da TV Cultura e tenho uma coluna na Rádio USP. Agora fui convidado para ser colunista do jornal Estadão também. Vou escrever sobre doenças, ambiente e como é possível mudar um pouco essa realidade.
Tenho dormido muito pouco, umas quatro ou cinco horas por dia. Para distrair, gosto de andar de bicicleta. Há anos pedalo para o trabalho. Às vezes, saio da faculdade na avenida Doutor Arnaldo e dou uma girada pela cidade antes de chegar em casa. Desço até o Pacaembu, subo a Consolação, passo pelo centro. Vou observando a cidade e as pessoas. Tenho visto meus dois filhos: assistimos futebol juntos e nos falamos por videoconferência. Também escrevo bastante, é uma forma de ordenar minhas ansiedades, minhas desesperanças e às vezes algumas esperanças. Coloco meus sentimentos nas crônicas que publico no Facebook, com fotos que faço da cidade. Toco gaita. E converso com meus dois cachorros, saio para passear. Costumamos fazer o último passeio do dia por volta da meia-noite e aproveito para pôr as ideias em ordem.
É um trabalho muito difícil. Pessoalmente não é bom, tem horas que você fica desesperançado. As autopsias de crianças e jovens são ainda mais doloridas. Tenho o rosto dessas crianças na mente. Duas enfermeiras entrevistam as famílias dos mortos e ficamos sabendo de suas histórias, de como foram parar ali. A menina que mencionei, por exemplo, ficou três dias no pronto-socorro de um hospital na periferia de São Paulo esperando por uma vaga. Quando foi trazida para o HC, já estava muito mal.
E aí você começa a ver adoecimentos e mortes invisíveis, de pessoas que fizeram a cidade funcionar. Isso não aparece no jornal. Damos muito destaque aos profissionais de saúde, merecidamente, mas tem também um monte de gente que entregou comida, dirigiu carro de aplicativo e transporte coletivo, trabalhou no comércio essencial e adoeceu porque não tinha escolha, precisava trabalhar. Não só quem vai à balada em Maresias, no litoral de São Paulo, ou para a rave no Leblon, no Rio de Janeiro, se contagia por falta de isolamento social; é gente que tem que ralar para se manter. Cada pessoa é uma crônica, uma história que desvendamos tanto no relato das famílias quanto em seus corpos. É como se construíssemos um observatório dessa população geralmente invisível.
Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/cada-pessoa-e-uma-historia-que-desvendamos-tanto-no-relato-das-familias-quanto-em-seus-corpos/ - 09/05/2021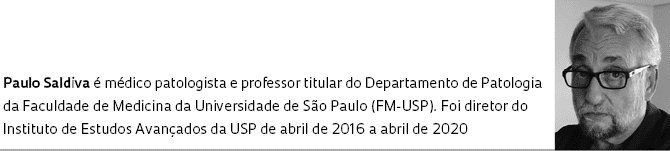
Nenhum comentário:
Postar um comentário