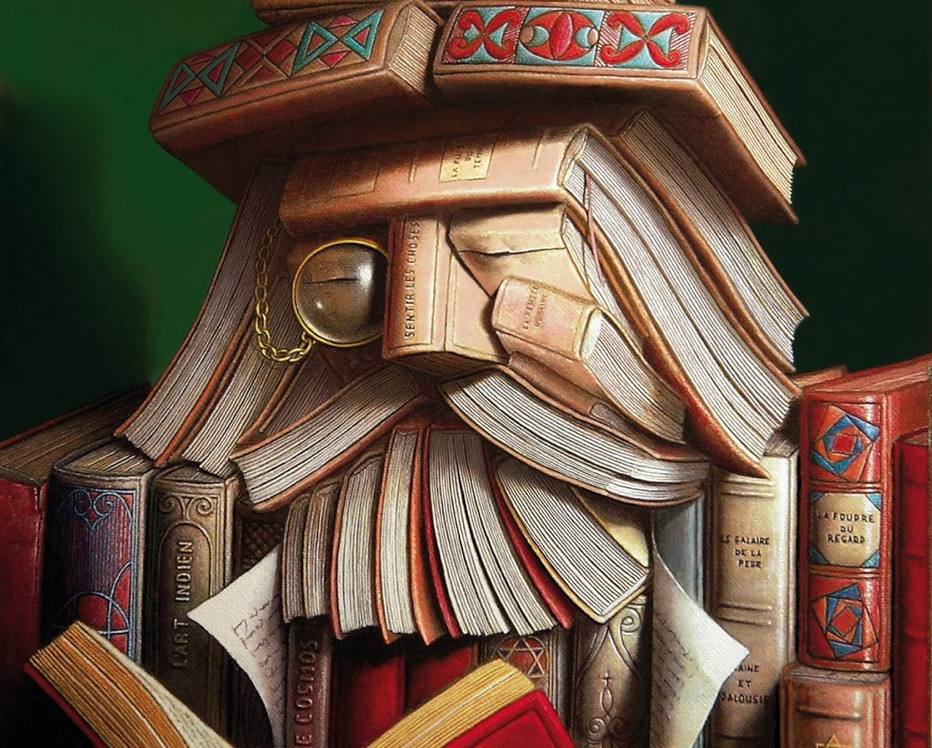-->
Timothy Morton
quer que a humanidade abdique de algumas das suas crenças fundamentais, desde a
fantasia de que controlamos o planeta até à noção de que estamos “acima” de
outros seres. As suas ideias podem parecer estranhas, mas
estão a começar a
popularizar-se.
Alex Blasdel
30 de Julho de 2017
Há alguns
anos, Björk começou a trocar correspondência com um filósofo cujos livros ela
admirava. A sua primeira mensagem começava assim: “Olá, Timothy. Há muito tempo
que queria escrever esta carta.” Então, a cantora estava a tentar arranjar um
nome para o seu género particular de música, a dar uma etiqueta ao seu trabalho
para a posteridade, antes que os críticos musicais o fizessem. Ela pediu-lhe
para a ajudar a definir a natureza da sua arte: “Não apenas a defini-la para
mim, mas também para todos os meus amigos, e até para toda uma geração.”
Acontece que o
filósofo, Timothy Morton, era um fã de Björk. A sua música, disse-lhe ele,
tinha tido uma "influência muito profunda" na sua maneira de ser e na
sua vida "em geral". A sensação de perturbadora intimidade com outras
espécies, a fusão de diferentes ambientes nas canções e videoclips –
ternura e horror, estranheza e alegria –, “é o sentimento de consciência
ecológica”, respondeu ele. O próprio trabalho de Morton é acerca das
implicações desta estranha consciência – o reconhecimento da nossa
interdependência ante os outros seres –, que, crê ele, corrói velhas noções
acerca da separação entre a humanidade e a natureza. Para ele, esta é a característica
que define o nosso tempo, e está a impelir-nos para que alteremos as nossas
“ideias centrais sobre o que significa existir, o que é a Terra, o que é a
sociedade”.
Ao longo da
última década, as ideias de Morton têm vindo a infiltrar-se no mainstream.
Hans Ulrich Obrist, director artístico da galeria Serpentine, em Londres, e
talvez a figura
mais poderosa e influente no mundo da arte contemporânea, é um dos seus
maiores apoiantes e defensores. Obrist afirmou aos leitores da Vogue que
os livros de Morton estão entre as mais proeminentes obras culturais do nosso
tempo e recomenda-os a muitos dos seus colaboradores. O conceituado artista
Olafur Eliasson tem convidado Morton para fazer palestras um pouco por todo o
mundo na inauguração das suas principais exposições. Excertos da
correspondência entre Morton e Björk foram publicados como parte da
retrospectiva da cantora islandesa em 2015 no Museu de Arte Moderna de Nova
Iorque (MoMA).
A terminologia
de Morton está “lentamente a infectar toda a área das Humanidades”, diz o seu
amigo e pensador Graham Harman. Apesar de muitos intelectuais e académicos
terem reputação de escreverem exclusivamente para os seus colegas de faculdade,
o peculiar vocabulário conceptual de Morton – “ecologia negra”, “o estranho
estrangeiro”, “a malha” – tem sido adoptado por outros escritores numa grande
variedade de campos, desde a literatura e a epistemologia até o direito e a
religião. No ano passado, foi incluído numa muito polémica lista dos 50
filósofos vivos mais influentes. As suas ideias têm também passado para os
órgãos de comunicação tradicionais, como as revistas Newsweek e New
Yorker e o jornal New York Times.
Parte do que
torna Morton popular são os ataques que lança contra as tradicionais forma de
pensar. No seu livro mais frequentemente citado, Ecology without Nature [Ecologia
sem Natureza, em tradução livre], argumenta que precisamos de eliminar todo o
conceito de “natureza”. Afirma que uma característica distintiva do nosso mundo
actual é a presença de coisas “genormes” a que ele chama “hiperobjectos” – como
sejam o aquecimento global ou a Internet –, que tendemos a pensar como ideias
abstractas, porque não conseguimos percebê-las, mas que mesmo assim são tão
reais como um martelo. Acredita que todos os seres são interdependentes e
especula que tudo no Universo tem alguma espécie de consciência, desde as algas
e os penedos até às facas e aos garfos. Proclama que os seres humanos são uma
espécie de ciborgues, visto que somos feitos de todo o tipo de componentes não
humanos; gosta de destacar que a mesma coisa que supostamente nos torna nós – o
nosso ADN – contém uma quantidade significativa de material genético de vírus.
Diz que já estamos a ser regidos por uma inteligência artificial: o capitalismo
industrial. Ao mesmo tempo, acredita que existem alguns “estranhos produtos
químicos experimentais” na esfera do consumo que irão ajudar a humanidade a
evitar uma crise ecológica total.
Quase
tudo o que fazemos é uma questão ambiental
As teorias de
Morton podem parecer bizarras, mas estão em sintonia com a ideia mais
demolidora que emergiu neste século XXI: que estamos a entrar numa nova fase na
História do planeta – uma fase a que Morton e muitos outros chamam agora o
Antropoceno.
Ao longo de
mais de 12 mil anos, os seres humanos têm vivido numa era geológica denominada
Holoceno, conhecida pelo seu clima relativamente temperado e estável. Era,
pode-se dizer, a Califórnia da História planetária. Mas está a chegar ao fim.
Recentemente, começámos a alterar a Terra de uma forma tão drástica que, de
acordo com muitos cientistas, uma nova era está a emergir. Após umas muito
breves férias geológicas, parece que estamos a entrar num período mais
volátil.
O termo
Antropoceno, da antiga palavra grega anthropos, que significa humano,
reconhece que os seres humanos são a principal causa da actual transformação da
Terra. Clima extremo, cidades submersas, uma aguda falta de recursos, espécies
em extinção, lagos que se tornaram desertos, desastres nucleares: se ainda
existir vida humana na Terra daqui a umas dezenas de milhares de anos,
sociedades que nem sequer conseguimos imaginar terão de enfrentar as alterações
que estamos a causar actualmente. Morton notou que 75% dos actuais gases do
efeito de estufa existentes na atmosfera ainda lá estarão daqui a meio milénio.
Isso é daqui a 15 gerações. Demorará outras 750 gerações, ou cerca de 25 mil anos,
para que a maioria desses gases seja absorvida pelos oceanos.
O Antropoceno
não é apenas um período de perturbações causadas pelo homem. É também um
momento de rápida tomada de consciência de si própria, no qual a espécie humana
está ficar mais ciente de si mesma enquanto força planetária. Estamos não
apenas a liderar o aquecimento global e a destruição ecológica; sabemos que
estamos a fazê-lo.
Uma das noções
mais fortes e perspicazes de Morton é que estamos condenados a viver com esta
percepção em todos os momentos. Ela está lá não apenas quando os políticos se
reúnem para discutir os acordos internacionais sobre o ambiente, mas também
quando fazemos algo tão banal como conversar sobre o tempo, pegar num saco de
plástico no supermercado ou regar a relva do jardim. Vivemos num mundo com uma
matemática moral que antes não existia. Agora, quase tudo o que fazemos é uma
questão ambiental. Isso não era verdade há 60 anos – ou pelo menos as pessoas
não tinham a noção de que isso era verdade. O que é trágico é que apenas quando
saqueamos o planeta percebemos o quanto realmente fazemos parte dele.
Morton crê que
isto constitui uma revolução na nossa compreensão do nosso lugar no Universo, a
par das que foram levadas a cabo por Copérnico, Darwin e Freud. Ele é apenas um
entre milhares de geólogos, cientistas climáticos, historiadores, escritores e
jornalistas que escrevem sobre esta sublevação, mas ele, talvez melhor do que
todos os outros, condensa em palavras o misterioso sentimento de estar presente
no nascimento desta era extrema.
“Aí está você
a rodar a chave na ignição do seu carro”, escreve ele. “E aí você apercebe-se.”
Cada vez que liga o motor do seu carro, não tenciona prejudicar a Terra,
“quanto mais causar a Sexta Extinção em Massa nos 4,5 mil milhões de anos da
História da vida neste planeta”. Mas “prejudicar a Terra é precisamente o que
está a acontecer”. Parte do que é tão incomodativo acerca disto é que os nossos
actos individuais podem ser estatística e moralmente insignificantes, mas
quando os multiplicamos por milhões e biliões de vezes – dado que são levados a
cabo por toda uma espécie – constituem um acto colectivo de destruição
ecológica. A destruição dos corais não está a acontecer apenas lá longe, na
Grande Barreira do Coral australiana; está a acontecer sempre que você liga o
ar condicionado. Em resumo, diz Morton, “tudo está interligado”.
À medida que o
trabalho de Morton se estende para lá dos hierofantes culturais como Björk e
entra nas páginas dos maiores órgãos de informação, ele está talvez a
transformar-se no nosso mais popular guia para a nova época. Sim, é verdade que
ele tem algumas ideias que parecem muito loucas acerca do que significa estar
vivo nos tempos actuais – mas o que significa estar vivo exactamente agora, no
Antropoceno, é efectivamente muito louco.
A culpa
não será do "Capitaloceno"?
No decurso da
sua ainda curta existência, o Antropoceno tem crescido enquanto conceito tão
ambicioso como qualquer outro paradigma da História do mundo que mereça esse
nome. O que se iniciou como um debate técnico no âmbito das ciências da Terra
tem levado, na opinião de Morton, a um confronto com algumas das nossas formas
mais básicas de entender o mundo. No Antropoceno, escreve, estamos todos a
sentir “uma traumática perda de coordenadas”.
A noção de
Antropoceno é geralmente atribuída ao químico especialista em atmosfera Paul
Crutzen, vencedor do Prémio Nobel, e ao biólogo Eugene Stoermer, que começaram
a popularizar o termo no ano 2000. Logo desde o princípio muitos tomaram bem a
sério o conceito de Crutzen e Stoermer, mesmo que não concordassem com ele.
Desde o final do século XX, alguns cientistas têm abordado o tempo geológico
como um drama pontuado por grandes cataclismos, e não meramente uma junção
gradual de pequenas alterações; e fazia sentido considerar a própria humanidade
como o último cataclismo.
Imaginemos os
geólogos de uma futura civilização a examinar os níveis de rochas que estão
actualmente em processo de formação lenta, da mesma forma que examinamos os
estratos de rochas que se formaram quando os dinossauros se extinguiram. Essa
civilização irá encontrar provas do nosso súbito (em termos geológicos) impacto
no planeta – incluindo os plásticos fossilizados e as camadas tanto de carbono,
da queima de combustíveis baseados no carbono, como das partículas
radioactivas, dos testes e explosões nucleares – tão claramente como hoje
podemos ver as provas da súbita desaparição dos dinossauros. Hoje em dia já
podemos observar essas camadas a formar-se.
Durante alguns
anos houve um debate aceso acerca da utilidade deste novo conceito. Os críticos
argumentavam que o “sinal geológico” da humanidade ainda não era tão notório
que justificasse a designação de uma nova era, ou que o termo não tinha
utilidade científica. Os apoiantes perguntavam onde deveriam situar o início do
Antropoceno. No início da agricultura, há muitos milhares de anos? Na invenção
do motor a vapor no século XVIII e no começo da Revolução Industrial? Às 5h29
de 16 de Julho de 1945, o momento em que se realizou a primeira explosão de
teste nuclear no deserto do estado do Novo México? (Morton, no seu espírito
ecuménico, considera todos estes momentos como sendo decisivos.) Depois, em
2002, Crutzen apresentou os seus argumentos na revista científica Nature.
A ideia de um momento na História do planeta em que a influência humana era
predominante parecia interligar tantos acontecimentos díspares – desde a
diminuição dos glaciares até uma nova abordagem dos limites do capitalismo –
que o termo rapidamente se espalhou para outras ciências da Terra, e depois
ainda mais além.
Desde então
surgiram pelo menos três publicações académicas dedicadas ao Antropoceno,
várias universidades criaram comités de investigação formais para ponderar as
suas implicações, alunos da Universidade de Stanford lançaram um popular podcast intitulado
“Geração Antropocena”, e milhares de artigos e livros foram escritos sobre o
tema, em domínios que vão desde a economia à poesia.
Alguns
pensadores opõem-se à palavra, argumentando que reforça a visão humanocêntrica
do mundo que nos levou até à beira da catástrofe ecológica. Outros dizem que a
culpa da espoliação da Terra não deve ser atribuída à humanidade em geral, mas
ao capitalismo (predominantemente branco, ocidental e masculino). Algumas
designações alternativas têm sido avançadas, incluindo o “Capitaloceno”, mas
nenhuma se afirmou. Não têm o tom de inquietude existencial de Antropoceno, que
evidencia tanto a nossa culpabilidade como a nossa fragilidade enquanto
humanos.
Por volta de
2011, o Antropoceno “começou pela primeira vez a surgir regularmente em
jornais”, de acordo com o livro recente do professor Jeremy Davies [The
Birth of the Anthropocene, 2016], no qual ele esmiuça a recente história do
conceito. A BBC, o jornal Economist e as revistas National Geographic
e Science, entre outros, publicaram artigos sobre esta ideia. As
alterações planetárias tinham progressivamente levado os jornalistas a
inserirem os seus temas ambientais no contexto da geo-história – níveis de
dióxido de carbono na atmosfera de 400 partes por milhão? Algo nunca visto
desde o Plioceno, há três milhões de anos – e o Antropoceno tornou-se uma
ferramenta útil para colocar a actividade humana na perspectiva do tempo
geológico longo. Para Morton, que tinha recentemente começado a escrever sobre
o assunto, ele dava conta da sua preocupação de como diferentes espécies de
seres, incluindo os humanos, dependem umas das outras para a sua existência –
um facto que as várias calamidades do Antropoceno terão confirmado.
Em 2014, o
Antropoceno foi incluído no Oxford English Dictionary, e no ano passado
a era foi formalmente aceite por um grupo de trabalho integrado na Comissão
Internacional de Estratigrafia, a guardiã oficial do tempo geológico. Para uma
possível data de início escolheram o ano de 1950, quando um dos mais evidentes
sinais da actividade humana surgiu a nível global na crosta da Terra: isótopos
de plutónio dos testes nucleares generalizados. O anúncio do grupo de trabalho
foi considerado tão importante que teve honras de primeira página no jornal Guardian
– nos meios de comunicação social, o Antropoceno é agora utilizado para
contextualizar qualquer coisa, desde críticas de romances até discussões sobre
a presidência de Donald Trump. Tal como disse então Jan Zalasiewicz, presidente
do grupo e um dos mais proeminentes cientistas que estudam o Antropoceno, a
nova era “define uma trajectória diferente para o sistema da Terra” e apenas
agora estamos a “começar a perceber a magnitude e a permanência das
alterações”.
Houve
anteriormente períodos de intensa flutuação climática em conjunto com extinções
em massa. A mais recente ocorreu há 66 milhões de anos, quando um meteorito com
dez quilómetros de diâmetro atingiu aquilo que é agora a Península do Iucatão
[Sudeste do México]. O impacto libertou energia estimada em dois milhões de
vezes a energia da bomba atómica mais poderosa alguma vez detonada, alterando a
atmosfera do planeta e extinguindo três quartos das suas espécies. Mas isso foi
um acontecimento comparativamente simples que as ciências estão bem equipadas
para perceber.
Para entender
uma alteração de era que está a ser causada pela actividade humana, precisamos
mais do que apenas geologia, meteorologia e química. Se isto é uma avaliação da
nossa espécie, então necessitamos de um guia intelectual – alguém que nos diga
exactamente quão em pânico devemos estar e o quanto vamos ser modificados pelo
nosso reconhecimento de que estamos a transformar o planeta.
A
catástrofe já aconteceu
A consciência
que adquirimos no Antropoceno em geral não é muito animadora. Muitos
ambientalistas estão agora a alertar para uma catástrofe global iminente e a
instar as sociedades industriais a arrepiarem caminho. Morton adopta uma
posição mais iconoclasta. Em vez de fazer soar o alarme ecológico como uma espécie
de Paul Revere [patriota famoso por ter alertado as milícias independentistas
americanas da aproximação de tropas britânicas em 1775] do apocalipse, defende
aquilo a que chama “ecologia negra”, que avança que a tão temida catástrofe, de
facto, já aconteceu.
Morton crê não
só que está em marcha um aquecimento global irreversível, mas também algo mais
abrangente. “Nós os mesopotâmios” – como ele chama às últimas cerca de 400
gerações de humanos que viveram em sociedades industriais e agrícolas –
pensávamos que estávamos simplesmente a manipular outros seres (através do
cultivo e da engenharia, e por aí fora) num vácuo, como se fôssemos técnicos de
laboratório e eles estivessem numa enorme placa de Petri chamada 'natureza' ou
'o meio ambiente'.” No Antropoceno, afirma Morton, temos de reconhecer o facto
de que nunca nos destacámos nem controlámos as coisas não humanas do planeta,
mas que sempre estivemos intimamente ligados a elas. Não podemos sequer
queimar, atirar para o chão ou pelo cano qualquer coisa sem que ela de alguma
forma se vire contra nós, tal é a poluição prejudicial. As nossas ideias mais
acarinhadas acerca da natureza e do ambiente – que eles estão separados de nós
e relativamente estáveis – foram postas em causa.
Morton compara
esta consciencialização com as histórias de detectives em que o perseguidor
percebe que se está a perseguir a si próprio (os seus exemplos favoritos são Blade
Runner e Édipo Rei). “Nem todos nós estamos preparados para ficarmos
suficientemente assustados [com esta epifania]”, declara. Mas existe outra
reviravolta: apesar de os seres humanos terem causado o Antropoceno, não
podemos controlá-lo. “Oh, meu Deus”, exclamou Morton ante mim a certa
altura, fingindo estar horrorizado. “A minha tentativa de escapar da teia do
destino era a teia do destino.”
É através dos
hiperobjectos que nós inicialmente enfrentamos o Antropoceno, argumenta Morton.
Um dos seus livros mais influentes, intitulado precisamente Hyperobjects,
examina a experiência de ser apanhado numa dessas entidades – na realidade, de
ser uma parte interna e integrante –, que são demasiado grandes para
conseguirmos compreendê-las e demasiado grandes para conseguirmos controlá-las.
Podemos experimentar hiperobjectos como o clima nas suas manifestações locais,
ou através de dados produzidos pelas medições científicas, mas a sua escala e o
facto de estarmos presos dentro deles significam que nunca conseguimos
entendê-los totalmente. Devido a esses fenómenos, estamos a viver num tempo de
mudança literalmente impensável.
Isto conduziu
Morton a uma das suas mais destacadas afirmações: a de que o Antropoceno está a
forçar uma revolução no pensamento humano. Os avanços na ciência estão agora a
sublinhar o quão estamos “apanhados na malha” juntamente com outros seres –
desde os micróbios que constituem cerca de metade das células do nosso corpo à
confiança que temos no calor do campo electromagnético da Terra para
sobrevivermos. Ao mesmo tempo, os hiperobjectos, na sua enormidade desajeitada,
alertam-nos para os limites derradeiros da ciência e em consequência para os
limites do domínio humano. A ciência apenas nos consegue levar até um
determinado ponto. Isto significa alterar a nossa relação com outras entidades
do Universo – quer sejam animais, vegetais ou minerais –, passar de um
paradigma de exploração através da ciência para um de solidariedade na
ignorância. Se falharmos nisso, iremos continuar a causar destruição no
planeta, a ameaçar as formas de vida que tanto prezamos, e até a nossa própria
existência. Em contraste com as fantasias utópicas de que iremos ser salvos
pela emergência da inteligência artificial ou por uma qualquer outra
tecnologia, o Antropoceno ensina-nos que não podemos superar as nossas
limitações ou a nossa dependência face a outros seres. Apenas podemos viver com
eles.
Isto pode soar
tenebroso, mas Morton consegue vislumbrar aí uma libertação. Se desistirmos da
ilusão de controlarmos tudo o que está à nossa volta, podemos voltar a
focar-nos no prazer que obtemos dos outros seres e da própria vida. O desfrutar,
acredita Morton, poderá ser o factor que nos mostrará um novo tipo de política.
“Vocês pensam que uma vida ecologicamente consciente significa ser totalmente
eficiente e puro”, diz o seu post mais destacado no Twitter. “Estão
enganados. Significa quer podem ter uma discoteca em cada divisão da vossa
casa.”
São palavras
típicas do seu pensamento, que muitas vezes parte do desoladoramente familiar,
mas depois se vira abruptamente para domínios menos batidos. “Existe algo de
verdadeiramente esperançoso no seu trabalho”, opina Hans Ulrich Obrist em
relação a Morton. “Esperança e talvez mesmo optimismo surgem algures lá pelo
meio.” Morton conta uma história acerca da instalação na sua casa nos subúrbios
de Houston, onde dá aulas na Universidade de Rice, de electricidade gerada pelo
vento. Após um ou dois dias a “sentir-[se] muito recto e honrado”, percebeu que
agora podia ter “luzes estroboscópicas e pratos de gira-discos e pessoas a
divertir-se durante horas e horas, durante todo o dia, todos os dias”, ao mesmo
tempo que causava muito menos danos ao planeta. “E na verdade é esse o futuro
ecológico.”
Na manhã de um
sábado no último Outono fui ter com Morton à galeria Serpentine, onde se
realiza anualmente um festival de ideias e onde ele iria falar no final do dia.
Ao longo das semanas anteriores, tinha estado em Seul a ajudar Olafur Eliasson
a inaugurar a sua exposição individual; em Singapura, para falar na conferência
Cidades do Futuro; em Bruxelas, para um discurso intitulado “A natureza não é
real”, num parque público à noite (disse-me que apareceram 250 pessoas); na
Universidade de Exeter, onde destacou o rocking, a sua nova teoria de
acção, que descreveu como “uma versão bizarra das categorias teísticas de
activo versus passivo”; em Roma, onde passou o seu tempo a, entre outras
coisas, beber martinis; e em Paris, onde foi a uma rave com a sua amiga
Ingrid e ficou tão dominado pela emoção e pela exaustão que passou parte da
noite deitado no chão da pista de dança.
“Professor
de Literatura e Ambiente”
Se tivéssemos
de escolher um avatar para o Antropoceno, Morton poderia ser uma escolha
acertada. Tem olhos azuis-marinhos que simultaneamente impressionam e parecem
impressionados. Combine-se com um ar ligeiramente rechonchudo que sugere
vulnerabilidade física, uma vermelhidão eczematosa nas suas faces, um punhado
de finos cabelos louros, e a sua aparência sugere que terá sobrevivido a algum
tipo de desgraça. De facto, é um homem bastante enfermiço. Entre outras coisas,
sofre de apneia severa do sono, depressão profunda, fortes enxaquecas e, ao que
me apercebo ao longo das nossas conversas, um ocasional surto de paranóia
mediana. Obrist, que gravou mais de 2500 horas de entrevistas com artistas e
filósofos, disse-me que Morton é o único que ficou “tão emocionado que começou
mesmo a chorar” (tinham estado a discutir a extinção em massa).
No início de
2016, quando falei com Morton através de videoconferência, ele tinha-se
mostrado efervescente. Agora, sentado ao fundo do restaurante da galeria,
convertido numa sala para performances, parecia estar nas últimas. Nesse
ano já tinha publicado 14 ensaios, enquanto continuava a trabalhar nos seus
próximos dois livros. Nas semanas seguintes tinha palestras marcadas para
Chicago, Yale, Seul (outra vez), Munique e, finalmente, iria reunir-se com
cientistas do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, para debaterem qual o
tipo de mensagens a enviar para o espaço no caso de ser reactivado o programa
das missões Voyager. (A original, lançada em 1977, enviou duas naves para lá
dos confins do sistema solar; cada uma levava um disco de 30 centímetros
banhado a ouro e gravado com sons e imagens representando a humanidade e outros
seres terrestres.) Pelo final de 2016, como mais tarde escreveu no seu blogue,
Morton já tinha acumulado 350 mil milhas [625 mil quilómetros] em viagens de
avião.
É possível,
quando alguém está com Morton pela primeira ou segunda vez, questionar-se se
não haverá alguma falsidade na sua índole hippie, na sua emotividade, na
sua destreza intelectual. Mas os seus amigos desde criança e os seus familiares
afirmam que o seu empenho visceral na ecologia e as suas façanhas académicas
recuam até à sua infância. Morton nasceu na zona noroeste de Londres, em 1968,
um período em que uma crescente consciência das ameaças ecológicas surgia em
paralelo com um sentimento de que as pessoas podiam mudar o mundo para melhor,
possivelmente sob a influência do LSD. Depois de os seus pais, que eram ambos
violinistas que tocavam música erudita, se terem divorciado nos finais dos anos
1970, o pai juntou-se à Greenpeace e foi velejar pelo mundo em acções de
protesto; já a sua mãe era uma feminista convicta, muito activa na Campanha
para o Desarmamento Nuclear.
Desde cedo
Morton destacou-se a nível académico. Ganhou a mais importante bolsa de estudo
para ir para a escola de elite de St. Paul’s, em Londres, durante cinco anos
consecutivos, e depois foi para a Universidade de Oxford estudar Inglês. Teve
as melhores notas do seu curso nos exames do primeiro ano e também nos exames finais.
Ter bons resultados a nível académico foi importante para Morton, mas acabou
por chegar à conclusão de que “na realidade isso é secundário face àquela outra
coisa que se chama estar vivo”. A sua vida em parte tomou a forma que o seu
trabalho mais tarde iria adoptar. Não era tanto apenas acumular conhecimento,
mas também procurar o prazer e a intimidade. No seu segundo ano da
licenciatura, ele e o companheiro de quarto, Mark Payne, que agora ensina
Literatura Clássica na Universidade de Chicago, “tomavam ácido e ouviam
Butthole Surfers e discutiam sobre Blake”. (Payne afirma que tomaram ácido e
discutiram sobre Milton.) Também se apaixonou pela primeira vez. Enquanto
estudante de mestrado, Morton tinha o cabelo comprido, vestia um blusão de
cabedal e usava colares e pulseiras de missangas. A sua tese, que é agora
reconhecida com sendo um importante contributo para o estudo do Romantismo,
revelou que o vegetarianismo de Percy e Mary Shelley estava intimamente ligado
às suas posições políticas e à sua arte. Paul Hamilton, que orientou parte do
trabalho de mestrado de Morton, disse-me que, no que toca aos Shelley, Morton
“alterou as noções que toda a gente tinha”.
Apesar do
sucesso da sua dissertação, Morton teve dificuldades em obter um lugar numa
universidade e até pensou em suicidar-se. Por fim, encontrou emprego na
Universidade do Colorado, em Boulder, antes de se mudar, em 2013, para a
Universidade da Califórnia em Davis, a nordeste de São Francisco. Estar no
Norte da Califórnia parece ter amadurecido o seu pensamento e começou a
centrar-se em questões explicitamente ecológicas, tal como sobre o que é que
escrevemos quando escrevemos acerca da natureza. Num gesto astuto de
autopublicidade, começou a designar-se a si próprio como “professor de Literatura
e Ambiente”.
Ao longo dos
anos seguintes, Morton publicou o livro em que questionava a noção de
“natureza”, seguido de outro em que perguntava o que significava para nós a
confiança nas formas insondavelmente complexas de uma infindável quantidade de
outros seres. Também se juntou a um movimento filosófico pequeno e polémico que
se autodenomina Ontologia Orientada para Objectos (OOO), que defende que todos
os seres, incluindo os humanos, apenas conseguem perceber o mundo nas suas
limitadas capacidades (por outras palavras, nunca saberemos o que sabem as
moscas, e vice-versa). Depois, em 2012, Morton abandonou a Califórnia e foi
para Rice, uma das mais prestigiadas universidades nos Estados Unidos.
Com a
segurança de um posto de professor efectivo e as sucessivas infusões de budismo
e OOO no seu pensamento, Morton começou a escrever num estilo mais pessoal,
mais rápido e preciso. A sua conversa sobre uma discoteca na sua casa com
energia eólica e a forma como se demora a dizer partaying [forma
adulterada de gíria para party, grande festa, farra] encaixam-se
perfeitamente no seu projecto. “É inevitável que a consciência ecológica tenha
uma espécie de sabor aos anos 1970”, concede. Trata-se de uma estética que ele
abraça “em toda a sua bizarrice florida”. Existe também uma imensa capacidade,
como umas largas calças de boca de sino, de diversificação no seu estilo
intelectual. Poderá muito bem ser a única pessoa que tanto surge numa lista dos
filósofos vivos mais influentes como aparece como letrista num álbum que
alcançou o número quatro das tabelas de vendas no Reino Unido (Stacked Up,
dos Senser, em 1994).
Seguiu as
pegadas de pensadores como Jacques Derrida e Edward Said, ao proferir uma das
famosas palestras Wellek, na Universidade da Califórnia em Irvine – mas também
actuou no festival de Glastonbury, tocando música para actuações de lançadores
de fogo e malabaristas, e serviu como consultor na série de Steve Coogan A
Viagem a Itália. Apesar de estar prestes a publicar um livro que tenta
fundir a ecologia negra com o marxismo (“O safanão é grande e nem toda a gente
vai gostar”, afirma), tem outro no prelo, na editora Pelican, Being
Ecological [Ser Ecológico], que se destina a encantar o público mais
generalista. A primeira frase é: “Este livro não contém qualquer facto
ecológico.” Apesar de vários dos seus livros serem dedicados aos sujeitos
habituais (mulher, filhos, irmãos), também dedicou um ao seu gato, o falecido Allan
Whiskersworth. Um dos posts mais absorventes no seu blogue, que é
actualizado regularmente, é uma pesquisa crítica acerca de pénis gigantes
pintados em telhados, de forma a serem descobertos via Google Earth. Está
profundamente empenhado no budismo Shambhala e vagueou pelo monte Kailash no
Tibete. Há não muito tempo fizeram-lhe uma leitura muito comovente das cartas
do Tarot.
Se as pessoas
acham muitas destas coisas ridículas, ainda bem. “Gosto de pensar em mim
próprio como sendo a coisa mais pirosa, mais horrível que seja possível imaginar”,
disse-me. Alcançou os habituais troféus do sucesso académico; agora que está a
passar pelos metafóricos detectores de metais da sociedade fina, tem um outro
objectivo. “Posso ficar bem conhecido, e aí posso lançar uma espécie de cena
anarquista hippie que tenho guardado como um líquido muito precioso,
cuidadosamente, sem entornar nem uma gota, durante anos e anos”, conta. “E
agora vou espalhá-la por todo o lado.”
Nem tudo
parece plausível
Quando chegou
a altura da sua palestra na Serpentine, Morton surgiu com uma camisa dourada da
Versace, bem justa, que poderia ser usada por um vilão piroso de um filme da
série James Bond. A sua palestra intitulava-se Stuff Can Happen
[Podem Acontecer Coisas].
“É
inacreditável a quantidade de filósofos que têm medo deste movimento”, começou
Morton. Continuou depois comparando duas linhas de pensamento na obra do
filósofo Hegel. “Um dos problemas de Hegel”, disse Morton, “o problema a que eu
chamo macro-Hegel, é que o macro-Hegel tem um movimento esquivo a subir as
escadas, o que é improvável. E no cimo das escadas, como o assassino em Psycho,
está à espera, suspense, sim, acertaram, a patriarquia branca ocidental,
na forma do Estado prussiano.” (Eu não tinha adivinhado este final. Será que
deveria ter adivinhado?) “Assim, o macro-Hegel rebenta com ela.”
Parecia ser
uma forma bastante estranha de iniciar uma palestra face a uma mistura de
artistas, activistas, estudantes e músicos. Mesmo sendo alguém interessado na
obra de Morton, em breve me senti aborrecido e distraído. O homem ao meu lado,
um académico americano com um sentido de humor corrosivo, rolou os olhos e
murmurou: “Mas que merda é esta?”
Apesar da
popularidade de Morton, esta é uma reacção bastante comum ao seu trabalho. Os
críticos de Morton com quem falei acusaram-no de que não compreender a ciência
contemporânea, como a mecânica quântica e a teoria dos conjuntos, e depois
reclamar as distorções que apresentam como provas que corroboram as suas ideias
extravagantes. Fizeram uma crítica recorrente que me recordou um provérbio que
expressa cepticismo: “Se abrires demasiado a tua cabeça, as tuas ideias caem.”
A torrente de ideias interessantes na obra de Morton não se aguenta, se forem
atentamente examinadas, afirmam. O filósofo Ray Brassier, que chegou a estar
associado à OOO, acusou Morton e os seus companheiros da blogosfera de gerarem
“uma orgia de estupidez online”.
Outros
críticos, especialmente de esquerda, queixam-se de que a concepção de
Antropoceno de Morton toca muito ao de leve nas questões de raça, classe,
género e colonialismo, responsabilizando toda a humanidade por danos causados
por uma minoria privilegiada. O ser humano colocado no centro do conceito de
Antropoceno é um alvo especialmente querido dos críticos. Ao referir-se aos
seres humanos como um todo unificado, argumentam eles, Morton apaga as
distinções entre o Ocidente rico e os outros membros da humanidade, muitos
deles já vivendo num estado de catástrofe ecológica muito antes de a noção de
Antropoceno ter entrado na moda nas universidades da Europa e da América do
Norte. Outros afirmam que a ideia de política de Morton é demasiado confusa, ou
que a última coisa de que precisamos quando enfrentamos desafios ecológicos são
comentários abstractos acerca da natureza dos objectos.
Já os defensores
de Morton vêem-no como uma espécie de Ralph Waldo Emerson do Antropoceno: os
seus escritos têm valor, mesmo que nem sempre aguentem o escrutínio filosófico.
“Ninguém num departamento de Filosofia vai levar Tim Morton a sério”, disse-me
Claire Colebrook, professora de Inglês na Universidade do Estado da
Pensilvânia, que tem trabalhado muito na área do Antropoceno. Mas ela ensina o
pensamento de Morton aos seus alunos de licenciatura e eles adoram-no. “Porquê?
Porque eles são do género: ‘Cala-te lá e dá-nos mas é uma ideia!’”
Nem tudo o que
Morton me disse no decurso das nossas conversas me pareceu filosoficamente ou
ecologicamente plausível. (“Tu e eu e os nossos computadores e o quadro por
trás de ti e talvez um dos pombos na rua vamos juntar-nos e criar um pequeno
colectivo anarquista, e o objectivo deste colectivo anarquista será ler, hum,
as cartas de Beethoven.”) Mas o que atrai muitas pessoas nas suas ideias não é
tanto a sua irrefutabilidade, mas sim a sua profusão e o seu divertimento. Hans
Ulrich Obrist e os artistas Philippe Parreno e Olafur Eliasson usaram todos a
mesma palavra para descrever a obra dele: é uma “caixa de ferramentas”,
disseram, de onde podem retirar ideias úteis.
Mas o
Antropoceno não vai desaparecer apenas porque um duende corrupto num fato largo
está sentado na Casa Branca. O aumento do carbono na atmosfera e do azoto nos
solos; a acidificação dos oceanos e a desertificação de terras anteriormente
férteis; a capa de isótopos radioactivos (dos testes nucleares) e de plástico
(das embalagens de produtos de consumo) que cobre o globo; as espécies que se
vão extinguindo – a lista de alterações dramáticas no planeta não termina. As
políticas de hoje podem ser mais urgentes do que nunca, mas a necessidade de
uma política para o amanhã permanece.
Alguns dias
após a eleição presidencial, Morton recuperou o seu sentido de humor e começou
a rir acerca do Presidente eleito, “um tipo pequenino com uma imensa pilha de
Cheetos amarelos na sua cabeça”. Sim, Morton iria passar os meses seguintes, ou
o tempo que fosse necessário, a lutar contra os fascistas no campus universitário
e onde quer que ele possa ser ouvido, mas também iria continuar a proclamar a
sua pouco usual abordagem à ecologia.
“Vamos
pôr alguma música house”, disse Morton no final de uma das nossas mais
longas conversas. “Mesmo que seja verdade que estamos todos lixados, não vamos
passar o resto da nossa vida neste planeta a dizer a nós próprios quão lixados
estamos.”
Então o que
devemos fazer?
“Apertar a mão a um porco-espinho e dançar.”
Exclusivo
PÚBLICO/The Guardian
Tradução de
Eurico Monchique
------------------
Foto Max Burkhalter
Fonte: https://www.publico.pt/2017/07/30/ecosfera/noticia/uma-avaliacao-da-nossa-especie-o-filosofo-profeta-do-antropoceno-1780509