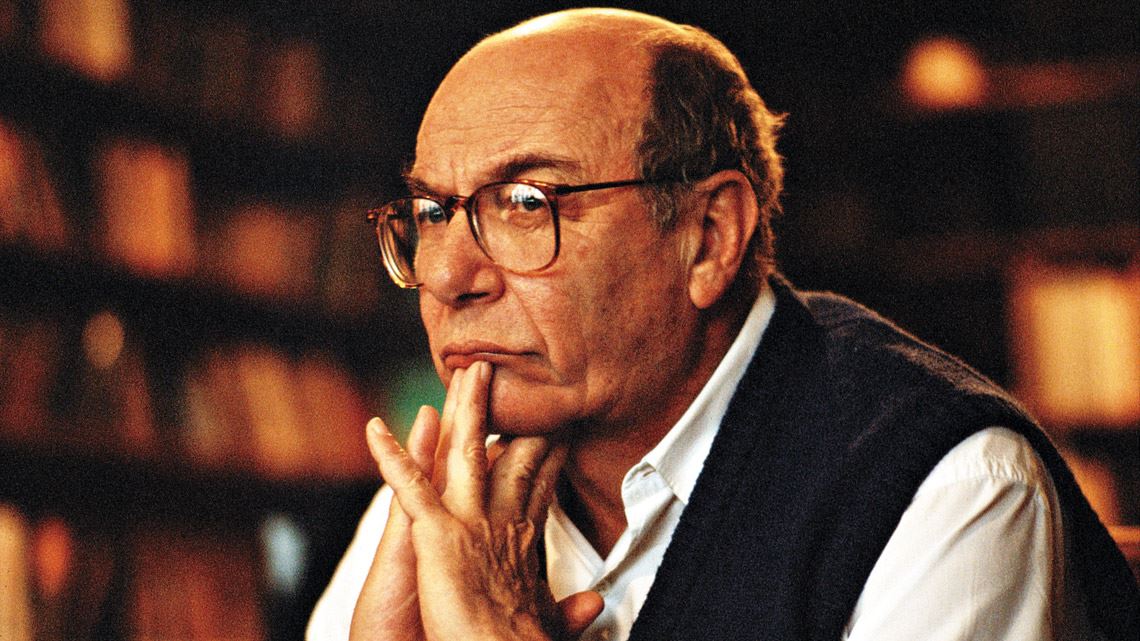
Miguel Boyayan
Para filósofo, Brasil deve evitar trombar com o atual complexo de monopolização da tecnologia
Provocador, polêmico, o professor José Arthur Giannotti, 73 anos, pode ser visto de muitas maneiras diferentes. Como ele mesmo observa, há quem o considere um traidor do pensamento marxista. Ou melhor, das posições e práticas da esquerda nacional, embora tenha sido cassado da Universidade de São Paulo (USP) pela ditadura militar, em 1969, exatamente por suas visões críticas e prática de esquerda. De sua parte, Giannotti, em cuja linguagem pode-se flagrar claramente a influência das análises fundamentais de Marx sobre o capitalismo, em paralelo ao diálogo que está sempre estabelecendo com vários outros pensadores, como Wittgenstein, para interpretar a crise contemporânea da razão, prefere se definir como “o último dos marxistas” – deixando escapar aí um laivo da divertida ironia com que costuma pontuar suas palavras.
O que quer que se pense do professor Giannotti, concorde-se ou não com suas análises, obrigatório, no entanto, é considerar que suas contribuições teóricas no campo da filosofia, suas intervenções públicas, na condição de intelectual engajado, sobre a política no Brasil, e sua prática concreta como professor e pesquisador, fazem dele personagem dos mais importantes nas tentativas de elaboração de um pensamento crítico consistente que dê suporte ao país para transcender sua pobreza, seu subdesenvolvimento. E tem sido assim desde os anos 60, estivesse ele onde quer que fosse: na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), do qual, junto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um dos fundadores, e que dirigiu por 11 anos, ou na USP, para onde retornou após a anistia de 1979 e da qual é hoje professor emérito.
Para cumprir a tarefa que se impôs de pensar sobre o problema da racionalidade no mundo contemporâneo, o professor Giannotti há algum tempo afiou os instrumentos para explorar um de seus aspectos centrais, que é o campo da ciência e tecnologia. Recentemente, publicou dois artigos na Folha de S. Paulo, “Feiticeiros do Saber” e “Fetiche na Razão” (Caderno Mais, dias 25 de maior e 15 de junho), que desde o título avisam sobre sua vocação polêmica. Foram esses artigos o pretexto mais imediato para que fôssemos entrevistar o professor Giannotti na bela casa do Morumbi, onde mora há 30 anos. Depois de uma conversa fascinante, entrecortada por muitos risos, da qual publicamos a seguir os principais trechos, saímos com a convicção de que, oscilando entre olhares preocupados e outros mais otimistas, o professor Giannotti cultiva uma certeza: a de que o Brasil tem chances, sim, de tornar-se um grande país, se se esquivar de trombar com o poderoso complexo de monopolização da tecnociência que existe hoje no mundo e souber jogar, muito bem, pela margem. Como é isso? Ele mesmo explica.
Queríamos entrevistá-lo para a
revista desde que o senhor lançou, em 2000, Uma Certa Herança Marxista.
Mas naquele momento cobríamos quase que só projetos com apoio da
FAPESP, o que não era o caso.
Teria sido bom. Houve um
silêncio quase absoluto em torno daquele trabalho. Penso que porque,
mesmo mantendo as posições marxistas dialéticas, o ensaio era uma
desmontagem do marxismo fechado. E depois, tenho impressão de que essas
são coisas políticas: na medida em que eu tinha ido para o centro junto
com o Fernando Henrique Cardoso ou coisa assim, fui por muito tempo
considerado traidor. Até o momento em que o Lula também se aproximou da
mesma posição, e agora estou junto com ele no mesmo campo de
concentração.
No livro, o senhor dizia, com outras
palavras, claro, que se o processo de desenvolvimento capitalista
depende essencialmente do desenvolvimento tecnológico, então fica posto
em questão o conceito do valor-trabalho e fica posta em dúvida a idéia
de esgotamento e superação do capitalismo, tal como Marx os concebia no
terceiro volume d’O Capital.
Ele falava disso já no
primeiro volume. Veja bem, a noção do valor-trabalho encontra uma medida
no tempo socialmente necessário para a produção de mercadorias. Mas
esse tempo é um tempo de relógio e, portanto, depende, para ser uma boa
medida, da produtividade do trabalho. Ora, para você chegar a essa
medida, precisa ter processos pelos quais todas as áreas que trabalham
no sistema possam se aproveitar, pelo menos em tese, da mesma tecnologia
ou de um mesmo mix de tecnologias. Mas quando você tem uma
situação em que uma parte do sistema se apropria não só da tecnologia,
mas da capacidade de desenvolvê-la, mudou o sistema. Ou seja, o sistema
capitalista – e isso é banal, porque é sabido desde Adam Smith e Ricardo
– depende essencialmente do desenvolvimento tecnológico. O processo de
exploração está ligado à invenção e construção dos novos produtos. Se
você tem um processo que perturba o mercado, se nesse processo de
desenvolvimento tecnológico, você cria pontos estratégicos quesão pontos
de poder no campo da ciência, então a teoria do valor-trabalho foi para
as cucuias, não é? O que sobra é a sociologia da relação entre
trabalhadores e o capital, que, a meu ver, é muito forte ainda. É uma
relação de poder muito particular, em que se tem um controle do trabalho
alheio, anônimo, feito pelas regras do mercado. Mas, do ponto de vista
econômico, a teoria do valor-trabalho, a meu ver, é peça de museu.
Em
“Feiticeiros do Saber”, sentimos ali certos ecos do primeiro capítulo
d’A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, embora como ironia. Porque logo
no subtítulo do artigo o senhor diz que “os pesquisadores de ponta, nos
dias de hoje, (…) de manhã são pesquisadores; de tarde dirigem uma
pequena empresa de biologia molecular”, o que lembra a afirmação de que a
sociedade comunista “torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã
outra, que cace de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha,
critique depois da ceia…” Era brincar com essa idéia que o senhor
queria?
É, eu não sou um sujeito que fala sério, nunca
digo as coisas sem alguma outra coisa por trás. É uma brincadeira em
relação ao Marx, obviamente, mas também, estou mostrando, de um lado, as
enormes vantagens que existem nessa junção do trabalho intelectual com o
trabalho efetivo de transformação da tecnologia e social, e de outro, a
perda que isso traz para alguns. Afinal de contas eu não serei
empresário, acho que Luiz Henrique [professor de filosofia que participa
da conversa como entrevistador] não será empresário, e nós somos
realmente uma espécie em extinção. Esses pesquisadores isolados, que
vivem nas suas cabanas no Morumbi e assim por diante, estão
desaparecendo.
A contrapartida é que, socialmente falando, essa junção pesquisador/empresário pode ser boa.
Eu não estou negando isso, não. Não estou dando uma de mandarim,
contrário à cultura de massas. Eu não tenho nada com a Escola de
Frankfurt. Pelo contrário. Penso que a sociedade de massas tem defeitos,
alienações absolutamente terríveis, mas tem virtudes inauditas.
Inauditas! Tanto no campo da cultura, como, por exemplo, no campo da
saúde. Não vamos esquecer que as pessoas estão vivendo mais, têm maior
assistência mesmo nos países mais pobres, sofrem menos. Não sou
entusiasta do capitalismo, gostaria que ele fosse diferente, mas prefiro
o capitalismo à brutalidade das sociedades agrárias.
Quando o senhor junta as palavras feiticeiros e saber, qual a intenção?
Outra brincadeira. Se fala muito no fetiche da mercadoria, tá certo? Eu
não ia falar “fetichismo do saber” porque ficaria muito…
Pedante…
Não só pedante. É bom lembrar que fetiche é uma corruptela de feitiço,
então vamos falar a linguagem normal. Acontece que, desde a tradição
clássica, o sábio é aquele que se contrapõe ao feiticeiro, a ciência é
aquilo que se contrapõe ao mito, o cientista é aquele que se contrapõe
ao xamã. Mas a ciência pode também se tornar um fetiche. E isso é uma
das coisas mais terríveis da sociedade de massas: o fato de
desaparecerem os bons ginásios, a boa educação fundamental, de as
pessoas aprenderem de orelhada, usarem os conceitos sem ter noção das
técnicas de aplicação desses conceitos.
Ou seja, apreende-se o saber do mesmo modo como se consomem mercadorias.
Até pior, seria mais como um tóxico mesmo, porque no consumo de
mercadorias pelo menos você digere, alimenta seu corpo. Todo mundo é
capaz de falar sobre o espaço-tempo quando vai ver o filme de Kubrick, e
obviamente isso é uma espécie de faz-de-conta. Se de um lado eu vou a
uma livraria e tenho um monte de bons livros para ler e de bons discos
para ouvir, por outro tenho também uma quantidade fascinante de
porcarias, uma estrebaria de Algias. Tudo é muito ambíguo e não há razão
para ficarmos de dedo em riste dizendo: “Olha!, esse mundo capitalista é
isso e aquilo”! É mesmo ruim, mas também trouxe coisas positivas.
É
de alienação que estamos falando. Não caberia então um trabalho crítico
de superação dessa alienação? O que o senhor pensa disso,
politicamente?
Podemos retomar certas teses marxistas,
mas não podemos retomar a dialética hegeliana, isto é, uma dialética da
superação das contradições, desde que a gente entenda realmente o que
seja uma contradição e entenda que uma unificação dos contraditórios só
pode ser feita no nível do discurso. Essa é uma sentença básica de Hegel
– que a contradição se resolve no nível do discurso. Hegel podia dizer:
bom, ela se resolve no espírito do mundo, porque o mundo é discurso.
Como nós não acreditamos mais nisso, temos que pensar em conviver com a
contradição, como diz o nosso outro dialético de pernas tortas, que é o
Wittgenstein. Ora, conviver com a contradição é tentar explorar essas
partes, digamos, mais criativas, mais vitais, mais móveis e, portanto,
mais angustiantes, e deixar de lado essa parte mais morta, mais
repetitiva, da vida cotidiana. Acho que desaparece a idéia de que nós
podemos ser uma espécie de demiurgos do mundo.
Em seus artigos no Mais, além da crítica de uma situação, há uma certa lamentação pela fetichização da ciência.
O exemplo do que eu estou querendo dizer já está no próprio Comte. De
um lado, temos uma das melhores análises de como funciona o método
científico, que termina no quê? Na invenção de uma nova ciência, a
sociologia, cuja tarefa seria regenerar todo o conhecimento científico.
Na hora em que o comtismo vem com essa idéia de regeneração, com a idéia
de uma política científica e se prostra diante das imagens de Clotilde
de Veau, aí, obviamente, o mesmo movimento que levou a aprofundar o
conhecimento científico termina numa alienação, numa religião, no
fetiche da ciência. Em outras palavras, eu diria o seguinte: é muito
difícil separar os dois processos. Tenho impressão de que a alienação da
ciência é cotidiana.
No primeiro artigo, o senhor
trata de uma certa monopolização, da enorme vantagem econômica e
política obtida por quem, além de saber desenvolver tecnologias, dispõe
de uma máquina poderosa para tornar o mais curto possível o percurso da
descoberta científica ao produto. Reconhece-se aí os Estados Unidos.
Não apenas, há aí também algumas corporações importantes, e não só dos
Estados Unidos. Não estou negando que em uma série de pequenos núcleos
se estejam inventando coisas e conseguindo patentes, isso seria uma
estupidez. Mas quando consideramos o funcionamento global do sistema,
importa a grande corporação.
Nesse processo, que lugar efetivamente resta para um país na periferia do capitalismo?
Bom, eu preciso de um elo aqui. Essas grandes corporações, como
sabemos, são basicamente transnacionais, mas isso não significa que elas
se tornem independentes do Estado ou que o Estado seja inteiramente
massacrado por elas. Ao contrário, a dialética do Estado e das grandes
corporações se alterou. Por quê? Porque há uma espécie de divisão do
trabalho: o Estado faz ciência pura, cuida da formação dos pesquisadores
ou mesmo assegura, não o mercado no sentido antigo, mas pontos
estratégicos no mercado. A guerra recente do Golfo é um exemplo preciso
nesse sentido. Não se ocupa o Iraque da forma tradicional, mas eles
estão lá, definindo como o petróleo vai ser explorado ou não, e daqui a
pouco teremos desenvolvimento científico a partir daí. É inevitável:
novas formas de produzir petróleo, de exploração de minerais, etc. Essas
corporações têm planos de 20 anos. Temos, portanto, uma divisão de
trabalho muito particular entre o Estado e a corporação: ele perde
soberania, mas pode ganhar eficácia e controlar a vida cotidiana de uma
maneira inconcebível 30 anos atrás. Basta lembrar o retrocesso dos
direitos humanos nos Estados Unidos. E isso é feito pelo Estado. É o
Estado que massacra os direitos humanos. A idéia de botar gente
enjaulada em Guantánamo é algo que lembra o totalitarismo.
Mas, insisto, que lugar sobra para um país periférico?
Jogar na margem. Não vejo outra possibilidade. A idéia de que tenhamos
alguma possibilidade de nos confrontar com esse complexo é estapafúrdia,
então só podemos jogar na margem. Mas aí é preciso evitar um perigo
muito grande. Outro dia, numa conferência, ouvi um colega que apresentou
o sistema geral de desenvolvimento do capitalismo moderno, e era um
círculo de tal forma fechado, que não tínhamos jeito, íamos para o
inferno. Na conferência seguinte, do Barros de Castro, do Rio, ele
disse: “Temos saída. Há mercadorias, como os aviões da Embraer, sobre as
quais, além do valor agregado, podemos obter certos prêmios, por causa
de certas vantagens de mercado…” Em outras palavras, o que ele estava
dizendo é algo novo: em vez de propor uma política industrial,
sistemática ou sistêmica, como queria a Cepal, Comissão Econômica para a
América Latina,vamos para uma política de produto. Conforme nossa
inventividade, poderemos ganhar mais ou menos – é essa a nossa questão.
Aliás me desespero quando vejo essas pessoas que ficam dizendo: “Não
tenho nada a fazer”, como se o mundo fosse um sistema laplaciano. Há
coisas a fazer, e se não fizermos as conseqüências serão muito graves.
Vimos a derrocada da Argentina, estamos vendo a coisa pavorosa que é a
África. Mais ainda: sabemos também que nem todo mundo é farinha do mesmo
saco, como pensávamos. Bush ou Clinton, para nós, faz uma enorme
diferença.
Se fizermos as coisas certas, não poderemos abandonar a margem? O senhor não vê essa possibilidade?
A de nós sermos um grande país? Isso será provavelmente a longo prazo e
aí estaremos todos mortos, como dizia Keynes. Mas há um grande problema
nessa situação. Hoje, por exemplo, todo mundo fala da China. A questão é
como se tornar um grande país com democracia. Alguns falam: “Ah, nós
estamos criando uma sociedade de consumo, em que todo mundo está atrás
da última marca de liquidificador, isso é uma monstruosidade!”. É. Só
que, como é que você impede isso dentro de uma democracia? As pessoas
querem consumir. Eu não estou dizendo que a gente deva ter escolas de
consumo. Mas será que não podemos também começar um processo de
diversificação mais criador na educação?
O que o senhor chama de diversificação da educação?
Aqui em São Paulo, nos últimos anos, uma boa parte da elite tem saído
de alguns colégios muito peculiares. Será que não podemos ampliar a
experiência desses colégios para obter um bom ensino médio público, com
professores melhores, equipamentos melhores? Isso é possível, desde que a
escola pública incorpore algo que hoje vem sendo muito denegrido, que é
o sistema do mérito. É preciso lembrar que uma coisa é a democracia
política, outra coisa são instituições baseadas no mérito, onde há
carreira, há seleções, etc.
A experiência dos colégios
de aplicação ligados às universidades públicas não se deram um pouco
por aí? Não eram um espaço de experimentação pedagógica que pudesse ser
repassada para a rede pública?
Sim, e sou favorável,
hoje, à recriação e à multiplicação desses colégios universitários para
realizar políticas de ação afirmativa em relação aos negros e pobres,
criando condições para que eles possam competir neste mundo.
No
segundo artigo no Mais, a sensação que fica é que o senhor, finalmente,
resolveu, em sua crítica ao marxismo, tratar do pessoal da Escola de
Frankfurt.
Que não são marxistas… Bem. Em primeiro
lugar, qual foi o movimento dos frankfurtianos? Dizer que o momento da
revolução passou e que o capitalismo agora não tem nada mais a ver com
as leis econômicas, que as leis econômicas foram de tal forma
subvertidas que não dá para tirar delas uma crítica das relações
econômicas no capitalismo. Mas quando digo que a questão hoje é de
monopólio da invenção tecnológica, estou introduzindo uma noção
econômica, que é a noção do monopólio. Portanto, a diferença é crucial.
Em segundo lugar, os frankfurtianos disseram: “Bom, se não é através de
uma crítica da economia, vamos fazer uma crítica da cultura, ok”?
Fizeram. E essa crítica da cultura foi feita na base de uma teoria do
conceito, no caso de Adorno e Horkheimer, ou de uma teoria dos sistemas
lingüísticos, no caso de Habermas. Só que a teoria do conceito de
Adorno, a meu ver, é muito fraca! Por exemplo: a noção de
esclarecimento, que é a tradução de Erklärung, eu a entendoquando se
refere ao movimento iluminista, porque aí ela é descritiva. Mas
quandovocê diz que Erklärung é iluminação e ilustração, razão não
alienada, penso que isso nada mais é do que redefinir arbitrariamente a
razão do seu aspecto dinâmico. E depois, é só pegar exemplos para dizer
“isto é movimento da razão” ou “isto não é movimento da razão”, “isto
aqui está criando uma dialética da anti-razão”. Muito cômodo, não é?
O senhor tocou, no artigo, também na questão da separação entre razão objetiva e razão subjetiva.
Porque na crítica desse pessoal todo torna-se fundamental separar uma
razão técnica de uma outra razão substantiva. Desculpe, eu nunca vi
razão técnica! Até conheço razão técnica no trabalho, na base do, bom,
eu tenho tal objetivo e, então, eu faço uma análise racional dos meios.
Mas você já viu algum processo social em que se tenha os fins
predeterminados e os meios que a gente analisa racionalmente? Não vejo.
Você vê em algum trabalho científico esse processo, em que você tem uma
hipótese e depois vai racionalizar os meios? Nunca vi, porque isso é
pura fantasia. E é mesmo um problema muito sério, porque esse pessoal
sempre pensa o conceito como se ele não precisasse de uma alteridade
opaca para poder funcionar – um conjunto de objetos e práticas implicada
na técnica de aplicação do conceito.
O senhor levanta
mais um problema quando diz que é preciso reconhecer que há uma crise,
cujas raízes se encontram no modo de produção das ciências
contemporâneas ligado às novas formas da sociabilidade capitalista.
Estou inclusive voltando a uma posição mais marxista, dizendo: olha, a
questão não é de dualidade da razão, a questão é a maneira pela qual o
capitalismo está se apropriando desse complexo absolutamente
extraordinário, que ele mesmo criou, de ciência e tecnologia. Então o
problema é como vamos democratizar esse complexo. Como fazer com que a
ciência volte a ser feita em benefício da humanidade, o que hoje não
acontece. Basta pensar, por exemplo, que a pesquisa de doenças tropicais
tem um desenvolvimento muito inferior a das doenças que afetam os
países ricos.
E há algo a ser feito no âmbito dos
próprios pesquisadores, das agências, de todo esse sistema de produção
de ciência e tecnologia?
Acho que é óbvio que há.
Olha, quando temos centralização e esclerose, só há um remédio, que é o
liberal: multiplicar os pontos de poder. Hoje a universidade é cada vez
mais monolítica, portanto, é preciso desfazer seu caráter pétreo. A
universidade hoje está muito engraçada, querendo formar um sistema
autônomo, quando ela não o é mais, quando as fundações a furaram de
todos os lados. E, de outro lado, temos também as agências de fomento,
que são hoje não só locais de financiamento à pesquisa, mas de indução
de pesquisa. Afinal de contas, o Programa Genoma não foi uma
brincadeira. Não só induziu-se pesquisa, mas se criou uma rede de
laboratórios, criou-se um ritmo novo na produção da ciência e da
tecnologia no Brasil. Isso pode ser feito.
Insistindo ainda na democratização…
Vou dar um exemplo do que significa democratização: hoje são os bancos
centrais que estabelecem as políticas de câmbio e cuidam da moeda e cada
vez mais eles tentam ser autônomos. Autônomo em relação a quê? Se for
ele dependente do sistema político como este está, então é melhor que
seja autônomo, porque senão não teremos moeda. Mas seria muito bom que
tivéssemos um controle democrático do Banco Central, em que houvesse uma
forma de obrigá-lo a prestar contas a uma série de instituições. Então,
veja bem como a ideologia política contemporânea funciona: ou você
junta tudo no Estado, e ele fica inteiramente controlador, ou você
simplesmente quer uma espécie de liberalismoque isola asinstituições sem
que elas sejam irrigadas por outros sistemas. Sou inteiramente
favorável à autonomia controlada do Banco Central.
Traduzindo isso para a ciência, o que nós devíamos ter?
Devíamos ter um sistema em que as universidades tenham um controle
externo. Controle da sociedade, representada por sindicatos de
trabalhadores, sindicatos patronais, estudantes… não vejo aí problema
nenhum. Além disso, um sistema em que as fundações universitárias sejam
transparentes.
A julgar por seus artigos recentes, o
senhor tem se debruçado sobre questões do conhecimento, da tecnociência e
da arte. Como se reúnem todas essas partes?
No fundo,
todos esses temas com que eu estou trabalhando são aspectos do mesmo
problema, que é o da racionalidade. Estou pensando como é que você
julga. O que é o juízo estético, moral ou científico. E estou muito mais
interessado em tratar da questão da crise da razão que é mostrar como, a
despeito de a razão funcionar, tem necessidade de zonas cinzentas, de
indefinição. Isso, aliás, é a vantagem do conhecimento científico, da
arte ou da moral, e não o contrário. A moral que seja absolutamente
determinante não está levando em conta a experiência moral
contemporânea, em que se convive com sistemas morais diferentes, com
pessoas que acreditam e seguem normas diferentes. E quando se decidiu
que temos um conflito eterno, isso não é verdade, porque no caso da
ética médica, por exemplo, as coisas se resolvem de uma maneira muito
interessante: pessoas com éticas diversas e sem estabelecerem um
consenso definido, cedem daqui e dali, e a coisa se resolve. Isto é, na
hora em que você institucionaliza a diferença, pode continuar a ter
instituições racionalizantes, sem que seja necessário apelar a uma razão
monolítica, uma razão iluminista. Estou querendo mostrar que é possível
a razão conviver com a sua sombra. Mais ainda: estou querendo mostrar
que a razão necessita dessas sombras para poder se desenvolver.
Luiz Henrique Lopes dos Santos, Mariluce Moura e Neldson Marcolin Edição 89 jul. 2003
Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/jogando-na-margem/
Wow amazing blog, very rare to find this. Please also check paramedic in india
ResponderExcluir