Por GIORGIO AGAMBEN*
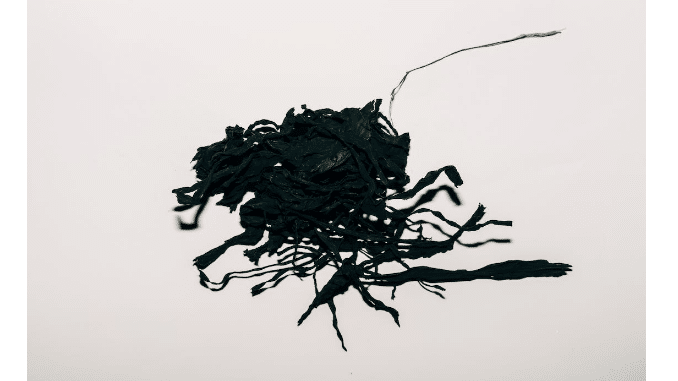
O filósofo italiano discute questões filosóficas e políticas que afetam todo o Ocidente
Perdoa-nos as nossas dívidas
A oração por excelência – aquela que o próprio Jesus nos ditou (“rezais assim”) – contém uma passagem que o nosso tempo se esforça a todo o custo para contradizer e que, por isso, será bom recordar, precisamente hoje que tudo parece estar se reduzindo a uma feroz lei de duas faces: crédito/débito. Dimitte nobis debita nostra… “perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores”.
O original grego é ainda mais peremptório: aphes emin ta opheilemata emon, “deixe ir, remova nossas dívidas de nós”. Refletindo sobre essas palavras em 1941, em plena guerra mundial, um grande jurista italiano, Francesco Carnelutti, observa que, se for uma verdade do mundo físico que não se pode apagar aquilo que aconteceu, o mesmo não se pode dizer do mundo moral, que se define precisamente pela possibilidade de remitir e perdoar.
É necessário, em primeiro lugar, dissipar o preconceito de que a dívida é uma lei genuinamente econômica. Mesmo prescindindo do problema do que se entende quando se fala de uma “lei” econômica, uma sumária investigação genealógica mostra que a origem do conceito de dívida não é econômica, mas jurídica e religiosa – duas dimensões que, quanto mais se remonta à pré-história, tanto mais tendem a se confundir. Se, como demonstrou Carl Schmitt, a noção de Schuld, que em alemão significa dívida e culpa, está na base do edifício do direito, não menos convincente é a intuição de um grande historiador das religiões, David Flüsser.
Um dia, enquanto ele estava refletindo em uma praça de Atenas sobre o significado da palavra pistis, termo que nos Evangelhos significa “fé”, viu à sua frente a inscrição trapeza tes pisteos em letras garrafais. Não demorou muito para ele perceber que estava diante de uma placa de banco (Banco di Crédito) e ao mesmo tempo entender que o significado da palavra sobre a qual estava refletindo há anos tinha a ver com crédito – o crédito que desfrutamos com Deus e que Deus desfruta conosco, visto que cremos nele. Para estes, Paulo pode dizer em uma famosa definição que “a fé é a substância de coisas esperadas”: é o que dá realidade àquilo que ainda não existe, mas no qual acreditamos e confiamos, no qual apostamos nosso crédito e a nossa palavra. Algo como um crédito existe apenas na medida em que nossa fé consegue dar-lhe substância.
O mundo no qual vivemos hoje se apropriou desse conceito jurídico e religioso e o transformou em um dispositivo letal e implacável, diante do qual toda necessidade humana deve se curvar. Este dispositivo, no qual foi capturado toda a nossa pistis, toda a nossa fé, é o dinheiro, entendido como a própria forma de crédito/débito. O Banco – com seus sombrios funcionários e especialistas – tomou lugar da Igreja e de seus padres e, governando o crédito, manipula e administra a fé – a escassa, incerta confiança – que nosso tempo ainda tem em si mesmo.
E o faz do modo mais irresponsável e sem escrúpulos, tentando ganhar dinheiro com a confiança e as esperanças dos seres humanos, estabelecendo o crédito do qual cada um pode usufruir e o preço que deve pagar por ele (mesmo o crédito dos Estados, que docemente abdicaram de sua soberania). Assim, ao governar o crédito, governa não só o mundo, mas também o futuro dos homens, um futuro que a emergência quer cada vez mais curto e com data de vencimento. E se hoje a política não parece mais possível, é porque o poder financeiro confiscou de fato toda a fé e todo o futuro, todo o tempo e todas as expectativas.
A assim chamada emergência que estamos atravessando – mas o que se chama emergência, isso já está claro, é apenas o modo normal como o capitalismo de hoje funciona – começou com uma série de operações de crédito imprudentes, sobre créditos que eram descontados e revendidos dezenas de vezes antes que pudessem ser feitos. Isso significa, em outras palavras, que o capitalismo financeiro – e os bancos que são seu principal órgão – funciona brincando com o crédito – ou seja, com a fé – dos homens.
Se hoje um governo – na Itália como em outros lugares – realmente quer se mover em uma direção diferente daquela que se procura impor em todos os lugares, é sobretudo o dispositivo dinheiro/crédito/dívida que deve resolutamente questionar como sistema de governo. Só assim uma política voltará a ser possível – uma política que não aceite ser estrangulada pelo falso dogma – pseudo-religioso e não econômico – da dívida universal e irrevogável e devolva aos homens a memória e a fé nas palavras que tantas vezes recitaram quando crianças: “perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores”.
A técnica e o governo
Algumas das mentes mais perspicazes do século XX concordaram em identificar o desafio político do nosso tempo com a capacidade de governar o desenvolvimento tecnológico. “A questão decisiva”, foi escrito, “é como um sistema político, seja ele qual for, pode ser hoje adequado à era da técnica. Não sei a resposta para este problema. Não estou convencido de que seja a democracia”. Outros compararam o controle da tecnologia aos trabalhos de um novo Hércules: “aqueles que conseguirem submeter a técnica escapada de todo controle e inseri-la em uma ordem concreta terão respondido aos problemas do presente muito mais do que aqueles que com os meios da técnica buscam pousar na Lua ou em Marte”.
O fato é que os poderes que parecem guiar e usar o desenvolvimento tecnológico para seus próprios fins são, na verdade, mais ou menos de modo inconsciente guiados por ele. Tanto os regimes mais totalitários, como o fascismo e o bolchevismo, quanto os ditos democráticos compartilham dessa incapacidade de governar a técnica a tal ponto que acabam se transformando quase inadvertidamente na direção exigida pelas próprias tecnologias que acreditavam usar para seus próprios fins.
Um cientista que deu uma nova formulação à teoria da evolução, Lodewijk Bolk, viu, assim, na hipertrofia do desenvolvimento tecnológico um perigo mortal para a sobrevivência da espécie humana. O desenvolvimento crescente das tecnologias científicas e sociais produz, de fato, uma verdadeira e real inibição da vitalidade, para a qual “quanto mais a humanidade avança no caminho da técnica, mais ela se aproxima daquele ponto fatal, cujo progresso significará destruição. E, certamente, não é da natureza do homem deter-se nisso”. Um exemplo instrutivo é fornecido pela tecnologia dos armamentos, que produziu dispositivos, cujo uso implica a destruição da vida na terra – portanto, também daqueles que os possuem e que, como vemos hoje, continuam, apesar disso, ameaçando usá-los.
É possível, então, que a incapacidade de governar a técnica esteja inscrita no próprio conceito de “governo”, ou seja, na ideia de que a política esteja na própria natureza cibernética, quer dizer, a arte de “governar” (kybernes é em grego o piloto do navio) a vida dos seres humanos e seus bens. A técnica não pode ser governada porque é a própria forma da governamentalidade. Aquela que foi tradicionalmente interpretada – da escolástica até Spengler – como a natureza essencialmente instrumental da técnica revela a natureza inerente de uma instrumentalidade em nossa concepção de política.
Aqui, é decisiva a ideia de que a ferramenta tecnológica seja algo que, operando de acordo com a própria finalidade, pode ser utilizada para fins de um agente externo. Como mostra o exemplo do machado, que corta em virtude de sua lâmina afiada, mas é usado pelo carpinteiro para fazer uma mesa, assim a ferramenta técnica pode servir para um propósito alheio, só na medida em que atinge o seu. Em última instância, isso significa – como é evidente nos dispositivos tecnológicos mais avançados – que a técnica atinge seu próprio fim, servindo-se, aparentemente, de um fim alheio.
No mesmo sentido, a política, entendida como oikonomia e governo, é aquela operação que atinge um fim que parece transcendê-la, mas que na realidade lhe é imanente. Política e técnica se identificam, isto é, sem resíduos e um controle político da técnica não será possível até que tenhamos abandonado nossa concepção instrumental, quer dizer, governamental, da política.
O lugar da política
As forças que impulsionam na direção de uma unidade política mundial pareciam de tal modo mais fortes do que aquelas dirigidas para uma unidade política mais limitada, como a europeia, que se pôde escrever que a unidade da Europa poderia ser apenas “um produto colateral, para não dizer de descarte, da unidade global do planeta”. Na realidade, as forças que impulsionam para a realização da unidade revelaram-se igualmente insuficientes para o planeta e para a Europa.
Se a unidade europeia, para dar vida a uma verdadeira Assembleia constituinte, teria pressuposto algo como um “patriotismo europeu”, que não existia em lugar nenhum (e a primeira consequência foi o fracasso dos referendos para a aprovação da chamada constituição europeia que, do ponto de vista jurídico, não é uma constituição, mas apenas um acordo entre Estados), a unidade política do planeta pressupunha um “patriotismo da espécie e/ou do gênero humano” ainda mais difícil de encontrar. Como Gilson oportunamente recordou, uma sociedade de sociedades políticas não pode ser ela mesma política, mas precisa de um princípio metapolítico, como foi, pelo menos no passado, a religião.
É possível, então, que aquilo que os governos tentaram realizar por meio da pandemia seja mesmo um tal “patriotismo da espécie”. Mas puderam fazê-lo apenas parodicamente na forma do terror partilhado diante de um inimigo invisível, cujo resultado foi não a produção de uma pátria e de laços comunitários, mas sim de uma massa fundada em uma separação sem precedentes, demonstrando que a distância não podia, em nenhuma circunstância – como pretendia uma odiosa palavra de ordem obsessivamente repetida –, constituir um vínculo “social”.
Aparentemente, foi mais eficaz o recurso de um princípio capaz de substituir a religião, que logo foi identificado na ciência (neste caso, a medicina). Mas também aqui a medicina como religião mostrou sua inadequação, não tão-somente porque em troca da salvação de toda uma existência só podia prometer a cura das doenças, mas também e sobretudo porque, para se afirmar como religião, a medicina teve que produzir um estado de ameaça incessante e de insegurança, no qual vírus e pandemias se sucediam sem trégua e nenhuma vacina garantia aquela serenidade que os sacramentos tinham sido capazes de assegurar aos fiéis.
O projeto de criar um patriotismo da espécie fracassou de tal maneira que acabou por ser necessário, mais uma vez e descaradamente, recorrer à criação de um inimigo político determinado, identificado não por acaso entre aqueles que já haviam desempenhado esse papel: a Rússia, China, Irã.
A cultura política do Ocidente não deu, nesse sentido, um único passo em uma direção diferente daquela para a qual sempre tinha se movido e somente se todos os princípios e valores nos quais ela se baseia forem questionados será possível pensar o lugar da política de outra maneira, para além tanto dos Estados-nação quanto do estado econômico global.
*Giorgio Agamben dirigiu o Collège international de philosophie, em Paris. Autor, entre outros livros, de O que é a filosofia? (Boitempo).
Tradução: Juliana Hass.
Publicado originalmente no site Quodlibet
Fonte: https://aterraeredonda.com.br/tres-textos-curtos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=novas_publicacoes&utm_term=2023-02-08
Nenhum comentário:
Postar um comentário