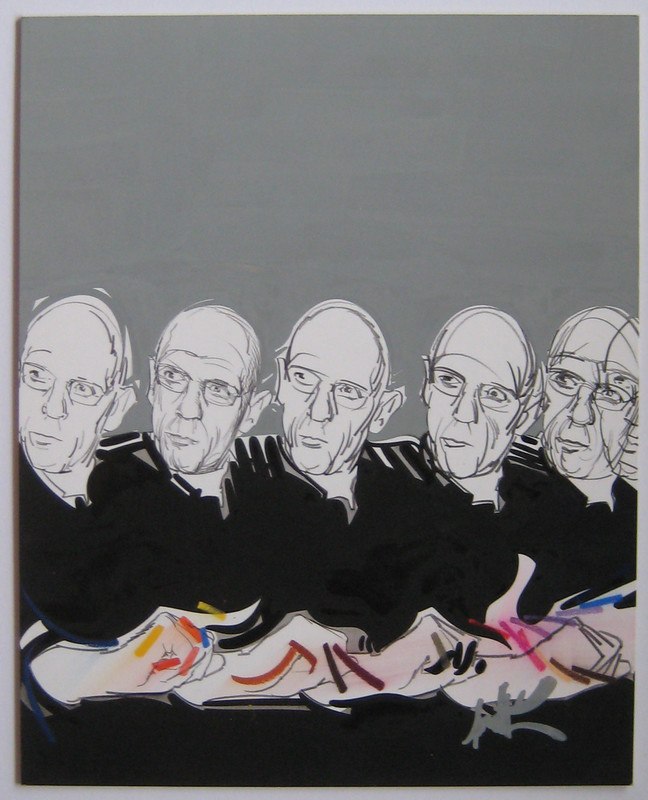
Ao denunciar os micropoderes, o pensador francês propôs outras subjetividades. Mas, ao se debruçar sobre o emergente neoliberalismo, viu-o plural, alternativa à subjugação do Estado – e deu brecha à implosão das ações coletivas
Daniel Zamora em entrevista Kévin Boucaud-Victoire, no Le Comptoir, traduzida pelo IHU Online
Em Le dernier homme et la fin de la révolution: Foucault après Mai 68 [O último homem e o fim da revolução: Foucault após maio de 68] (Montreal: Lux, 2019) [tradução para o inglês: The Last Man Takes LSD. Foucault and the End of Revolution. Londres: Verso, 2021], coescrito com Mitchell Dean, Daniel Zamora revê a análise do neoliberalismo por Michel Foucault, particularmente em seus cursos no Collège de France em 1977 e 1979, publicados em Naissance de la biopolitique [Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008]. Seria o filósofo um neoliberal “de esquerda”? As coisas podem ser um pouco mais complexas.
Eis a entrevista
Os herdeiros autoproclamados de Foucault são bastante variados, de libertários de esquerda a executivos da Medef [Mouvement des entreprises de France, a federação do patronato francês], incluindo social-democratas e os remanescentes da “segunda esquerda” [trotskistas, maoístas e outros radicais que nos anos 60 não se alinhavam com o Partido Comunista Francês]. Como explicar isso? Como localizar Foucault?
Creio que há, antes de mais nada, o reflexo pouco heterodoxo de alguns intelectuais de arrimar sua própria agenda política na do filósofo. Colocar-se sob a autoridade de uma grande figura da vida intelectual para legitimar seu ponto de vista particular é prática recorrente. Ela atingiu, entretanto, um grau particularmente delirante no caso de Foucault. Contextualizar seu trabalho de forma mais elementar é difícil na França. É preciso se perguntar o que explicaria por que, atualmente, os trabalhos mais estimulantes sobre a história intelectual francesa do seu período são frequentemente realizados por pesquisadores anglo-saxões, como Michael Behrent ou Michael Scott Christofferson. É preciso se perguntar também por que razões a associação de Foucault com os nouveaux philosophes (“novos filósofos”) ou a “segunda esquerda” é algo de que não se ouve.
É um tanto irônico que um autoproclamado “historiador do presente” seja agora lido e interpretado em completa abstração com o presente que lhe dizia respeito. Aqueles que hoje gostam de reivindicá-lo preferem conformar um personagem de acordo com suas próprias expectativas.
Num sentido mais básico, creio que essa imensa diversidade também decorre em parte da maneira como o próprio Foucault apresentou seu trabalho. Ele jamais buscou construir um sistema de pensamento ou uma grande teoria do social, definindo-se, de forma mais geral, como um “experimentador”. Os textos ou conceitos que podem ter contado em sua vida só o interessavam como formas de questionar seu presente. Ele pôde então se dizer “estruturalista”, conviver com o maoísmo da esquerda proletária ou, mais tarde, mobilizar as ideias do neoliberalismo na sua luta contra tudo o que inculcaria no indivíduo uma específica concepção de si mesmo. É daí que vem sua famosa metáfora em que compara seus livros a “caixas de ferramentas” que alguém poderia mobilizar à vontade. Essa perspectiva, no entanto, tem seus limites.
Um conceito nunca é totalmente independente do contexto e dos objetivos que o viram surgir. Ele permanece sempre parcialmente prisioneiro da sua arquitetura. Pode-se então questionar a relevância dos encantamentos incessantes que visam, por exemplo, conciliar, em uma grande síntese, Marx com Foucault, quando, no final da sua vida, esse último buscou justamente “se livrar” do marxismo. E o mesmo vale para aqueles que fizeram dele um pensador hostil ao neoliberalismo.
O que a análise de Foucault sobre o neoliberalismo aporta?
Sua análise é notável na medida em que se constitui como uma das primeiras tentativas de estudo cuidadoso do neoliberalismo como um coletivo de pensamento. Tanto pelo que o une como pelas grandes diferenças que nele coexistem. Esquece-se com frequência que entre Friedman e Hayek existem abismos intelectuais. Foi preciso esperar até a década de 1990 para ver o surgimento de trabalhos mais minuciosos a propósito da história intelectual e da análise do neoliberalismo. Foucault nos oferece já então uma das primeiras interpretações estimulantes dos seus principais conceitos e perspectivas.
Ele o distingue particularmente do liberalismo clássico por não ser um “laissez-faire”, mas, ao contrário, uma política ativa de construção de mercado. Não haveria por um lado o domínio do Estado e, por outro, o jogo livre do mercado. Foucault nota, muito apropriadamente, que, entre os neoliberais austríacos, o fracasso do liberalismo econômico do século XIX os levou a conceber sua doutrina como uma construção ativa e conscienciosa de um mercado que não tem, por conseguinte, nada de natural. “Não vai haver o jogo de um mercado que deva ser deixado livre”― explica ele em suas aulas ― “pois justamente o mercado, ou melhor, a concorrência pura, que é a própria essência do mercado, só pode surgir se for produzida, e se for produzida por uma governamentalidade [1] ativa”.
Um outro elemento interessante de análise, desta vez no que se refere sobretudo ao neoliberalismo norte-americano, é o fato de ele concebe essa nova governamentalidade neoliberal como “ambiental”. Ela não teria por objetivo produzir subjetividades, mas estimular os indivíduos a agirem de certas maneiras, operando essencialmente sobre seu ambiente econômico. O neoliberalismo como “tecnologia ambiental”, diz ele em suas aulas, anuncia um “recuo maciço do sistema normativo-disciplinar”. Foucault nota que, para alguém como Gary Becker, o crime deve ser tratado como algo que opera sobre incentivos econômicos e não pela conformação de subjetividades criminosas. Da perspectiva neoliberal, o criminoso é tão apenas uma pessoa cujo cálculo de custo-benefício se inclina para o crime.
O objetivo da ação econômica é, portanto, modificar essas variáveis para reduzir “de forma otimizada” o “interesse” no crime. Foucault, portanto, entende o neoliberalismo não como uma subtração do Estado, mas como uma subtração das suas técnicas de subjugação. Ele não buscaria nos atribuir uma certa identidade, mas simplesmente agir sobre nosso ambiente.
Para o principal pensador das técnicas de padronização modernas, isso não é pouca coisa! Essa análise explica a profunda conexão entre a implantação do neoliberalismo como forma de governamentalidade na França de meados da década de 1970 e a promoção, por Foucault, da invenção de novas subjetividades. Longe de se oporem, os dois caminham, a seu ver, de mãos dadas. Mais aberto ao pluralismo, o neoliberalismo, portanto, parece oferecer uma estrutura menos restritiva para a proliferação de experimentos minoritários.
Tudo isso, entretanto, constitui menos uma crítica ao neoliberalismo do que uma forma de tornar inteligível sua racionalidade. No que respeita a isso, não é sem importância que Gary Becker, um dos pais do neoliberalismo norte-americano, se encontrasse em perfeito acordo com a análise de Foucault a respeito dos seus próprios textos. Criticar o neoliberalismo deve consistir, assim, não em transcrever a imagem que ele faz de si mesmo, mas, ao contrário, em desfazer a mitologia que ele construiu para si.
A análise de Foucault sobre o neoliberalismo parece rigorosamente ignorar a experiência de Pinochet, iniciada em 1973, e o fato de que essa “governamentalidade” pode se acomodar ao autoritarismo. Ela parece estranhamente a-histórica.
Trata-se de fato uma escolha deliberada de Foucault. Mesmo que Thatcher e Reagan não estivessem ainda no poder à época, já se podia, no entanto, perceber os traços conservadores que recobrem essa conquista política. Assim, Foucault conhecia bem a política de Ronald Reagan, então governador da Califórnia, que ele visitava regularmente desde meados da década de 1970. E a associação de Milton Friedman à campanha do hiperconservador republicano Barry Goldwater, durante a eleição presidencial de 1964, provavelmente não lhe escapou de vista.
Creio, no entanto, que sua análise ainda se situa historicamente, só que, antes de mais nada, no contexto francês. Para entendê-la, é preciso colocá-la, antes, no contexto da oposição crescente dos intelectuais ao programa de união da esquerda e do socialismo do pós-guerra. E, em seguida, como participante das reflexões carreadas pela “segunda esquerda” na França, organizadas em torno de figuras como Michel Rocard no PS ou Pierre Rosanvallon na CFDT [Confédération française démocratique du travail: uma das cinco confederações sindicais reconhecidas como representativas]. Nessa configuração, em que parte da esquerda se questiona sobre seu futuro, Foucault consequentemente não vê o neoliberalismo como um contraponto, mas procura fazer dele, para citar Serge Audier, um “uso inteligente”, para suscitar uma alternativa ao socialismo real.
Ele se interessa então pelo neoliberalismo como “governamentalidade”, como forma de pensar a política, antes que como uma agenda econômica. Esse uso do neoliberalismo é motivado igualmente, na França, pelo contexto muito específico das políticas conduzidas por Valéry Giscard d’Estaing. Foucault vê o desenvolvimento do neoliberalismo na França, no governo de Giscard, como um ponto de ruptura da clássica divisão “esquerda e direita”. Na verdade, ele observa, como Serge Audier notou bastante bem, as excelentes relações que Giscard mantém com os socialistas do SPD alemão de Helmut Schmidt. É preciso lembrar que, antes de uma virada mais conservadora em 1976, sua presidência foi marcada pela descriminalização do aborto, pela instituição do regime de visita a presidiários, pelo fim da censura, e também pela redução da idade legal para votar. O neoliberalismo não é então percebido no quadro estrito da oposição esquerda e direita, mas como uma governamentalidade pronta para redesenhar a maneira como se pensa a própria política.
Foucault percebe gaullistas e comunistas como inseridos no campo “social-estatista”, para usar a terminologia da “segunda esquerda”, enquanto os partidários de Giscard d’Estaing e de Michel Rocard parecem esboçar um campo menos centrado no Estado, opondo-lhe as virtudes da sociedade civil e do empreendedorismo. É esse aspecto, ademais, que Geoffroy de Lagasnerie ou Christian Laval parecem ignorar completamente em seus trabalhos. Foucault não busca reinventar a esquerda ou questionar o neoliberalismo a partir do vazio, mas, no contexto político que lhe era próprio, chamar o debate, particularmente com a “segunda esquerda”.
Nesse sentido, a análise de Foucault não seria puramente teórica?
De fato. Por mais que Lagasnerie tenha razão em ver nesses cursos não uma denúncia, mas justamente um experimento intelectual, esse experimento visava questionar o seu, e não o nosso presente. Num contexto em que ele pensa que as questões de desigualdade ou exploração estão resolvidas em termos globais, e onde a ideia de revolução está ultrapassada, é a autonomia dos indivíduos que está em jogo. Se o poder não precisa mais ser “tomado”, é necessário criar, no seu seio, espaços onde os indivíduos possam se reinventar e vivenciar outras formas de existência. A crítica então se concentra sobre todos esses dispositivos de subjugação, a partir de coisas como previdência social, escola, justiça, etc. Ela deveria nos permitir, para usar sua famosa frase em referência ao Iluminismo, “não ser tão governados”.
Como o poder é onipresente, o pensamento de Foucault não pretende “libertar” o indivíduo dele, mas aumentar sua autonomia. Nesse sentido, se a mudança deve se fazer antes de tudo pela proliferação de experimentos minoritários, essa governamentalidade “ambiental” neoliberal pode, a seu ver, ampliar os espaços de autonomia no âmbito do poder, emancipados da normatividade “social-estatista”.
Essa ideia, aliás, não se restringe a Foucault. Nesse mesmo contexto, é de se recordar a proposição de André Gorz sobre o neoliberalismo. No Nouvel Observateur, ele escrevia, sob o pseudônimo de Michel Bosquet, que “se o giscardismo conseguir desengajar o poder central e liberar novos espaços onde se possa exercer a iniciativa coletiva, por que não aproveitá-lo?”. Se Giscard é neoliberal, acrescenta, “não quer dizer que a liberalização da sociedade seja necessariamente um projeto de direita”. Ele continua, enfatizando que “por toda Europa há hoje, entre neoliberais e neossocialistas trocas e osmoses parciais” [2]. Para Gorz, como para Foucault, o neoliberalismo não constitui uma solução, mas abre perspectivas para investir nesse espaço libertado do Estado, por meio de outros tipos de experiência. Evidentemente, seu diagnóstico não se confirmou, e todas essas porções “liberadas” do Estado pelas políticas neoliberais não conduziram a uma política de emancipação. O desinvestimento do Estado não levou à proliferação de espaços autônomos, e o discurso da autonomia paradoxalmente transformou o Estado social em uma máquina de “ativação” mais disciplinar do que emancipadora. Mas isso é outra história…
Foucault não acredita na revolução, mas sim nas microrresistências quotidianas e na necessidade de “inventar [a sua] vida”. Além disso, ele pensa que a “relação de si para si” é o “primeiro e último” foco de “resistência ao poder político”.
Por muito tempo, Foucault não ofereceu realmente nenhuma perspectiva a propósito da transformação social. Ele desenhou retratos deslumbrantes dos dispositivos de padronização, do poder, da disciplina dos corpos, etc. Mas a resistência geralmente estava ausente. Seu objeto era consideravelmente passivo, incapaz de responder ao poder. É apenas ao longo da sua última década, penso eu, por meio de sua atenção às técnicas de si, que ele começa a dar uma maior autonomia ao sujeito. O poder então emerge lentamente como uma mistura entre técnicas de coação e técnicas de si, por meio das quais o sujeito se constitui. Poder e resistência são agora as duas faces da mesma moeda. A relação consigo mesmo se torna então um espaço potencial de liberdade e autonomia, que os indivíduos podem mobilizar contra o poder.
Nesse contexto, a resistência em Foucault não assume mais a cara dos movimentos sociais ou da luta de classes. Ela é o resultado ― disse ele a propósito de um fórum organizado por Pierre Rosanvallon em 1977 ― “de uma preocupação individual, moral” [3]. Não se trata mais de “tomar” o poder ou de transformar o mundo no sentido clássico, mas, escreve ele, de “mudar nossa subjetividade, nossa relação conosco” [4]. A questão do modelo de sociedade é assim substituída pela forma como deveríamos viver em sociedade. Foucault propõe uma “arte”, uma “estilização” dos modos de vida, antes que uma estratégia política. Mudar a si mesmo pode estar agora na origem do que Deleuze chamará de “revoluções moleculares”, modificando a sociedade por baixo. Em outras palavras, é a ética que agora toma o lugar da política.
Desnecessário dizer que esse ponto de inflexão terá desdobramentos mais do que ambíguos durante as décadas que se seguirão à sua morte em junho de 1984. Ao situar a resistência, por excelência, na relação consigo mesmo, Foucault reduz substancialmente o escopo da crítica social. Ela [essa “resistência”], paradoxalmente, mantém fora de alcance as estruturas econômicas e políticas que moldam exatamente o quadro em que aquela “relação consigo mesmo” é vivenciada. As questões em torno da exploração, da divisão desigual do trabalho (agora em escala planetária) ou das desigualdades econômicas desaparecem, e parecem se tornar totalmente inacessíveis pela via dessas “microrresistências”.
Na verdade, a ideia de que revoluções “moleculares” descentralizadas poderiam de alguma forma conduzir a grandes efeitos agregados tem se mostrado completamente irrealista quando aplicada às relações econômicas. Se se quizer polemizar, pode-se inclusive questionar a imbricação que tal visão guarda com o neoliberalismo. “Não se esqueça de inventar sua vida”, concluiu Foucault no início da década de 1980. Essa perspectiva, surpreendentemente, não ressoaria a recomendação de Gary Becker de nos tornarmos “empreendedores de nós mesmos”?
No fundo, você se junta à crítica de Murray Bookchin ao “anarchism lifestyle” [“estilo de vida anarquista”]…
Bookchin tem toda razão de ver naquilo que chama de “insurgências pessoais” de Foucault uma espécie de guerrilha permanente que parece sempre fadada ao fracasso; ou que, pelo menos, parece impedir qualquer reflexão sobre como inventar outras formas institucionais de organização de nossa existência.
A principal limitação desta perspectiva é, parece-me, que ela pressupõe que o capitalismo e o poder repousam sobre uma ampla gama de micropoderes que operam nas relações sexuais, escolas, estruturas familiares, conhecimento, ciência, etc. Nessa perspectiva, o Estado, por exemplo, parece então ser não mais que o arcabouço mais geral de um conjunto de relações operando em escalas menores. Esboça-se então a estratégia de subverter o Estado e o capitalismo não os atacando frontalmente, mas atuando nesse nível micro, ou seja, na “vida cotidiana”. Seria, assim, possível transformar a partir de dentro, pela estilização da existência, pela criação de espaços de experimentação, todo o edifício social.
A ideia era de que, no fundo, o capitalismo está, por natureza, ligado a alguma forma de organização social e cultural, que para se reproduzir imporia como necessária, por exemplo, a organização patriarcal da família. No entanto, a história tem mostrado antes que, se o capitalismo pode mobilizar tais estruturas, pode também acomodar, e até mesmo promover, outros modos de vida ou estruturas familiares. Ele faz deles excelentes mercados a conquistar [5].
No fundo, o “tudo é político” de maio de 68 certamente permitiu questionar um amplo leque de relações de poder até então invisibilizadas. No entanto, e paradoxalmente, ele também acompanhou uma batida em retirada da ação coletiva, e agora surge, antes que tudo, como símbolo de uma derrota histórica, e não como uma nova forma de revolução. Quando as grandes variáveis macroeconômicas nos parecem inacessíveis, recair na relação consigo mesmo ou na transformação da linguagem é meio que fazer da necessidade uma virtude.
Este tipo de conceituação conduziu a toda forma de pseudocontestações, como a “TAZ” (temporary automous zone: zona autônoma temporária) de Hakim Bey, onde um happening em uma galeria de arte de prestígio pode constituir um espaço “temporariamente” autônomo. Pensemos também em todas as variantes, ainda muito populares, de modos alternativos de consumo e intervenção, que supostamente nos salvariam do desastre por meio da ética individual que lhes corresponde [6].
Você concordaria com Jean-Claude Michéa quando afirma que Foucault é o complemento cultural de Hayek, Friedman e Gary Becker?
Eu diria que, mais do que um “complemento” para Hayek e Friedman, o problema de Foucault é que ele implicitamente tornou sua a representação que eles fizeram do mercado: a de um espaço menos normativo, menos coercitivo e mais tolerante para as experiências das minorias do que o do Estado de bem-estar, sujeito à lei da maioria. Friedman gostava de repetir que “a urna produz conformidade sem unanimidade” e “o mercado, a unanimidade sem conformidade”. Em seu modo de ver, o mercado era, por definição, um mecanismo mais democrático do que a deliberação política, na medida em que protegeria a pluralidade de preferências individuais.
Implicitamente, creio que Foucault participou da disseminação dessa falsa dicotomia. Com isso, não quero dizer que devamos relegar ao esquecimento as lutas contra certas formas de padronização ou coerção, esta arte, como dizia Foucault, “de não ser governado”. Com efeito, o Estado de bem-estar do pós-guerra pretendia reproduzir um certo modelo de família; e a Justiça, certos “perfis” criminais. Mas, por definição, qualquer política ― seja ela estatista ou neoliberal ― é normativa. E é bom desafiar esses dispositivos. Mas isso não quer dizer que é possível se desvencilhar da normatividade. Se decidirmos conceder a todos uma renda universal em vez de consultas médicas gratuitas, uma certa normatividade (que define determinados sujeitos por meio de certos “direitos sociais”) é substituída por outra (que faz da “escolha” individual no mercado a prioridade). Ainda assim, Foucault, nesse contexto do “antitotalitarismo” francês, geralmente associa esses dispositivos de padronização ao Estado e, por essa via, torna implicitamente o mercado um lugar onde a normatividade poderia ser mais facilmente subvertida.
Do mesmo modo como se pode encontrar em Foucault avanços importantes sobre o modo como, por meio de instituições como a previdência social ou a justiça, estaríamos nos atribuindo uma concepção específica de nós mesmos, também se pode reconhecer que ele ignora completamente a normatividade e a coerção do mercado. A seu ver, é essencialmente a política concebida através do modelo de supremacia, especialmente através da regra majoritária, que é o espaço da coerção e da normatividade. Os sinais de impessoalidade e descentralização do mercado tornam-se então uma alternativa sedutora para a deliberação política na medida em que parecem proteger as escolhas das minorias, precisamente por conta de sua ação supostamente “ambiental”. O que devemos perceber hoje é que a normatividade não é um problema em si. Qualquer configuração econômica e institucional é normativa. O importante é saber que tipo de instituições queremos. Em um livro recente, o filósofo Martin Hägglund escreveu com justeza que ser livre não é ser livre de restrições normativas, mas ser livre para negociar, transformá-las e desafiá-las; é ser capaz de construir instituições democráticas nas quais possamos definir coletivamente os padrões pelos quais se possa governar a sociedade. O mercado não oferece uma alternativa à normatividade, apenas o encolhimento do seu domínio para quem possui capital suficiente para se beneficiar das “escolhas” oferecidas por ele.
Notas
[1] N. do T.: “Gouvernementalité” é um conceito chave da obra tardia de Foucault e não deve ser traduzido pelos triviais “governabilidade” ou “governança”, pois diz mais sobre um esforço e projeto de regulamentação capilarizada da vida social que sobre a administração (de algum dos seus ramos) ou condições de possibilidade disso. Sobre o tema, veja-se, por exemplo: OLIVEIRA, Lorena Silva. 2019. “O conceito de governamentalidade em Michel Foucault”. Ítaca 34: 48-72 (UFRJ).
[2] André Gorz, “Occupons le terrain”, Le Nouvel observateur, n° 116, agosto de 1976, p. 23, apud: Serge Audier. 2015. Penser le “néolibéralisme”: Le moment néolibéral, Foucault et la crise du socialisme. Paris: Le bord de l’eau, p. 212.
[3] FOUCAULT, Michel [1977]. “Une mobilisation culturelle”. In: Dits et Écrits, texte n° 207. [N. do T.: Encontra-se no volume VIII (Segurança, Penalidade e Prisão) da edição brasileira de Ditos e Escritos (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012)].
[4] FOUCAULT, Michel [1979]. “Foucault étudie la raison d’État”. In: Dits et Écrits, texte n° 280. [N. do T.: Encontra-se no volume IV (Estratégia, Poder-Saber) da edição brasileira de Ditos e Escritos (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012)].
[5] N. do T.: Diga-se o mesmo de todas as agendas que se querem “ambiental e socialmente responsáveis”, já devidamente “precificadas” e comercializadas por meio de fundos ESG (Environment-Social-Governance). Afinal, o projeto em andamento do Grande Reset do capitalismo não se quer precisamente baseado ― na expressão recente do presidente e fundador do Fórum de Davos, Klaus Schwab ― em um “capitalismo de partes interessadas” (stakeholder capitalism)?
[6] N. do T.: Talvez a última dessas modas, particularmente emulada pelo casal Obama, seja o veganismo. No entanto, no texto original, o entrevistado cita, para um público implicitamente conhecedor do tema, o “mouvement colibris”. Sua face na Internet encontra-se no portal.
Fonte: https://outraspalavras.net/outrasmidias/foucault-e-a-infeliz-emancipacao-neoliberal/
Nenhum comentário:
Postar um comentário