Boaventura de Sousa Santos*
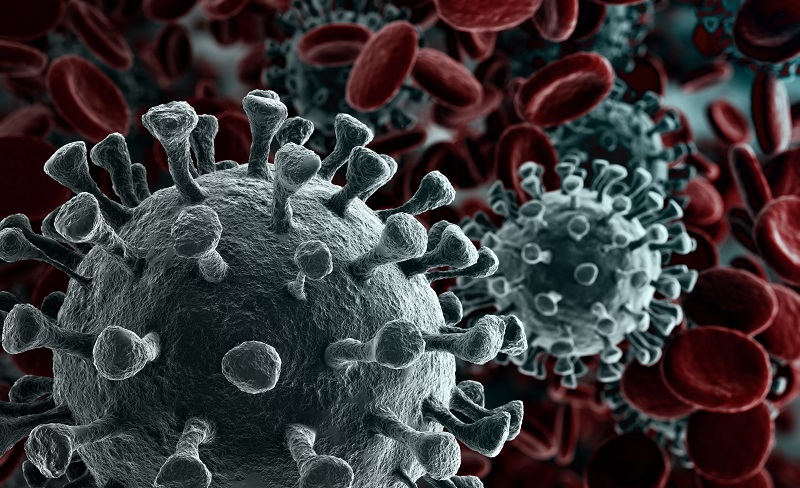
Coronavírus (imagem meramente
ilustrativa. Creativeneko/Shutterstock.com)
O coronavírus é nosso contemporâneo no sentido mais
profundo do termo. Não o é apenas por ocorrer no mesmo tempo linear em que
ocorrem as nossas vidas (simultaneidade). É nosso contemporâneo porque partilha
conosco as contradições do nosso tempo, os passados que não passaram e os
futuros que virão ou não. Isto não significa que viva o tempo presente do mesmo
modo que nós. Há diferentes formas de ser contemporâneo. O camponês africano é
contemporâneo do executivo do Banco Mundial que foi avaliar as condições de investimento
internacional no seu território.
Nos últimos cinquenta anos acumulou-se um
repertório extremamente diverso de problematizações da noção de
contemporaneidade. Muito diferentes entre si, todas essas noções têm vindo a
questionar as concepções dominantes de progresso e de tempo linear herdadas do
Iluminismo Europeu dos séculos XXVIII e XIX. Essas concepções buscavam reduzir
a contemporaneidade ao que coincidia com o modo de pensar e de viver das
classes dominantes europeias, tudo o resto sendo considerado resíduo ou lixo
histórico. O processo histórico que levou a pôr em causa esta concepção
estreita de contemporaneidade foi simultaneamente muito dramático e muito
esperançoso. Incluiu, por um lado, o colonialismo histórico e a partilha de
África, duas guerras mundiais e a bomba atômica e, por outro lado, as lutas de
libertação anti-colonial, o socialismo como alternativa ao capitalismo, os
movimentos sociais, a consolidação dos povos indígenas como sujeito histórico,
a expansão do imaginário democrático e as lutas pela diversidade sexual e
etnorracial, etc. De tudo isso, resultou uma constelação de concepções de
contemporaneidade que, apesar de muito diferentes entre si, convergiam em
superar a concepção estreita de contemporaneidade.
Para a construção da concepção ampla de
contemporaneidade contribuíram tanto o pensamento Norte-cêntrico e ocidental
como o pensamento Sul-cêntrico e oriental. Um tanto arbitrariamente saliento,
no primeiro, os trabalhos de Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst
Bloch, Michel Foucault, Reinhart Koselleck, Giorgio Agamben, Bruno Latour,
Johannes Fabian, Marx Augé. No segundo grupo, saliento os trabalhos de José
Carlos Mariátegui, Leopold Senghor, Mahatma Gandhi, Aimé Cesaire, Franz Fanon,
Amilcar Cabral, Joseph Ki Zerbo, Ngugi Wa Thiongo, Dipesh Chakrabarty,
Oyèrónkẹ́ Oyèwùmí, Silvia Rivera Cusicanqui, Enrique Dussel. Este segundo grupo
tem a virtualidade de incluir conhecimentos orais, anónimos, africanos,
indianos, indígenas, camponesas, feministas, populares, etc. É uma constelação
imensa de concepções entre as quais ainda está por fazer uma tradução
intercultural e diálogos ou ecologias de saberes e de temporalidades.
O que é característico da nova concepção de
contemporaneidade é uma visão holista sem ser unitária, diversa sem ser
caótica, que aponta em geral para a co-presença do antinômico e do
contraditório, do belo e do monstro, do desejado e do indesejado, do imanente e
do transcendente, do ameaçador e do auspicioso, do medo e da esperança, do
indivíduo e da comunidade, do diferente e do indiferente, e da luta constante
para procurar novas correlações de força entre os diferentes componentes do
todo. Da contemporaneidade passou a fazer parte a reinvenção permanente do
passado e a aspiração sempre incompleta do futuro de que são feitas as tarefas
que concebemos como “o presente”. Agentes sociais tão diversos como os artistas
e os povos indígenas foram mostrando que o presente é um palimpsesto, que o
passado nunca passa ou nunca passa totalmente e que olhar para trás e refletir
a partir das experiências acumuladas pode ser uma forma eficaz de encarar o
futuro.
É certo que durante muito tempo as epistemologias
do Norte procuraram suprimir, desvalorizar ou invisibilizar essa imensa
riqueza, mas progressivamente e à medida que as epistemologias do Sul foram
fazendo o seu caminho, foi-se tornando mais fácil adotar uma concepção ampla de
contemporaneidade. Como se deduz do anterior, esta concepção está bem
consciente das ideologias dominantes que a alimentam e dos modos modernos de
dominação econômica, social e política, sobretudo capitalismo, colonialismo e
patriarcado. Ser contemporâneo é estar consciente de que a grande parte da
população do mundo é contemporânea da nossa contemporaneidade pelo modo como
tem de a sofrer ou suportar.
Nesta ampla constelação de contemporaneidades o
novo coronavírus assume atualmente um valor híper-contemporâneo. Sermos
contemporâneos do vírus significa que não podemos entender o que somos sem
entender o vírus. O modo como o vírus emerge, se difunde, nos ameaça e
condiciona as nossas vidas é bem fruto do mesmo tempo que nos faz ser o que
somos. São as nossas interações com animais e sobretudo com animais selvagens
que o tornam possível. Espalha-se no mundo à velocidade da globalização. Sabe
monopolizar a atenção dos media como o melhor perito de comunicação social.
Descobriu os nossos hábitos e a proximidade social
em que vivemos uns com os outros para melhor nos atingir. Gosta do ar poluído
com que fomos infestando as nossas cidades. Aprendeu conosco a técnica dos
drones e, tal como estes, é insidioso e imprevisível onde e quando ataca.
Comporta-se como o 1% mais rico da população mundial, um senhor todo poderoso
que não depende dos Estados, não conhece fronteiras, nem limites éticos. Deixa
as leis e as convenções para os mortais humanos, hoje mais mortais que antes
precisamente devido à sua indesejada presença. É tão pouco democrático quanto a
sociedade que permite tal concentração de riqueza. Ao contrário do que parece,
não ataca indiscriminadamente. Prefere as populações empobrecidas, vítimas de
fome, de falta de cuidados médicos, de condições de habitabilidade, de proteção
no trabalho, de discriminação sexual ou etnorracial.
Ser indesejado não o torna menos contemporâneo. A
monstruosidade do que repudiamos e o medo que ela nos causa é tão nossa
contemporânea quanto a utopia com que nos confortamos e a esperança que ela nos
dá. A contemporaneidade é uma totalidade heterogênea, internamente desigual e
combinada. Considerar o vírus como parte da nossa contemporaneidade implica ter
presente que, se nos quisermos ver livres do vírus, teremos de abandonar parte
do que mais nos seduz no modo como vivemos. Teremos de alterar muitas das
práticas, dos hábitos, das lealdades e das fruições a que estamos acostumados e
que estão directamente vinculados à recorrente emergência e crescente
letalidade do vírus. Ou seja, teremos de alterar a matriz da contemporaneidade,
sendo certo que desta fazem parte as populações que mais sofrem com as formas
dominantes da contemporaneidade.
A híper-contemporaneidade do novo vírus assenta em
algumas características particularmente instigantes. Primeiro, o novo vírus
interpela tão profundamente a nossa contemporaneidade que é legítimo ver nele
uma mega fratura abissal, um novo Muro de Berlim. Um muro que desta vez não
separa dois sistemas sociais e políticos, mas antes dois tempos: o antes e o
depois do coronavírus. Saber se as mudanças serão para melhor ou para pior é
questão em aberto. Mas serão certamente significativas. O curto período do fim
da história parece ter chegado ao fim.
Segundo, o vírus converte o presente num alvo
móvel, constituído não apenas pelo que podemos fazer ou planear agora, mas
também pelo que de imprevisível nos pode acontecer. O presente-abismo
interpela, por exemplo, de modo radical as empresas seguradoras na área da
saúde. Se caminhamos para uma sociedade onde haverá cada vez mais riscos
inseguráveis, por que é que a proteção contra os riscos seguráveis não está a
cargo de quem nos protege quando os riscos inseguráveis se concretizam, isto é,
o Estado? Não será mais eficiente e mais justo pagar impostos do que pagar
prêmios de seguro?
Terceiro, o novo vírus dramatiza a medida em que o
passado arcaico faz parte do nosso presente, tal como defendeu Pier Paolo
Pasolini e, na esteira dele, defende Giorgio Agamben. Esse passado presente
reside na atração pelos animais selvagens enquanto símbolo do desconhecido,
pela apropriação e consumo ou domesticação do que nos é totalmente estranho e,
por isso, tão ameaçador quanto sedutor. O presente surge como história
anacrónica do tempo em que os animais eram, por definição, selvagens, e
constituíam tanto ameaças imprevisíveis, como troféus apetecidos. O vírus é um
reciclador que liga o presente a passados remotos.
Finalmente, o coronavírus exacerba a pulsão
apocalíptica (o presente como fim dos tempos) que tem vindo a ganhar terreno,
nomeadamente com a expansão das religiões fundamentalistas, tanto
judaico-cristãs como islâmicas. O apocalipticismo assenta na ideia de que mais
tarde ou mais cedo um acontecimento catastrófico global porá fim à vida terrena
tal como a conhecemos. No caso das religiões, o conhecimento exotérico em que
tal previsão se baseia é um conhecimento revelado pelos mensageiros da divindade.
Em algumas versões haverá uma luta entre o bem e o mal, e só os fiéis eleitos
se salvarão. Mas o apocaliticismo também tem uma versão secular. Trata-se de um
pessimismo histórico, por vezes moralista, por vezes nostálgico de um passado
íntegro, um pessimismo politicamente ambíguo, já que tanto pode ser vertido em
registro de extrema esquerda (algum anarquismo) como em registro de extrema
direita (mais comum nos últimos tempos). Pode ser lido em Dostoiévski,
Nietzsche, Artaud ou Pasolini.
O coronavírus presta-se à ideia de um apocalipse
latente, que não decorre de um saber revelado, mas de sintomas que fazem prever
acontecimentos cada vez mais extremos, a que se junta a convicção de que a
sociedade, por mais que se proponha corrigir o curso das coisas, acaba sempre
por seguir o caminho inelutável da decadência. A devastação causada pelo
coronavírus como que aponta para um apocalipse em câmara lenta. O coronavírus
alimenta a vertente pessimista da contemporaneidade e isso deve ser tomado em
conta no período imediatamente pós-pandémico. Muita gente não vai querer pensar
em alternativas de um mundo mais livre de vírus. Vai querer o regresso ao
normal a todo o custo por estar convencido que qualquer mudança será para pior.
À narrativa do medo haverá que contrapor a narrativa da esperança. A disputa
entre as duas narrativas vai ser decisiva. Como for decidida determinará se
queremos ou não continuar a ter direito a um futuro melhor.
------------------------------------
(*) Sociólogo,
diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Publicado
originalmente no jornal Público, de Portugal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário